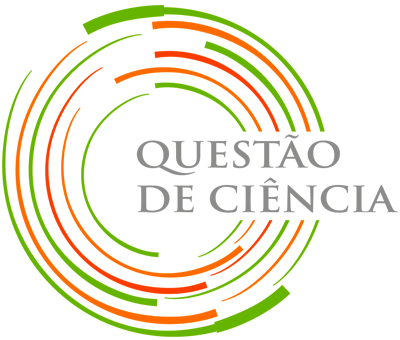Nas últimas décadas, tem crescido o interesse por visões e terapias que se apresentam como “alternativas” em oposição à chamada “ciência ocidental”. Para muitos de seus defensores, isso representa uma espécie de resgate de “outras epistemologias”, um ato de resistência contra uma hegemonia eurocêntrica. Um combate à opressão histórica que silenciou saberes de povos indígenas, africanos ou de grupos marginalizados.
A ciência, sob essa ótica, seria uma ferramenta de dominação colonial que varreu do mapa outros modos de explicar o mundo. Esse sentimento não surgiu do nada: não faltam exemplos nos quais a “ciência vigente” foi invocada como desculpa para legitimar o racismo, o sexismo e uma série de violências. Ainda assim, é preciso distinguir a crítica legítima a usos ideológicos da ciência de um ataque indiscriminado ao método científico em si. Ao misturar as duas coisas, corremos o risco de abrir espaço não para libertação, mas para novas formas de opressão.
De fato, o colonialismo, além de explorar as riquezas naturais dos territórios conquistados, desprezou, apropriou-se indevidamente ou destruiu culturas e saberes locais. O sociólogo Boaventura de Sousa Santos adotou o termo “epistemicídio” para descrever a supressão deliberada de sistemas de conhecimento não hegemônicos. Sob a justificativa de levar “progresso” e “ciência”, missionários e administradores coloniais desqualificaram práticas, rituais e visões de mundo indígenas e africanas, tratando tudo como superstição e atraso civilizatório.
Também dentro das sociedades ditas "ocidentais" há um histórico de abusos que ajudou a cimentar essa noção de “ciência opressora”. A eugenia de Francis Galton, no século 19, por exemplo, abriu caminho para políticas genocidas que se ampararam em teorias supostamente científicas sobre raças superiores e inferiores. A frenologia, com suas medições de protuberâncias cranianas, também sustentou o racismo e o sexismo ao rotular mulheres e não brancos como intelectualmente inferiores. Tais práticas não eram “erros inocentes” de uma ciência em estágio inicial, mas sim fraudes motivadas por interesses políticos ou preconceitos estruturais, ainda que apresentadas como "descobertas científicas".
Diante desses exemplos, não há surpresa que haja uma revolta contra a ciência praticada no ocidente. Contudo, ao mesmo tempo pode haver um romantismo e uma certa ingenuidade em relação a todo conhecimento que se apresente como “alternativo” ou “ancestral”, partindo da ideia de que, por terem sido suprimidos pela colonização, seriam automaticamente bons e verdadeiros. Nesse sentido, a recusa radical ao método científico passou a ser vista por alguns como um ato de resistência, abrindo espaço para práticas sem fundamentação, além de discursos que reforçam preconceitos sob uma nova roupagem.
Instrumentalização e método
Para dar um salto além do ressentimento histórico, precisamos separar a instrumentalização ideológica da ciência – quando ela foi manipulada para legitimar interesses de elites ou preconceitos arraigados – do que se pode chamar de ciência legítima. É claro que a ciência não é neutra: ela se desenvolve em contextos sociais e políticos, e seus caminhos de pesquisa podem favorecer grupos específicos, de acordo com valores e preconceitos de uma sociedade. Mas isso não significa que sua essência metodológica seja, por definição, “colonial” ou “eurocêntrica”.
Ao analisarmos casos como a eugenia ou a frenologia, vemos distorções nítidas do método científico. No século 19, antropólogos e médicos chegavam a falsear ou selecionar dados para “comprovar” que negros teriam crânios menos desenvolvidos. Eles não estavam fazendo pesquisa honesta e aberta a correções – estavam buscando confirmar preconceitos prévios.
Com o passar do tempo, estudos melhores expuseram as falhas e demonstraram a inconsistência dessa (pseudo)ciência racista. O mesmo ocorreu com terapias de “cura gay”, ou com as alegações de que a educação superior traria problemas reprodutivos para as mulheres. Em todos esses episódios, não foi o abandono da ciência que desmascarou as fraudes, mas justamente a insistência em métodos mais rigorosos, com dados mais amplos e análises menos enviesadas.
A crítica pós-colonial, portanto, mostra como o discurso científico foi mesclado a interesses colonizadores, perpetuando a inferiorização de povos não europeus. O método científico, contudo, não pressupõe premissas racistas ou colonialistas para ser empregado; estas entram em ação ao embasar o uso enviesado do verniz científico. Ao contrário, quando pesquisadores, situados em diferentes culturas, trocam dados e informações, repetem experimentos e tentam refutar hipóteses, não há “epistemicídio”, mas o exercício do ceticismo organizado que caracteriza a boa ciência.
Pseudociência e preconceito
De maneira geral, chamamos de pseudociência conjuntos de afirmações ou práticas que simulam uma aparência científica (usam jargões técnicos, citam estudos), mas que não se submetem aos princípios básicos de verificação ou de abertura ao ceticismo. A pseudociência se esquiva de possíveis refutações e distorce resultados para encaixá-los em sua narrativa. E, neste trajeto, pode conferir sobrevida a preconceitos (inclusive aqueles que a ciência legítima já refutou).
Este é o caso, por exemplo, do “racismo científico”: embora a biologia molecular mostre que não há base genética para hierarquizar grupos humanos em raças superiores ou inferiores, ainda surgem supostas “pesquisas” tentando correlacionar cor de pele e inteligência, usando amostras enviesadas ou técnicas estatísticas inadequadas. A comunidade científica séria condena essas pretensões, mas tais ideias ganham projeção em setores conservadores, que usam a retórica pseudocientífica para justificar desigualdades.
Além de alimentar preconceitos, a pseudociência pode trazer danos graves na área da saúde. Movimentos antivacina e negacionistas se apresentam como “contra a opressão de uma medicina autoritária”, mas acabam favorecendo surtos de doenças antes controladas, levando ao sofrimento de comunidades inteiras. Em tais casos, o encorajamento do relativismo radical (“cada tem a sua verdade”) serve apenas para afastar o uso de vacinas efetivas e exacerbar o impacto de epidemias – algo que atinge, sobretudo, populações mais vulneráveis.
Da mesma forma, práticas supostamente ancestrais ou alternativas que se vendem como “curas naturais” podem atrasar diagnósticos de câncer ou favorecer complicações em emergências (conforme denunciamos neste texto).
Demonizar não é o caminho
Em geral, a proposta de rejeitar a ciência convencional faz sucesso em grupos que discutem as injustiças históricas cometidas em seu nome. Contudo, essa “solução” tende a agravar problemas em vez de resolvê-los. Afinal, se tudo for apenas “narrativa” ou “construção social”, então as mudanças climáticas podem ser tidas como invenção, vacinas podem ser fruto de uma conspiração, e assim por diante. Não é por acaso que empresas que provocam danos ambientais ou fabricantes de tabaco patrocinaram “especialistas” para semear dúvidas sobre evidências científicas inconvenientes.
O próprio Bruno Latour, um dos pioneiros em estudos sociais da ciência, demonstrou surpresa ao ver que a crítica que ele ajudou a construir sobre fatos científicos serem socialmente construídos estava sendo usada por negacionistas do clima e conspiracionistas. Ou seja, quando abrimos espaço para o relativismo, abrimos também as portas para manipulações que nem sempre beneficiam as vítimas da opressão. Em grande parte, quem lucra com isso são grupos com acesso à mídia ou ao capital, que se apropriam do discurso “antiestablishment” para manter desigualdades ou evitar regulações que protejam o ambiente ou a saúde coletiva.
Um dos exemplos mais marcantes nesse sentido ocorreu no início dos anos 2000, no qual Thabo Mbeki, presidente da África do Sul, foi influenciado por negacionistas que questionavam o papel do HIV na AIDS e acusavam a indústria farmacêutica de promover “remédios tóxicos”. Sob o discurso de que os africanos deveriam se livrar da tutela colonial, Mbeki retardou a introdução de antirretrovirais no sistema público, resultando em mortes que poderiam ter sido evitadas, além da ampla disseminação do vírus. Isso exemplifica como a crítica mal direcionada à “ciência ocidental” pode ter consequências não intencionais desastrosas.
Como então evitar que a história se repita e que a ciência seja usada como escudo para ideologias excludentes ou interesses coloniais, sem descartarmos o próprio método científico e cairmos na armadilha do “vale-tudo epistêmico”? Uma resposta possível é o investimento em uma ciência aberta ao pluralismo de metodologias e perspectivas, mas ainda comprometida com a avaliação rigorosa de evidências. Não se trata de impor uma forma única de investigar a realidade, mas de manter parâmetros mínimos que permitam separar o que funciona do que não funciona, o que tem coerência interna do que não tem.
Para isso, é fundamental a representatividade de grupos historicamente marginalizados nos espaços de pesquisa. Quando mulheres, negros, indígenas, quilombolas e outras minorias participam ativamente na elaboração e condução de projetos científicos, surgem perguntas e enfoques diferentes, antes ignorados por uma academia mais homogênea. Esse movimento não anula os valores éticos e céticos do método científico, ao contrário: reforça a necessidade de controle adequado, de revisões por pares, de abertura de dados, para que eventuais achados sejam confirmados ou refutados de maneira transparente. Resgatam-se saberes populares que possam trazer soluções, mas não se aceita acriticamente qualquer discurso (afinal, certas práticas tradicionais podem perpetuar crenças ineficazes ou danosas e merecem revisão crítica).
Ciência e Justiça Social
Há numerosos exemplos de como a ciência, empregada com ética e transparência, auxiliou na desmontagem de mitos discriminatórios e sustentou lutas por equidade. Pesquisas genéticas refutaram a noção de raças humanas distintas e ofereceram base para políticas antirracistas que focam na questão social, e não em diferenças biológicas fictícias. Estudos epidemiológicos mostraram como determinantes sociais são cruciais na distribuição de doenças, pressionando governos a fornecer saneamento e infraestrutura em comunidades periféricas. Ensaios clínicos randomizados, longe de serem “colonialistas”, tornaram-se uma ferramenta para avaliar intervenções médicas, como vacinas, contribuindo para prevenção primária de doenças, inclusive em populações vulneráveis.
É claro que seria equivocado afirmar que a ciência, sozinha, pode garantir justiça social. Mas, sem ela, tampouco a justiça social pode ser alcançada. A retórica de “opressão científica” muitas vezes é explorada por discursos populistas que rejeitam evidências inconvenientes ao avanço de suas ideologias, à direita e à esquerda. Ao invés de promover emancipação, essa postura aprofunda desigualdades, pois retira da sociedade instrumentos para cobrar políticas baseadas em evidências.
Considerações finais
O crescimento das “visões alternativas” que acusam a ciência de ser opressora não se explica por simples ignorância ou ingenuidade. Há uma história real de colonialismo e racismo envolvendo esse rótulo de “científico”. Ao mesmo tempo, ver a ciência como responsável por preconceitos e questões estruturais que permeiam toda a sociedade da qual emerge e substituí-la por discursos relativistas não nos redime de injustiças históricas. Se quisermos responder às demandas decoloniais, é preciso manter instrumentos de verificação e correção de erros, sem abrir espaço à manipulação e ao preconceito disfarçados de “quebra de paradigma”.
A ciência, afinal, é uma construção humana em constante aperfeiçoamento. Pode ser capturada por interesses de poder, assim como pode ser usada para expor injustiças e oferecer soluções compartilhadas. Seu núcleo metodológico, que exige exposição de dados e verificação independente, não é, em essência, eurocêntrico ou opressivo – é uma prática de diálogo crítico que pode florescer em diferentes culturas, desde que haja liberdade e diversidade para questionar hipóteses. Combater a opressão, portanto, implica questionar como a ciência tem sido conduzida e por quem, mas não significa recusar a ideia de testar hipóteses e confrontá-las com a realidade. Jogar fora o método científico apenas nos priva da ferramenta mais eficaz para superar falsas hierarquias.
André Bacchi é professor adjunto de Farmacologia da Universidade Federal de Rondonópolis. É divulgador científico e autor dos livros "Desafios Toxicológicos: desvendando os casos de óbitos de celebridades" e "50 Casos Clínicos em Farmacologia" (Sanar), "Porque sim não é resposta!" (EdUFABC), "Tarot Cético: Cartomancia Racional" (Clube de Autores) e “Afinal, o que é Ciência?...e o que não é. (Editora Contexto).