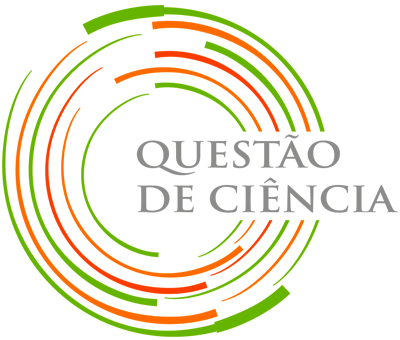Nos últimos anos a desinformação tomou o centro do debate público. E não é por menos. Notícias falsas influenciando eleições, mentiras deflagrando violência (política ou não), discursos enganosos corroendo a confiança na democracia e suas instituições, ou estudos fraudulentos alimentando a hesitação vacinal e outros comportamentos de risco para a saúde individual e coletiva são mesmo possíveis consequências preocupantes de sua disseminação.
Mas até que ponto a revolução da comunicação digital e a ascensão das redes sociais como fontes de informação agravaram estes problemas ainda é alvo de dúvidas entre os cientistas. O que não impede a também disseminação no discurso público de conceitos equivocados em torno da real exposição, impactos e suscetibilidade à desinformação nestes ambientes online, mostram dois estudos relativamente recentes.
No primeiro, um artigo de perspectiva publicado em junho do ano passado na prestigiosa revista científica Nature, um grupo de pesquisadores de diversas instituições americanas contesta afirmações comuns na imprensa e no debate público, de que a exposição à desinformação ou outros conteúdos prejudiciais é especialmente alta e crescente nas redes sociais, que esta exposição é amplificada pelos algoritmos destas redes e que está por trás de fenômenos como o aumento da polarização política ou o crescimento do movimento antivacina.
Segundo os pesquisadores, uma revisão da literatura científica, na verdade, indica um padrão de baixa exposição geral a conteúdos falsos ou "incendiários", concentrada em uma pequena parcela do público com fortes motivações para buscar por este tipo de conteúdo, e que a exposição à desinformação nas redes sociais em si não tem uma relação causal estabelecida com comportamentos como radicalização política ou hesitação vacinal.
Já o segundo estudo, uma meta-análise de pesquisas sobre suscetibilidade à desinformação, contraria noções comuns sobre o perfil demográfico de quem tem maior risco de acreditar em informações falsas, como pessoas com baixa escolaridade ou mais velhas. Publicado em novembro do ano passado no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), o levantamento abrangendo 31 experimentos com mais de 11,5 mil participantes não encontrou impacto significativo do nível educacional na capacidade de distinguir informações falsas de verdadeiras, e observou que as pessoas mais velhas na verdade são melhores que as mais jovens nisso.
Mas a meta-análise confirmou que o posicionamento político tem forte influência no risco de ser vítima da desinformação, com as pessoas mais propensas a acreditar em informações falsas que se alinhem à sua visão de mundo, especialmente as chamadas "conservadoras" ou "de direita". Já indivíduos com maior capacidade de pensamento analítico - isto é, melhores em avaliar logicamente a informação, identificar padrões e resolver problemas - foram as que tiveram melhor desempenho nesta diferenciação, apesar de algumas vezes se mostrarem excessivamente céticas, com uma maior tendência de apontar notícias como falsas, e também de apresentarem viés político na tarefa.
Debate enviesado
Embora não neguem os potenciais efeitos prejudiciais da disseminação de desinformação nas redes sociais, os autores da revisão publicada na Nature criticam o debate enviesado em torno do tema, que segundo eles mais atrapalha que ajuda nas discussões sobre regulamentação e responsabilização das empresas de tecnologia pelos conteúdos que circulam em suas plataformas. Eles dão como exemplo as eleições presidenciais de 2016 nos EUA, quando alegações de interferência da Rússia via mídias sociais chamaram a atenção do público e levaram à realização de audiências no Congresso americano, alimentando a crença de que estas ações influenciaram o voto de um grande número de eleitores.
De acordo com os pesquisadores, estudos posteriores mostraram que a exposição a estas alegações representou uma parte ínfima da "dieta" de informações dos eleitores americanos em geral e não foi associada a mudanças em suas atitudes ou comportamentos. Além disso, destacam, o foco exagerado do discurso público na possível persuasão em massa ignorou a forma tendenciosa como estes conteúdos circulam nas plataformas sociais, algo que a própria ação russa ajudou a revelar.
"A exposição a tuítes de contas de influência russa foi desproporcionalmente maior entre os republicanos e concentrada em um pequeno conjunto de usuários - apenas 1% foi responsável por 70% das exposições, e 10% responsáveis por 98% das exposições", citam de um dos estudos que revisaram. "Outros exemplos exibem um padrão similar: a exposição a conteúdos problemáticos é rara em geral, e fortemente concentrada em uma pequena minoria de pessoas que já têm pontos de vista extremistas".
Uma das razões para este foco exagerado, apontam os pesquisadores, é que mesmo ações limitadas em redes sociais com bilhões de usuários podem resultar em números aparentemente grandes, que acabam por chamar a atenção no debate público. Uma matéria de 2020 do New York Times, exemplificam, informa que um vídeo editado para prejudicar a imagem de Joe Biden foi visto mais de 17 milhões de vezes nas plataformas de mídia social, incluindo centenas de milhares de visualizações no Facebook e mais de 800 mil no YouTube.
Eles frisam que estas estatísticas parecem grandes, até que se leva em conta a escala das redes sociais. No Facebook, por exemplo, as 20 publicações mais populares nos EUA no primeiro trimestre de 2023 acumularam 776,3 milhões de visualizações, e ainda assim só representaram 0,04% do conteúdo visualizado pelos americanos na plataforma naquele período. Da mesma forma, o mesmo Facebook relatou que conteúdos produzidos por trolls russos alcançaram 126 milhões de cidadãos americanos às vésperas da eleição de 2016 na rede social, número que foi amplamente citado pela imprensa e usado em estudos sobre o assunto.
"Mas muito menos atenção foi dada a estimativa de que este conteúdo representou 0,004% do conteúdo que os cidadãos americanos viram em seus feeds de notícias do Facebook", ressaltam os pesquisadores. "Reconhecemos que estes números são enormes em termos absolutos, mas no contexto acreditamos que seus efeitos provavelmente são pequenos, dado que representam uma proporção minúscula do fluxo de informação total nas plataformas sociais. Citar estes números absolutos pode contribuir para uma má compreensão do quanto do conteúdo nas redes sociais é desinformação. Por exemplo, os cidadãos americanos estimam que 65% das notícias que veem nas redes sociais é desinformação".
Fenômeno similar acontece com a percepção da influência dos algoritmos das redes sociais na disseminação destes conteúdos. Novamente usando o New York Times como exemplo, os pesquisadores citam artigo de 2022 que começa afirmando que "é bem sabido que as redes sociais amplificam a desinformação e outros conteúdos prejudiciais". Segundo eles, afirmações generalizantes como esta ignoram um corpo crescente de estudos sobre a demanda do público por conteúdos falsos ou extremistas e o importante papel da própria mídia e de líderes políticos na disseminação de desinformação, além da maneira como as plataformas distribuem conteúdos.
Embora admitam que os efeitos dos algoritmos no que as pessoas veem nas redes sociais e nas suas ações e atitudes dentro e fora delas ainda não estão claros, os pesquisadores ressaltam que os estudos disponíveis - como um no qual usuários do Facebook e Instagram consentiram que seus feeds exibissem publicações em ordem cronológica no lugar de mediadas por algoritmos - tiveram resultados inconclusivos, com o algoritmo oferecendo mais conteúdo de fontes com posicionamento político similar ao dos usuários do que o feed cronológico, mas menos conteúdo de fontes não confiáveis. Além disso, os usuários com feeds cronológicos não demonstraram qualquer alteração no seu posicionamento político mesmo após três meses sob o experimento.
"Embora seja possível que uma intervenção mais prolongada tenha efeitos diferentes, estes resultados sugerem que os algoritmos tipicamente mostram para as pessoas conteúdos de contas que elas escolheram seguir ou conteúdos no qual indicaram interesse", avaliam. "Como resultado, os níveis de exposição (à desinformação) podem refletir mais as preferências das pessoas do que moldar suas preferências".
Por outro lado, destacam, dados de pesquisas comportamentais indicam que as pessoas que consumem grandes quantidades de conteúdos falsos e desinformação muitas vezes já estão mais interessadas nestes conteúdos e buscam-nos ativamente em diversos meios. Diante disso, eles argumentam que embora os algoritmos possam de certa forma influenciar direta ou indiretamente o que as pessoas veem nas redes sociais, as evidências de seus efeitos são limitadas e esses efeitos parecem ser muito menores do que os declarados no debate público sobre o assunto, que negligencia o papel da audiência no fenômeno.
Por fim, eles também veem exagero nas afirmações sobre os impactos da exposição à desinformação nas redes sociais nas ações e atitudes do público, e suas consequências negativas para a sociedade. Novamente, os pesquisadores recorrem ao questionamento do que vem primeiro, isto é, se é a desinformação online que influencia os comportamentos e atitudes no mundo real ou se a disseminação de desinformação que vemos online é apenas um reflexo da crescente adoção de práticas e atitudes deploráveis no mundo real, como o radicalismo político e o ativismo antivacina.
Dúvida que seria reforçada pela tendência humana em confundir correlação com causalidade. Eles destacam, por exemplo, que tanto a polarização política quanto o uso de redes sociais aumentaram nas últimas décadas, gerando a impressão que estes fenômenos caminham juntos numa relação causal. Mas estudos envolvendo a desativação de redes sociais dos participantes não encontraram efeitos mensuráveis na polarização política nos EUA e levaram a uma percepção mais positiva de integrantes de grupos políticos contrários na Bósnia.
Estudos que manipularam a experiência dos usuários nas redes sociais também tiveram resultados contraditórios, como um mostrando que o aumento da exposição a notícias de fontes favoráveis aos opositores diminuiu a polarização, mas outro que a redução na exposição a veículos alinhados com seu posicionamento político não teve efeitos nesta polarização. Outros dados chegam a sugerir que a causalidade vai na direção contrária à que costuma estar presente no debate público, isto é, que é a polarização que prediz como vai ser o uso das mídias sociais, e não que este uso leva à polarização.
Para ilustrar estas questões, eles citam a onda de protestos dos chamados gilets jaunes ("coletes amarelos") na França em 2018 e o aumento da hesitação vacinal nos últimos anos. No primeiro caso, falava-se que o movimento "nasceu no Facebook", enquanto no segundo está claro que os ativistas antivacina de fato se aproveitam das redes sociais para espalhar desinformação, dando a entender que os protestos e a grande queda na cobertura vacinal não aconteceriam do jeito que aconteceram se as plataformas de comunicação digital não existissem.
"Mas a questão causal de interesse exige considerar um contrafactual mais difícil: se as redes sociais como o Facebook provocaram os protestos violentos ou tornaram os movimentos antivacina mais severos ou prevalentes do que seriam em sua ausência", argumentam. "E a resposta para esta questão não está clara. A França tem uma longa história de protestos e manifestações que remontam à Revolução Francesa. Da mesma forma, o movimento antivacina moderno antecede a criação das redes sociais e data de séculos atrás, ao próprio advento das vacinas. Como estes exemplos demonstram, embora as mídias sociais possam alterar as escolhas estratégicas destes atores, sua existência não é uma condição necessária para que alcancem seus objetivos".
Mudança de enquadramento
Apesar disso, os pesquisadores reconhecem os potenciais riscos aos indivíduos e sociedade da crescente circulação de desinformação nas redes sociais, em parte pela suscetibilidade das plataformas digitais à exploração por atores mal-intencionados. Problema que também pode ter impactos indiretos, com a mera disponibilidade de desinformação nas redes sociais ajudando a minar a confiança do público na comunicação em geral. Processo agravado pelos exageros que apontam, o que torna ainda mais importante corrigir os conceitos equivocados sobre o tema no discurso público. Além disso, apontam, a crescente popularidade das redes sociais como fontes de notícias podem levar a mudanças no comportamento da mídia, com um aumento no sensacionalismo e na cobertura tendenciosa de temas de interesse da sociedade.
Diante disso, o grupo sugere uma série de ações e mudanças de enquadramento nas discussões sobre combate à desinformação nas redes sociais e regulamentação das plataformas. De início, eles defendem um maior foco das pesquisas na mensuração da exposição e avaliação dos impactos de conteúdos nas pontas da distribuição e entre grupos extremistas ou radicais, dado que estudos anteriores apontam uma ligação das mídias sociais com crimes de ódio e distúrbios sociais. Segundo eles, estas pesquisas podem ajudar na criação de intervenções mais eficazes para prevenir estes problemas e formas de responsabilizar as plataformas.
Outro ponto importante é encontrar maneiras de conter a demanda por conteúdos falsos ou extremistas e seu mau uso por lideranças políticas e outros atores, que frequentemente os disseminam muito além do que alcançariam diretamente online. Eles lembram que veículos tradicionais, em especial a televisão, ainda dominam as dietas de informação da população, o que faz com que sejam o principal mecanismo de exposição do público a alegações falsas, muitas vezes originadas pelas elites políticas.
"Tanto a pesquisa acadêmica quanto a sociedade civil devem reconhecer o papel que as elites e os veículos de mídia tradicional têm na disseminação de desinformação", concluem. "Da mesma forma, as plataformas digitais devem determinar como vão evitar que a desinformação destas fontes se espalhe mais efetivamente".
Cesar Baima é jornalista e editor-assistente da Revista Questão de Ciência