
Pelo menos desde a última quinta-feira, 16, circula entre jornalistas e cientistas brasileiros um documento em PDF que parece ser o preprint – a versão “quase final” de um artigo científico, supostamente submetida à revisão dos pares – do trabalho que descreve os resultados obtidos pelo grupo de medicina privado brasileiro Prevent Senior com um protocolo de tratamento de COVID-19 baseado em telemedicina (isto é, consultas remotas) e na perigosa combinação das drogas hidroxicloroquina (HCQ) e azitromicina (AZ).
Dizemos “parece” porque, até o momento em que escrevemos (manhã de sábado, 18), o documento não se encontra disponível em nenhuma das plataformas usuais de preprints dedicadas ao conteúdo relativo à nova pandemia. No entanto, jornalistas receberam nota oficial de divulgação da assessoria de marketing e comunicação do grupo médico, e representantes do Prevent Senior concederam entrevistas sobre o assunto – em todo esse material, já disponível ao público, o conteúdo é consistente com o que vemos apresentado no PDF.
A repercussão do aparente manuscrito na comunidade científica tem sido a pior possível. Especialistas em medicina baseada em evidências de renome internacional, como o oncologista americano David Gorski e o geneticista francês Gaetan Burgio, referiram-se ao material como “execrável” (“crappy”, no original) e “atroz”.
O desfecho descrito é necessidade de hospitalização: se tomarmos o trabalho pelo valor de face, ele mostra que o uso de HCQ e AZ em pacientes de COVID-19 reduz a necessidade de internação hospitalar. O valor real, no entanto, é muito menor do que o valor de face – tende, de fato, a zero.
As razões para isso são inúmeras, e para dar ao leitor uma visão panorâmica dos problemas que atingem o que parece ter sido uma desastrada operação de marketing de uma empresa que sentiu a necessidade de polir a própria reputação, além de promover a suposta eficácia da plataforma de telemedicina que oferece aos clientes, dividimos esta análise em seções que vão dos problemas éticos ao técnicos, e conclui mostrando que as falhas técnicas são, no fim, também falhas éticas.
Conflito de interesse
Há alguns anos, a Coca-Cola Company se viu alvo de duras críticas, algumas veladas, feitas pela comunidade científica e outras bem explícitas, na mídia, por financiar uma série de estudos que sugeriam que a falta de atividade física, e não o consumo excessivo de calorias (como, por exemplo, as calorias do açúcar presente em refrigerantes como os da Coca-Cola Company) era a principal responsável pela epidemia de obesidade que atinge os Estados Unidos.
A razão das críticas é a questão do conflito de interesse: é, no mínimo, suspeito que uma empresa pague para que cientistas investiguem uma hipótese cuja confirmação pode ter impacto positivo no marketing da companhia.
E isso acontece o tempo todo: recentemente, descobriu-se que um estudo sobre os “benefícios” do consumo “moderado” de álcool era bancado por fabricantes de bebidas. E qualquer médico, cientista ou farmacêutico digno do diploma lhe dirá que estudos financiados pela indústria farmacêutica tendem a favorecer o remédio ou tratamento sendo testado.
Esse favorecimento pode ser bem sutil – um leve exagero nos benefícios descritos, efeitos colaterais que são apresentados com um pouco menos ênfase do que seria de se esperar – mas é sistemático na literatura científica. Ele só muito raramente descamba para fraude deliberada, mas é algo que a comunidade científica precisa levar em conta sempre que um novo estudo sobre intervenções em saúde humana aparece.
É por isso que a boa prática científica requer que autores de estudos que afetam interesses comerciais declarem conflitos de interesse: basicamente, se você ou seu patrocinador tem algo a ganhar (ou perder) dependendo do resultado do trabalho, você precisa avisar a comunidade científica disso. Não fazê-lo acende todo tipo de sinal de alerta e é motivo para pôr em dúvida a integridade e as boas intenções dos envolvidos.
Se isso é verdade para estudos sobre dieta e obesidade conduzidos por pesquisadores independentes – muitas vezes, em universidades – mas com algum aporte financeiro de uma empresa como a Coca-Cola, o que dizer de um estudo conduzido dentro de uma empresa privada, por funcionários da empresa, com dinheiro dos clientes da empresa e testando o produto que a empresa vende, e do qual sua reputação depende?
No entanto, o manuscrito não traz nenhuma menção a conflito de interesse. De fato, o espaço reservado para declarações de conflitos diz, de modo muito explícito, que não há nenhum.

Informação de menos
Para determinar se uma terapia “T” é eficaz contra uma doença “D”, um primeiro passo obviamente necessário é determinar se as pessoas que estamos tratando com “T” realmente sofrem de “D”. Não faz sentido, por exemplo, dar um antitérmico para alguém que não está com febre e, meia hora depois, concluir que, se a pessoa não tem febre, o antitérmico funciona.
Essa necessidade óbvia, no entanto, escapou à equipe do Prevent Senior. Os pacientes envolvidos no estudo tinham “suspeita” de COVID-19, mas nenhum resultado de exame que confirmasse a presença do vírus. De fato, o manuscrito diz que o critério inicial de seleção para o estudo era a presença de “flu-like symptoms”, “sintomas semelhantes aos da gripe”. A presença desses sintomas era avaliada por consultas remotas.
A variedade de condições que produzem “sintomas semelhantes aos da gripe” talvez só não seja maior que o número de anjos que podem dançar na cabeça de um alfinete. Além da gripe propriamente dita, há resfriado, asma, excesso de poeira no ar, rinite, alergias várias, sinusite, um sem-número de infecções bacterianas e assim por diante. Em pacientes idosos e com comorbidades, como os clientes da Prevent Senior, a prevalência destes sintomas pode ser ainda maior.
Resumindo: o Prevent Senior não sabia o que estava tratando. Apenas conjecturava que parte dessas pessoas talvez estivesse contaminada pelo vírus SARS-CoV-2. Alguns pacientes passaram por tomografias de tórax, o que talvez pudesse ser visto como uma tentativa de aferir a plausibilidade da conjectura, mas as tomografias não foram feitas de modo consistente e o manuscrito não diz quando foram obtidas (se antes, durante ou depois do “estudo”).
Um representante da empresa declarou que os exames para detectar a presença do vírus demorariam muito para ser completados, e o objetivo do estudo era avaliar a eficácia da intervenção precoce.
Ninguém explicou, no entanto, por que os exames não foram feitos de qualquer forma, e seus dados integrados depois, na fase de análise dos resultados – seria, no mínimo, interessante saber se, dos vinte pacientes que acabaram internados (oito do grupo-tratamento, doze do grupo-controle), quantos realmente estavam infectados pelo vírus, e se estavam, qual era a carga viral, se precisaram de oxigênio, ventilação, UTI, etc.
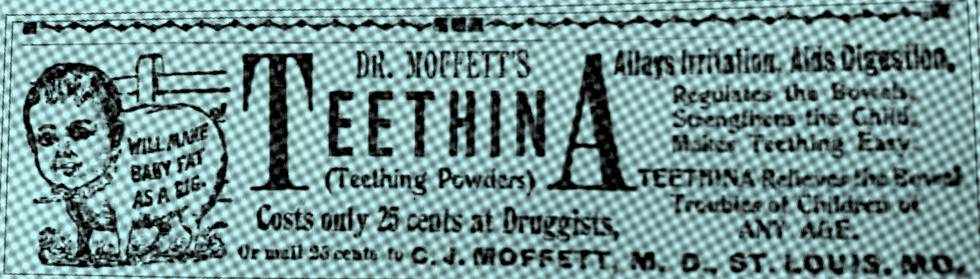
Informação demais
Se ninguém sabia o diagnóstico, todos sabiam quem estava recebendo a combinação HCQ+AZ e quem não. Cerca de 600 pacientes com os tais “flu-like symptoms” receberam a oferta de ter acesso às drogas; 400 disseram sim, 200 disseram não. Os 200 que disseram não foram usados como grupo-controle (não está claro se alguém fez a gentileza de avisá-los).
O manuscrito não diz se houve algum monitoramento da taxa de adesão ao protocolo – isto é, se alguém viu os pacientes tomando os remédios – o que já é um problema, mas está longe de ser o maior.
A questão é que, em princípio, todos, de pacientes às equipes de telemedicina que iriam decidir se eles precisariam ser internados ou não, tinham um forte investimento emocional (e, no caso das equipes da Prevent, interesse financeiro) em que o número de hospitalizações fosse o menor possível.
Do outro lado, as equipes que acompanhavam os pacientes-controle tinham o incentivo oposto. Para além de considerações egoístas (provavelmente de natureza inconsciente), se as equipes que acompanhavam os controles realmente acreditavam na eficácia da HCQ+AZ, era apenas natural que vissem os pacientes sem medicação como correndo maior risco, e fossem mais rigorosas na interpretação dos sintomas que poderiam levar à hospitalização.
Do lado dos pacientes que recebiam as drogas, o investimento emocional e o desejo de agradar os cuidadores – às vezes chamado de “Efeito Hawthorne”, o que nos leva a escovar os dentes com cuidado especial antes de ir ao dentista – também pode ter influenciado o resultado. É para evitar dificuldades desse tipo, além da exacerbação do efeito placebo, que os testes clínicos de melhor qualidade são dos chamados duplos-cegos, onde nem pacientes, nem cuidadores sabem quem recebe o tratamento e quem está no grupo de controle.
À falta de cegamento, soma-se a autosseleção: foram os próprios pacientes que escolheram fazer parte do grupo de tratamento. Em termos do controle do efeito placebo, isso é muito diferente do que o paciente que aceita ser randomizado – isto é, que concorda em ser designado, por sorteio, para o grupo que vai receber a droga ou para algum dos controles.
Não só o investimento emocional é de outra ordem, como uma condição fundamental para a validade de qualquer teste clínico – a de que os grupos comparados sejam o mais parecidos possível, diferindo, no caso ideal, apenas na natureza do tratamento recebido – se quebra por completo.
É possível, por exemplo, que parte dos pacientes que recusaram o tratamento tenha tomado a decisão por conta de problemas cardíacos ou histórico cardíaco na família – questões que os colocam num grupo de maior risco de complicações causadas pela COVID-19.
As tabelas fornecidas junto com o manuscrito indicam, por exemplo, que mais pacientes do grupo de tratamento entraram no estudo queixando-se de febre, tosse, coriza, diarreia e dor de cabeça. Talvez essas pessoas tenham aceitado as drogas por estarem assustadas. Mas se parte delas estava no auge de um resfriado comum, podem apenas ter sarado naturalmente no curso da pesquisa – resfriado, afinal, passa com repouso e canja de galinha.

Informação nenhuma
Uma das definições possíveis de “informação” é: aquilo que reduz nossa ignorância. Nesse aspecto, o estudo conduzido pelo Prevent Senior tem valor informativo zero. As eventuais dúvidas da comunidade médico-científica sobre a eficácia e a conveniência do uso de HCQ+AZ no tratamento da COVID-19 continuam exatamente como estavam. Nada foi agregado.
“Ruído”, por sua vez, pode ser definido como algo que ocupa espaço num canal de comunicação, mas não conduz informação: estalos e zumbidos num telefonema, chuvisco numa televisão, caracteres ao acaso no meio de um texto. O estudo Prevent Senior pode ser definido como ruído científico, o que, numa situação de pandemia, é condenável – já que consome recursos, tanto financeiros quanto cognitivos, que poderiam ser muito melhor aplicados.
Representantes do grupo médico têm tentado defender o resultado afirmando que fizeram “o melhor possível”. Se quisessem mesmo fazer o melhor possível, poderiam ter seguido princípios básicos de ética médica e registrado seu desenho experimental no site internacional de registro de testes clínicos, para que a comunidade científica pudesse opinar e até orientar sobre as graves falhas metodológicas.
Essa prática é uma praxe em estudos de medicamentos, justamente para respeitar a transparência da ciência, e para que os demais especialistas possam avaliar se o trabalho foi desempenhado de acordo com a proposta inicial: desvios entre o projeto registrado e o trabalho executado não são bem vistos. Infelizmente, o registro deste estudo do grupo médico foi feito após a elaboração e divulgação do manuscrito, e descreve um estudo bem diverso do apresentado.
Estudos clínicos controlados sobre medicamentos existem para tentar eliminar fatores de confusão que podem comprometer os resultados. O estudo Prevent Senior fez o oposto: gerou confusão com a desculpa de que qualquer tipo de informação é melhor do que nada. Qualquer turista que já tenha ido parar num bairro violento seguindo indicações falsas do GPS sabe que isso está longe de ser verdade.
Natalia Pasternak é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP, presidente do Instituto Questão de Ciência e coautora do livro "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)
Carlos Orsi é jornalista e editor-chefe da Revista Questão de Ciência e e coautor do livro "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)
