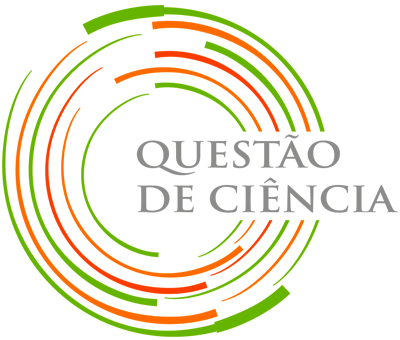A ideia de uma cura universal está arraigada em nossa cultura desde pelo menos a Antiguidade. Na mitologia grega, Panakeia era filha de Asclépio (ou Esculápio na mitologia romana) – o deus da cura – e carregava consigo um elixir capaz de tratar qualquer doença. Esse arquétipo tem nos acompanhado por milênios, variando sua forma conforme o contexto histórico, mas sem alterar sua essência.
Na Grécia e Roma antigas, plantas como o ginseng (cujo nome científico de seu gênero, Panax, deriva justamente de "panacea") eram celebradas por efeitos tidos como milagrosos. Na Idade Média, alquimistas buscavam o "elixir da vida", que não apenas curaria todas as doenças, mas também garantiria a imortalidade. Nos séculos 18 e 19, os "remédios patenteados" (do inglês patent medicine ou proprietary medicine) dominavam o mercado, prometendo resolver qualquer problema de saúde, mesmo sem qualquer evidência científica e na ausência de regulação sanitária.
O que essas manifestações culturais compartilham, além da promessa universal de cura, é que foram ideias ainda mais impulsionadas em momentos de vulnerabilidade, incerteza científica e angústia diante do sofrimento humano. O sonho da panaceia é, antes de tudo, um reflexo da nossa aversão à dor, do medo da morte e do desejo de controle em um mundo governado pela incerteza.
Um ciclo sem fim
Para entender a persistência das panaceias, podemos examinar alguns exemplos ao longo da história que seguem padrões similares. No fim do século 18, o médico americano Elisha Perkins patenteou os "tratores (ou extratores) metálicos": duas hastes de metal que, segundo ele, extrairiam o "fluido elétrico nocivo" do corpo ao serem passadas sobre a pele. Comercializados a preços altíssimos, os tratores prometiam curar desde dores de cabeça até doenças autoimunes, atraindo clientes abastados na Europa e América do Norte.
A ilusão foi desfeita em 1799, quando o médico John Haygarth realizou um dos primeiros testes com placebo documentados. Ele fabricou extratores de madeira pintados para parecerem metálicos e os usou em pacientes com dor. Os resultados? Quatro em cada cinco relataram alívio significativo, o mesmo “índice” obtido com os extratores "verdadeiros" e patenteados por Perkins. O experimento mostrou que os benefícios não vinham dos "metais secretos", mas das expectativas dos pacientes e da atenção que recebiam.
Quase na mesma época, Samuel Hahnemann inventava a homeopatia, baseada nos princípios de "semelhante cura semelhante" e das "diluições infinitesimais". Contrariando conhecimentos fundamentais de química, a homeopatia propõe que substâncias altamente diluídas – frequentemente a ponto de não conterem sequer uma molécula da substância original, ultrapassando o chamado limite de Avogadro – seriam “potentes” e capazes de tratar doenças, desde que preparadas segundo um ritual específico. Mesmo durante sua expansão inicial, a homeopatia sofreu críticas como as de Oliver Holmes (no ensaio “Homeopatia e Suas Ilusões Aparentadas" em 1842). Apesar da inconsistência com o conhecimento científico, esse sistema sobrevive até hoje, alimentado principalmente por relatos anedóticos.
Já no início do século 20, a descoberta da radioatividade inaugurou uma nova era de "curas milagrosas". Entre os produtos mais infames estava o Radithor, uma solução de sais de rádio em água destilada, comercializada nos anos 1920 como tônico rejuvenescedor. Sua vítima mais emblemática foi o industrial e atleta Eben Byers, que, seguindo recomendação médica após uma lesão, consumiu quase 1.400 garrafas do produto ao longo de vários anos. O resultado foi trágico: múltiplos cânceres induzidos pela radiação e necrose óssea severa, particularmente no maxilar, levando-o a uma morte dolorosa em 1932. Seu corpo foi enterrado em um caixão revestido de chumbo e, décadas depois, seus ossos ainda estavam significativamente radioativos.
Em um exemplo mais recente e igualmente perturbador, a Solução Mineral Milagrosa (MMS) tem sido promovida como cura para uma incrível variedade de condições, desde HIV/AIDS e câncer até autismo e, mais recentemente, COVID-19. Na realidade, a MMS é uma solução de clorito de sódio que, em ambiente ácido, produz dióxido de cloro - um poderoso agente oxidante usado industrialmente para branqueamento de papel e desinfecção de superfícies. Os efeitos adversos incluem náuseas, vômitos, diarreia, desidratação, queimaduras gastrointestinais, falência hepática aguda e insuficiência renal.
Apesar dos riscos, muitos aderem às alegações de "desintoxicação" e cura milagrosa. Postagens virais afirmam que a MMS "cura 95% das doenças conhecidas", embora não haja qualquer fundamento científico para isso. Devido à sua distribuição descentralizada e promoção agressiva online, a MMS continua sendo uma ameaça persistente à saúde pública.
E, claro, no Brasil, tivemos nossa versão institucionalizada de Panaceia: a pílula do câncer. Inicialmente sintetizada na década de 1970, a fosfoetanolamina foi posteriormente distribuída informalmente para pacientes com câncer na década de 1990, alegando-se que possuía propriedades antitumorais. A fixação sobre a fosfoetanolamina foi alimentada por descobertas laboratoriais preliminares que, em última análise, não resistiram a testes clínicos rigorosos. Não obstante, o composto adquiriu um status quase milagroso décadas depois, mobilizando pacientes, políticos e até esforços legislativos – apenas para se desdobrar em um fiasco científico e regulatório, incluindo relatos de cápsulas sendo vendidas sem qualquer composto ativo.
A história da ivermectina
Se quisermos um exemplo contemporâneo icônico da dinâmica das panaceias, a ivermectina é um caso fascinante. Este medicamento antiparasitário, derivado da avermectina (originalmente isolada da bactéria Streptomyces avermitilis), foi desenvolvido nos anos 1970 através de uma colaboração entre o Instituto Kitasato do Japão e os Laboratórios Merck nos Estados Unidos. Sua notável eficácia contra nematoides (vermes) e artrópodes (carrapatos, ácaros, piolhos, larvas de moscas) parasitas que afetam milhões de pessoas em regiões tropicais fez da ivermectina protagonista em programas de combate a doenças tropicais negligenciadas, como oncocercose (cegueira dos rios) e filariose linfática (elefantíase). Este impacto rendeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2015 aos pesquisadores Satoshi Ōmura e William C. Campbell.
O sucesso da ivermectina, associado à sua disponibilidade global, gerou um interesse crescente em seu potencial reposicionamento para outras aplicações. Centenas de estudos pré-clínicos exploraram supostas propriedades antivirais, anti-inflamatórias e antitumorais. Contudo, apesar de alguns resultados promissores em laboratório, nenhuma dessas indicações experimentais se traduziu em benefícios clínicos robustos e reproduzíveis em estudos bem controlados em humanos.
O ponto de virada na “trajetória panaceica” da ivermectina ocorreu durante a pandemia de COVID-19. Diante da emergência global, cientistas investigaram o reposicionamento de medicamentos existentes para identificar potenciais tratamentos eficazes contra o novo coronavírus. Nesse contexto, um estudo in vitro realizado por pesquisadores australianos sugeriu que a ivermectina poderia inibir a replicação do SARS-CoV-2. É necessário enfatizar que esse efeito antiviral foi observado apenas em condições laboratoriais artificiais, especificamente em culturas celulares isoladas. Além disso, exigia concentrações muito superiores às que podem ser atingidas no plasma humano com as doses convencionais do medicamento.
Apesar disso, os resultados se espalharam rapidamente pelas redes sociais e veículos não especializados, promovendo a ivermectina como uma "cura barata e eficaz para a COVID-19". Movimentos políticos e ideológicos rapidamente cooptaram e amplificaram essa narrativa. Para grupos já desconfiados das instituições médicas e governamentais, a ivermectina tornou-se um ponto de união simbólico contra o que foi enquadrado como "tirania sanitária".
No Brasil e em vários outros países, ela foi promovida como parte dos chamados regimes de "tratamento precoce", apesar da falta de evidências de apoio, e transformada em símbolo de resistência às vacinas e às medidas de saúde pública. Essa onda de desinformação ajudou a consolidar o status cultural da ivermectina como uma nova “panaceia”.
Mais recentemente, celebridades e figuras públicas alimentaram ainda mais esse frenesi. Por exemplo, em uma entrevista com o podcaster Joe Rogan, o ator Mel Gibson relatou histórias anedóticas de conhecidos supostamente curados de "câncer terminal" com ivermectina. Apesar da ausência de validação científica para tais alegações, a história viralizou, destacando a ivermectina como uma "cura oculta para o câncer" que estaria sendo supostamente suprimida por corporações farmacêuticas.
O poder da narrativa
Se a história está repleta de exemplos de panaceias que falharam, por que continuamos caindo na mesma armadilha? A resposta reside na combinação de narrativas persuasivas com nossas próprias vulnerabilidades cognitivas e emocionais.
Os tratamentos pseudocientíficos raramente se vendem apenas com base em suas supostas propriedades medicinais. Eles vêm embalados em narrativas que dialogam com a imaginação. Identificar esses elementos narrativos recorrentes ajuda a entender por que teorias sem fundamento ganham força.
Muitas pseudocuras são promovidas por meio da figura do "gênio incompreendido", um profissional de saúde ou cientista renegado que supostamente descobre uma cura milagrosa e trava uma batalha solitária contra o establishment para entregá-la ao povo. Ele é retratado como um herói altruísta, às vezes como mártir, perseguido por interesses ocultos.
Desafiando o protagonista heroico, há quase sempre um vilão, ou um antagonista coletivo: o próprio "establishment". Ele pode assumir a forma da indústria farmacêutica ("Big Pharma"), acusada de suprimir curas baratas e eficazes para proteger lucros, ou agências governamentais ou multilaterais (como FDA, Anvisa ou OMS) retratadas como corruptas ou incompetentes.
Além de cura milagrosa, a panaceia se apresenta como uma revelação de verdades ocultas ou suprimidas: "Eles [o establishment, Big Pharma, o governo] não querem que você saiba, mas... [ivermectina cura o câncer, MMS “cura” autismo etc]". Tais estruturas colocam o público no papel de "iniciados", ou seja, um pequeno grupo com acesso privilegiado a conhecimentos deliberadamente ocultados da maioria da população, que é “manipulada”.
Além disso, a própria comunidade científica pode ser retratada como vilã. Você já viu essa história em filmes e séries: o cético é, na melhor das hipóteses, um ignorante e, na pior, um cúmplice da repressão institucional. Assim, a história se fecha sobre si mesma. A dúvida se torna prova de perseguição.
Para reforçar tudo isso, em vez de apresentar dados estatísticos robustos de estudos clínicos, os promotores divulgam relatos anedóticos vívidos: "Veja fulano, abandonado pelos médicos, recebeu um prognóstico terminal, usou a Terapia X, e agora está curado/recuperado". Essas histórias personificam esperança e funcionam como coadjuvantes da narrativa maior de cura milagrosa.
Vulnerabilidades
Não é apenas a estrutura narrativa que sustenta o poder sedutor das panaceias, mas o diálogo que essas narrativas estabelecem com nossas emoções, desejos e vieses. A tendência humana de buscar, interpretar e lembrar seletivamente informações que apoiam nossas crenças ou hipóteses pré-existentes, enquanto descartamos evidências contraditórias, é um dos principais combustíveis para a crença em tratamentos pseudocientíficos.
Somado a isso, admitir que uma promessa de cura na qual se investiu tempo, dinheiro, esperança e até identidade era falsa pode ser muito custoso, do ponto de vista psicológico e emocional. Para reduzir esse desconforto, muitas vezes redobramos a aposta em vez de reavaliar a crença. Além disso, somos programados para inferir ligações causais lineares entre eventos consecutivos: se uma coisa aconteceu logo depois de outra, a intuição nos sugere uma relação de causa e efeito entre ambas. Se alguém se sente melhor após um tratamento – seja ele qual for –, sentimo-nos inclinados a pensar que a intervenção causou a melhora, ignorando todas as outras possibilidades.
A história de vida também tem um papel importante nisso: aquilo que nos causa impacto, independente de ser um evento raro ou improvável, fica marcado na memória e, portanto, exerce influência maior do que probabilidades abstratas ou dados em nível populacional. E, claro, o medo (da doença, morte, dor ou efeitos colaterais de tratamentos convencionais) e a esperança (de cura, alívio ou sensação de controle) funcionam como catalisadores.
Todas essas questões individuais são amplificadas pelo ambiente digital. Algoritmos de recomendação em plataformas de mídia social e mecanismos de busca tendem a criar “câmaras de eco”, nas quais os usuários são predominantemente expostos a conteúdos que se alinham com suas visões preexistentes, reforçando o viés de confirmação. Isso pode gerar uma falsa impressão de consenso ou opinião majoritária, mesmo quando a crença é minoritária.
Com o tempo, bolhas acabam transformando crenças pseudocientíficas em identidades sociais, culturais e políticas. Nesse sentido, endossar certas terapias alternativas ou rejeitar intervenções convencionais (como vacinas) se torna também símbolo de pertencimento comunitário. Isso dificulta a disposição em mudar de ideia frente às evidências, já que a mudança pode ser vista como uma traição social, potencialmente levando o indivíduo ao isolamento.
Lições
A atração duradoura das panaceias não pode ser explicada apenas por suas promessas terapêuticas. O que sustenta sua vitalidade cultural é a confluência complexa entre narrativa, realização emocional, vulnerabilidade cognitiva e contexto sociopolítico.
Para enfrentarmos a proliferação da crença em pseudocuras em cenários contemporâneos, não é suficiente contrapor alegações apenas com dados. O que se requer é um engajamento que reconheça a complexidade das histórias em que as pessoas acreditam, as necessidades emocionais que essas histórias satisfazem e as condições estruturais que tornam tais narrativas convincentes.
Reconstruir a confiança na Ciência exige transparência e responsabilidade, mas exige também empatia e a capacidade de contar histórias melhores e mais verdadeiras. Panakeia, a filha de Asclépio, talvez nunca tenha deixado de nos acompanhar. Hoje, ela veste jalecos impecáveis, discursa em vídeos virais e promete curas em comprimidos duvidosos. Seu elixir nunca foi real, mas o desejo por ele, sim. Somente tornando mais visíveis as estruturas recorrentes que sustentam essas promessas é que poderemos, talvez, enfraquecer o encantamento que elas ainda exercem.
André Bacchi é professor adjunto de Farmacologia da Universidade Federal de Rondonópolis. É divulgador científico e autor dos livros "Desafios Toxicológicos: desvendando os casos de óbitos de celebridades" e "50 Casos Clínicos em Farmacologia" (Sanar), "Porque sim não é resposta!" (EdUFABC), "Tarot Cético: Cartomancia Racional" (Clube de Autores) e “Afinal, o que é Ciência?...e o que não é. (Editora Contexto).