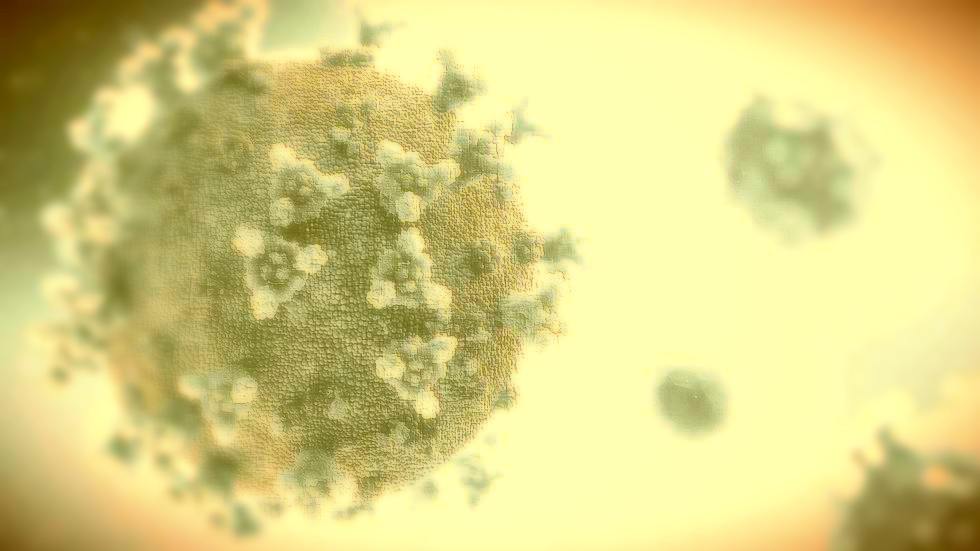
Desde o início da pandemia de COVID-19, espalhou-se a ideia de que a crise sanitária acabaria quando chegássemos a uma chamada imunidade “de rebanho” ou “coletiva”, um cenário em que tanta gente já foi infectada pelo vírus, ou vacinada contra ele, que o SARS-CoV-2 teria dificuldades em encontrar pessoas ainda suscetíveis, efetivamente interrompendo as cadeias de transmissão. De fato, esta é a teoria, mas a prática, como sempre há de ser, é bem diferente. Nem a vacina, e muito menos a infecção, garantem proteção completa contra o vírus, e tampouco impedem totalmente sua transmissão em caso de reinfecção. Isso sem contar o sempre presente risco de surgimento de variantes com diferentes graus de escape imune ou vacinal, maior quanto mais o vírus circula e tem oportunidades de mudar, o que volta a ampliar a população suscetível e o mantém em circulação.
Ideia que também já se mostrou desastrosa como política pública de enfrentamento da pandemia, seja de maneira oficial, como na Suécia, ou dissimulada, como no Brasil do governo do presidente Jair Bolsonaro, conforme deixou claro o relatório final da recente CPI no Senado sobre o assunto. No caso sueco, a estratégia resultou em 1.577 mortes confirmadas por COVID-19 a cada milhão de habitantes até 3 de fevereiro de 2022, taxa seis vezes maior que a da vizinha Noruega e mais do dobro da também vizinha Dinamarca. E, no do Brasil, numa verdadeira tragédia nacional, com seus mais de 630 mil mortos até agora, aproximando-se de uma taxa de 3 mil vítimas para cada milhão de habitantes, entre as mais altas do mundo e das maiores entre os países mais populosos do planeta.
Apesar disso, a (má) ideia voltou a ganhar destaque nas últimas semanas com a emergência da variante ômicron. Altamente transmissível – estimativas apontam até quatro vezes mais que a delta, “variante de preocupação” anterior do SARS-CoV-2 que já era muito mais transmissível que o vírus original -, a ômicron se espalhou rapidamente pelo mundo, e hoje responde, por exemplo, por mais de 95% dos genomas sequenciados de infecções no Brasil. Conjugado com a (falsa) impressão inicial de que a ômicron também produziria infecções menos severas que as variantes anteriores, imaginou-se que sua ampla disseminação acabaria por acelerar a chegada à dita imunidade de rebanho, e o consequente fim da pandemia, com alguns especialistas e autoridades chegando até a classificá-la equivocadamente como um “presente de Natal”.
Ledo engano, e por muitas razões. A primeira, e mais trágica, é justamente a falsa noção inicial de que a infecção pela ômicron seria mais “leve”, e por isso não haveria muito problema em deixar a variante circular, com algumas pessoas cogitando ou mesmo procurando ativamente se contaminar para “se imunizar”. Embora estudos recentes indiquem que a ômicron de fato costuma resultar em doença menos severa do que a delta, ela ainda é potencialmente tão fatal quanto outras variantes e o vírus original, e bem mais que uma “gripezinha”, em especial para pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto, imunocomprometidas, com comorbidades ou mais frágeis, o que inclui um enorme contingente de idosos e crianças.
Assim, seguindo à risca a tendência de ondas anteriores, estamos vendo o contágio com o “presente de Natal” (dia zero) gradualmente se traduzir em uma explosão de casos (após uma/duas semanas) que logo se traduziu em um aumento de internações (após três ou quatro semanas) e mortes (de cinco a seis semanas após a variante ser declarada "bem-vinda"), com o Brasil voltando a ultrapassar a nefasta marcar de mil óbitos por dia na sexta-feira 4 de fevereiro – mostrando que não é coincidência terem se passado exatos 41 dias (quase seis semanas) das festas de fim de ano. Isso sem contar o fato de que ainda não houve tempo hábil para verificar a capacidade da ômicron de levar a sequelas de longo prazo, a chamada “Covid longa”, mesmo quando os sintomas iniciais são leves ou moderados.
Outra razão é a habilidade de variantes do vírus – demonstrada pela própria ômicron – de “driblar” o sistema imune, reinfectando pessoas que já contraíram outras cepas e até as com esquema vacinal completo, nas chamadas breakthrough infections. Uma das premissas mais importantes de toda ideia de “imunidade de rebanho”, seja pela infecção natural ou pelas vacinas, é uma redução drástica da população suscetível, com as pessoas teoricamente “imunizadas” contra o vírus atuando como “barreiras” que impedem sua disseminação, protegendo os ainda suscetíveis. Este escape imune não só derruba estas “barreiras” como amplia o campo de disseminação da ômicron, dificultando a interrupção das cadeias de transmissão.
As vacinas disponíveis até agora têm se mostrado capazes de, na maioria das vezes, evitar a evolução da doença para quadros graves ou óbitos, mas sua capacidade de impedir infecção vem sendo desafiada pela multiplicação de variantes, facilitada pela presença de um grande número de pessoas não-vacinadas.
Outro problema é a aparente baixa capacidade da ômicron de gerar uma resposta imune robusta ao SARS-CoV-2, como aponta estudo ainda sem revisão por pares, incluindo à reinfecção pela própria cepa, com relatos de crianças no Reino Unido sendo reinfectadas apenas 30 dias após a infecção original com a variante. “Em conjunto, nossos resultados sugerem que uma imunidade induzida pela ômicron não seria suficiente para prevenir a infecção por outra variante mais patogênica (isto é, que causa doença mais grave) que surja no futuro”, resumem os autores do estudo ainda em preprint. Diante disso, a (má) ideia de deixar a ômicron circular livremente de forma a construir uma “imunidade de rebanho” a partir da infecção viral perde totalmente o sentido, não passando de um castelo de areia que ruirá à primeira nova subida da maré de infecções pela mesma, novas ou até anteriores variantes.
E aí está também outra falha grave desta estratégia temerária. Ao longo dos mais de dois anos de pandemia, o SARS-CoV-2 deixou clara sua capacidade de produzir variantes. E quanto mais o vírus circular, mais oportunidades ele terá de mudar. Identificada não faz nem três meses, a ômicron, por exemplo, já gerou uma subvariante ainda mais transmissível, designada BA.2, que como a cepa original rapidamente se espalhou pelo mundo, e já chegou ao Brasil. Como observou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, “é perigoso presumir que a ômicron será a última variante e que estamos no fim do jogo”.
Pior ainda, porém, é o risco desta alta circulação levar ao surgimento de variantes mais letais e/ou com maior escape imune e vacinal do SARS-CoV-2. Outra noção equivocada que se espalhou junto com a ômicron foi a de que os vírus tendem a evoluir para se tornarem menos patogênicos, ou seja, provocarem doença mais leve. Não foi o que aconteceu, no entanto, ao longo dos séculos que vírus como os da varíola, poliomielite e sarampo assolaram a Humanidade, nem com outros que emergiram mais recentemente, como o HIV, causador da aids.
“Os vírus não evoluem inevitavelmente para se tornarem menos virulentos; a evolução simplesmente seleciona aqueles que se destacam na multiplicação. No caso da COVID-19, em que a vasta maioria da transmissão ocorre antes de a doença agravar, severidade reduzida não deve nem ser fator direto de seleção. De fato, variantes anteriores do SARS-CoV-2 com maior transmissibilidade (por exemplo, alfa e delta) parecem ter uma severidade intrínseca maior que suas antecessoras imediatas e variantes dominantes anteriores”, lembram autores de artigo sobre os desafios para avaliar a severidade da infecção pela ômicron que aponta que, apesar de menos severa que a delta, ela pode ser tão grave quanto o vírus original e a alfa.
A verdade é que não dá para prever como um vírus vai evoluir, como resumiu Natalia Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência e publisher da Revista Questão de Ciência, em recente coluna no jornal O Globo:
“O que é crucial para o vírus é se transmitir – o que acontece com o hospedeiro depois disso é irrelevante”, escreveu. “No caso do SARS-CoV-2, não há nenhuma pressão seletiva para reduzir virulência. Isso pode acontecer ao acaso, e seria muito bom, mas não existe vantagem evolutiva. O vírus transmite-se na fase assintomática, muito antes da pessoa adoecer ou morrer. Para o coronavírus, tanto faz o que acontece com você depois que ele pulou para o hospedeiro seguinte. Ele também apresenta reservatório animal. Assim, não existe razão para imaginar que um vírus vá evoluir para ser assim ou assado”.
Diante disso, resta controlar o otimismo e manter a vigilância, reforçando a necessidade de continuar com medidas como o uso de máscaras e evitar aglomerações. Sim, a pandemia eventualmente vai chegar ao fim, mas não será de um dia para o outro, muito menos com o contágio em massa da população. Do contrário, corremos o risco de ver surgir uma variante que, no pior dos cenários, nos jogue de volta à situação de março de 2020.
PS: Agora à frente do Ministério da Saúde da Alemanha, o autor da frase infeliz classificando a variante como um “presente de Natal”, Karl Luterbach, diz que “é importante não subestimar a ômicron”. “Estudos sugerem que uma pessoa pode ser novamente infectada relativamente pouco tempo depois de uma infecção. Proteção de longo prazo como com a delta é pouco provável. Infecções repetidas não são sem riscos”.
Cesar Baima é jornalista e editor-assistente da Revista Questão de Ciência
