
Tudo que eu digo, acreditem,
Teria mais solidez
Se, em vez de carioquinha,
Eu fosse um velho chinês.
Millôr Fernandes (1954)
Li estes versos de Millôr Fernandes (1923-2012) ainda na adolescência (para quem estiver interessado, no volume de “poemeus”, como ele dizia, “Papáverum Millôr”, edição do saudoso Círculo do Livro), e me lembro de, depois de rir, ficar transido, como se fulminado por um raio; eu não tinha como saber na época, mas acabara de ter, ainda que de forma vaga, meu primeiro contato com o conceito de autoridade epistêmica — a ideia de que, quando aceitamos algo que nos dizem, aceitamos por alguma razão. E que a necessidade de refletir sobre essa razão é algo que negligenciamos por nossa própria conta e risco.
Trata-se, infelizmente, de uma negligência comum, disseminada — pandêmica? — cujo preço fica bem claro no momento atual. Ela se manifesta não apenas quando baseamos decisões em crenças que adotamos de modo automático, sem considerar as razões, mas também quando levamos em conta as razões erradas. Hoje em dia, é muito fácil caricaturar a questão (“áudio do Zap não é fonte!”), mas isso não muda os fatos de que, primeiro, ainda tem muita gente levando áudio de Zap a sério e, segundo, o universo das razões erradas é muito mais amplo e insidioso do que a maioria de nós imagina.
Essa é uma questão de fundo que passa despercebida por muita gente: por exemplo, quando publicamos, aqui na Revista Questão de Ciência, um editorial condenado o ensino de pseudoterapias “quânticas” em universidades públicas e associando a complacência histórica do sistema de ensino de saúde com “práticas alternativas” à disseminação do infame “kit covid”, algumas pessoas ficaram intrigadas — como se estivéssemos misturando alhos com bugalhos. Mas não é o caso.
O cosmético e o real
Não se trata de negar as diferenças formais, afetivas e culturais entre, digamos, cloroquina e homeopatia. Um é um fármaco “medicamentoso”, “químico”, que visa “a doença”. O outro é um sistema “sutil”, “holístico”, que visa “a saúde integral” — ou, ao menos, é o que o departamento de marketing diz. Um é visto como parte da “biomedicina ocidental”, um produto de “tecnociência”. O outro, embora tenha sido inventado por um médico alemão há menos de trezentos anos, no rescaldo do Iluminismo, é tratado como “conhecimento tradicional”, e volta e meia aparece associado à “sabedoria oriental”.
As diferenças antropológica e de técnica de venda são fascinantes, sem dúvida, mas do ponto de vista pedagógico — da formação dos profissionais de saúde — e epistêmico, não passam de cortina de fumaça. Há uma semelhança essencial que não pode, não deve ser ignorada: ambas são terapias baseadas em razões extremamente ruins, e ao treinarmos médicos para fazer vista grossa a isso no segundo caso, fazemos com que fiquem no ponto para ignorar a verdade inconveniente, também, no primeiro.
Alguém aqui ainda poderia insistir que, como se trata de “paradigmas diferentes”, o que conta como “boa razão” em um pode não contar no outro. Esse papo dos “paradigmas” é só mais uma manobra diversionista (detalhes, aqui), mas vamos pular essa parte, neste momento, e cortar um pouco mais perto do osso da questão.
La garantía soy…
Na ausência de testes clínicos bem conduzidos de segurança e eficácia, o que temos para justificar — que razão podemos dar — em favor do uso de cloroquina para COVID-19, ou de homeopatia para qualquer coisa? São razões de natureza puramente narrativa e perfeitamente paralelas em ambos os casos, a saber:
A obra e a reputação de um “gênio” fundador (Didier Raoult num caso, Samuel Hahnemann no outro);
A “experiência vivida” dos praticantes convictos (cloroquiners num caso, homeopatas no outro);
Os depoimentos de pacientes satisfeitos que atribuem suas melhoras à terapêutica em questão (cloroquina num caso, homeopatia no outro).
Ajuda também (embora não seja de rigueur) se houver uma mitologia particular “explicando” porque aquilo “funciona”.
Alguém poderia levantar a mão e interpor que o paralelo é injusto porque a plausibilidade prévia da homeopatia é muito menor: a cloroquina, ao menos, é uma molécula biologicamente ativa, não só água ou lactose.
Mas isto só piora o quadro! A tolerância a terapias alternativas no sistema de saúde, e no ensino de saúde, inculca a ideia de que esses critérios mítico-narrativos (que chamarei, a partir de agora, em homenagem a Millôr Fernandes, de “Paradigma do Carioquinha Chinês”) são razões boas o suficiente para justificar técnicas de plausibilidade zero; quanto mais, então, quando a prática em questão “soa” (mesmo sem realmente ser) mais plausível?
Não que o Paradigma do Carioquinha Chinês seja de todo inútil: mas o fato de uma proposta terapêutica encaixar-se nele deve representar, no máximo, um ponto de partida para investigação, jamais validação plena ou endosso incondicional.
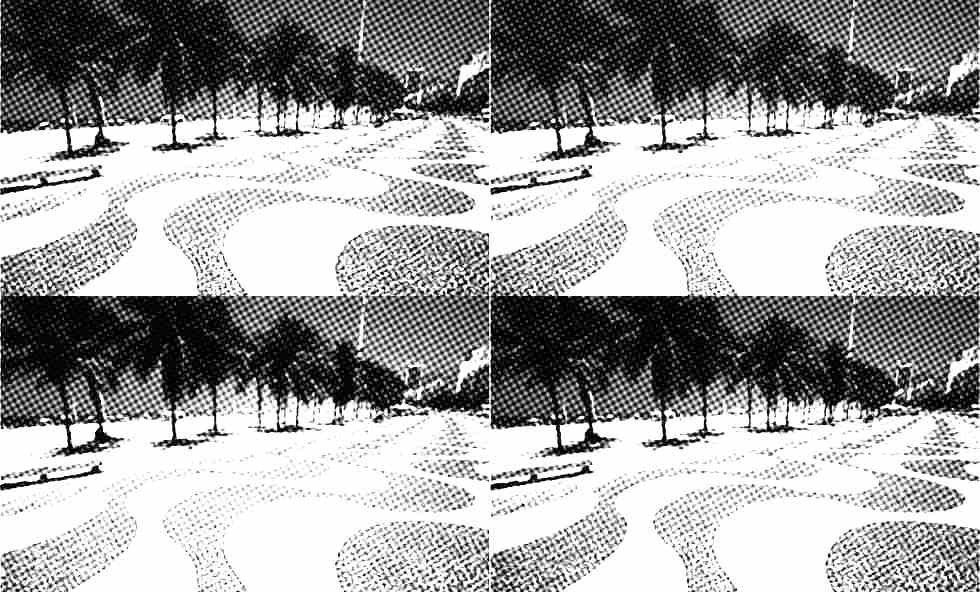
Num contexto adequado — na presença de plausibilidade razoável e na ausência de forte evidência contrária — esse paradigma representa uma boa razão para conduzir estudos, e pode até guiar ações e condutas, se não houver razões mais fortes apontando um rumo diferente. Mas jamais será razão suficiente para ignorar a existência de evidência contundente de que o Carioquinha Chinês, pelo menos neste caso, falou bobagem.
Direitos e deveres
Falando em leituras marcantes, há anos que sou fascinado pelo conceito de “direitos epistêmicos”, a ideia de que crenças, alegações e reivindicações de conhecimento são regidas por algo semelhante a um sistema de direitos e deveres: o que me dá o direito de esperar que as pessoas acreditem no que eu digo? Que deveres devo cumprir antes de tentar convencer alguém de que estou certo?
Método científico, assim como técnica (e ética) jornalística, podem ser vistos como tentativas imperfeitas e parciais de responder a essas questões. A respeito disso, o postulado de William Clifford (1845-1879) em “A Ética da Crença” é um ponto de partida inescapável:
“Em resumo: é errado, sempre, em todo lugar, e para qualquer um, acreditar em algo com base em evidência insuficiente”
Mas acontece que muitos anos atrás eu havia encontrado uma formulação um pouco mais ampla, num ensaio de um filósofo, e por mais que tentasse não conseguia me lembrar de qual ensaio (e nem de qual filósofo). Finalmente, nesta semana, graças a um pente-fino no Kindle, reencontrei a passagem. Pertence ao americano Keith M. Parsons, no ensaio Some Contemporary Theistic Arguments (“Alguns Argumentos Teístas Contemporâneos”), em “The Cambridge Companion to Atheism”, de 2007. O trecho mais marcante é o seguinte:
“Ser racional significa que temos certos deveres em relação a nossas crenças — incluindo o dever de fazer o máximo para baseá-las em evidência adequada e não nos agarrarmos a elas, teimosamente, quando são desacreditadas. Se eu violo um dever epistêmico ao manter uma crença, então estou sendo irracional”.
Aqui seria possível sair numa tangente infinita sobre o conceito de racionalidade — se o critério de “racional” foi o de adequação de meios a fins, manter crenças falsas pode ser racional em certos contextos (acreditar que Jair Bolsonaro é um bom presidente é adequado e, portanto, racional, para quem deseja um cargo no governo, digamos). Mas Parsons está tratando de racionalidade num sentido mais geral e impessoal — numa dimensão ética, como Clifford.
Boas razões
Se estamos dispostos a olhar para o lado e murmurar platitudes sobre “paradigmas” ou “pluralidade dos modos de saber” enquanto nossos médicos, enfermeiros e gestores públicos da área de saúde são doutrinados a considerar o Paradigma do Carioquinha Chinês razão boa o suficiente para ignorar a melhor evidência científica, não deveríamos nos espantar com inalações de cloroquina e overdoses de vermífugo.
A separação entre o que é “medicamentoso tecnocientífico” e o que é “holístico tradicional” pode ser frutífera em alguns cenários — da análise social, antropológica e, até, econômica. Mas, cortando mais uma vez bem junto ao osso, ao fim e ao cabo ambas as categorias contemplam reivindicações de um mesmo direito epistêmico, configuram alegações de conhecimento a respeito do que serve ou não para restaurar ou promover a saúde humana.
Essa identidade de fundo implica uma unidade também do crivo definidor de boas razões. Nesse nível, o que interessa é a plausibilidade e a qualidade da evidência, independentemente do rótulo na garrafa. Coca-Cola e água benta podem muito bem pertencer a universos culturais diferentes, mas se o objetivo é matar a sede, o critério de teste é só um.
A quimera da “multiplicidade de racionalidades” é sedutora porque, além de vir com um selo de sofisticação intelectual, realmente permite desarmar um sem-número de conflitos desnecessários e de batalhas inúteis. Mas pode nos cegar para batalhas necessárias e conflitos essenciais. Abrir mão da prerrogativa de distinguir boas de más razões sempre cobra um preço muito alto no final.
P.S.
Estre artigo já estava todo estruturado quando houve a escalada de tom em relação à decisão da Anvisa de rejeitar, por ora, a vacina russa Sputnik V, dada a insuficiência e a má qualidade dos dados apresentados pelo fabricante. Toda discussão acima sobre a necessidade de ter boas razões para acatar uma alegação de fato aplicam-se, é claro, ao caso: especificamente, faltam boas razões para aceitar a alegação de que a Sputnik V é segura e eficaz.
Falando aqui do meu ponto de vista idiossincrático, como alguém que pesquisa, estuda e trabalha com charlatanismo, pensamento mágico, pensamento crítico e critérios e razoabilidade e honestidade intelectual há um quarto de século, a falta de transparência, de ética e de rigor que marcou todo o desenvolvimento da Sputnik V, somada à profunda desonestidade intelectual demonstrada após a decisão da Anvisa, já bastaria para que o imunizante russo fosse descartado in limine.
O paralelo que faço é com os médiuns pegos cometendo fraude no fim do século 19 e início do 20. Para os céticos, uma vez detectada uma única fraude, o médium deixava de merecer crédito, por um raciocínio simples: se conseguimos pegá-lo agora, quantas vezes já não teria ele trapaceado sem que ninguém notasse? Achar que a única mentira que uma pessoa contou na vida é exatamente aquela em que alguém consegue pegá-la no pulo é extremamente ingênuo.
Desonestidade forma hábito.
Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência e coautor do livro "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)
