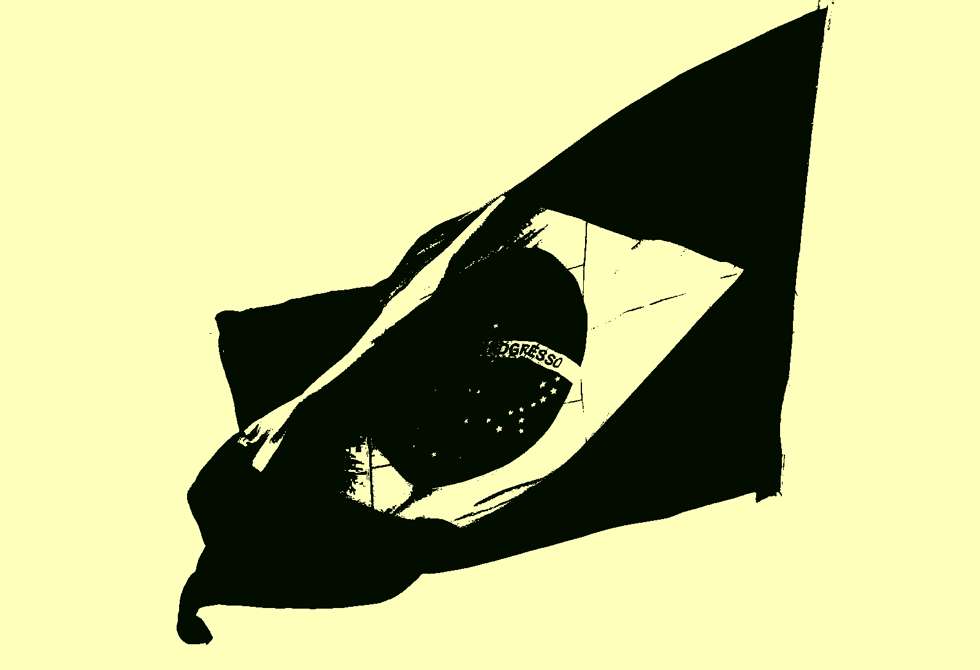
O governo Jair Bolsonaro sempre foi negacionista – no sentido técnico a palavra, criada para nominar o comportamento de quem nega fatos claros, evidentes, bem estabelecidos e documentados. Em 2019, antes, portanto, de a pandemia trazer a oportunidade de negar a emergência sanitária, o presidente ou seus auxiliares próximos fizeram manchetes negando o desmatamento da Amazônia, o aquecimento global e os crimes da ditadura militar.
Em especial, o histórico das falas de Bolsonaro sobre o regime de 1964, tanto como presidente quanto em sua carreira pregressa como deputado federal, revela uma boa compreensão instintiva da utilidade de uma das principais ferramentas do negacionismo, que é a “contradição coerente” – disparar declarações que se contradizem entre si, mas que são, individualmente, coerentes com um mesmo sentimento de fundo.
O exemplo clássico é o do teórico da conspiração que num momento diz que John F. Kennedy foi assassinado pela Máfia e, depois, que o presidente americano está vivo e bem, numa ilha secreta do Caribe. As falas são incompatíveis, mas ambas reforçam a mesma ideia, de que a investigação oficial do crime foi uma farsa.
Bolsonaro faz isso, por exemplo, ao dizer num momento que a ditadura “matou pouco” e, em outro, que não houve regime de exceção. A mensagem de fundo é a de que o governo militar teria sido benéfico e benevolente.
O presidente tem aplicado o mesmo instrumento ao falar sobre vacinas para COVID-19: num instante, elas são desnecessárias; no outro, o governo “faz um esforço hercúleo” para obtê-las. Além de reforçar a mensagem de fundo de que a administração federal jamais erra, essas contradições geram uma ampla cobertura retórica – ao afirmar tudo e seu oposto, o presidente e seus encomiastas estabelecem um arsenal de onde podem pinçar declarações que, isoladamente, “soam bem” diante de diferentes públicos e situações.
É curioso imaginar, aliás, se os apoiadores do presidente que ainda esperam ser levados a sério e tratados como gente adulta – em oposição aos “bolsomínions” mais folclóricos e raivosos – são vítimas inocentes ou cúmplices dessa manobra de cobertura. Neste sentido, vale a pena lembrar a lição de Hannah Arendt (1906-1975) sobre como os fãs de líderes autoritários vibram com a capacidade do chefe de mentir descaradamente, e congratulam-se entre si por serem capazes de detectar o que o mestre “realmente” quer dizer.
Mudança climática
Internacionalmente, o negacionismo climático parece ter completado um círculo. Quando os primeiros alertas sobre a intensificação do efeito estufa surgiram, no fim da década de 70 do século passado, o debate inicial não tratou da realidade do fenômeno, e sim sobre o que fazer a respeito. Ninguém ainda negava os fatos, mas economistas influentes de então argumentavam que seria melhor (isto é, mais barato) adotar estratégias de adaptação à mudança climática do que investir em leis e tecnologias para tentar evitá-la.
A mudança no tom – de “adaptar é mais fácil” para “isso não existe” – foi ocorrendo aos poucos, ao longo da década de 1980, e estabeleceu-se como estratégia favorita da indústria do petróleo e de seus prepostos apenas a partir da publicação do Segundo Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para a Mudança Climática (IPCC) da ONU, em 1995.
Pouco depois, em fevereiro de 1996, a revista “Science” publicava carta assinada pelo físico Fred Singer (1924-2020) – um “negacionista serial” que já havia prestado bons serviços à indústria do tabaco, na questão do fumo passivo – pondo em dúvida o rigor científico do trabalho do IPCC e sugerindo que o aquecimento global seria um falso problema – que a Terra estaria, na verdade, resfriando ou estável. O climatologista australiano Tom Wigley respondeu a Singer na mesma revista, no mês seguinte, apontando que as alegações de Singer “não têm apoio nos dados”.
Esse confronto inicial definiu o tom do debate nas décadas seguintes: a corrente principal da ciência climática versus uma minoria estridente que, motivada por preconceitos ideológicos (em geral, contra a “interferência do Estado na economia”) ou interesses econômicos, tinha sua voz amplificada pela indústria do petróleo, com o beneplácito de uma mídia viciada em polêmica e controvérsia.
Em tempos recentes, no entanto, diante dos fatos e da crescente pressão popular, a estratégia parece ter mudado mais uma vez – o negacionismo “hardcore” tornando-se uma espécie de ação de retaguarda e sendo substituído, no discurso polido, por aquilo que o climatologista americano Michael Mann chama, em seu livro “The New Climate War”, de “inativismo ambiental”, o discurso de que ou já é tarde demais para fazer alguma coisa, ou de que a solução real estaria nas “pequenas atitudes” (andar de bicicleta, evitar voos) das “pessoas comuns”, e não em grandes mudança sistêmicas a serem implementadas por governos e indústrias. Enfim, o negacionismo climático volta ao ponto de partida: aceita-se que o problema existe, mas...
Cúpula do Clima
O discurso de Bolsonaro na Cúpula do Clima convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parece alinhar-se com essa nova fase do negacionismo global, a do inativismo. O que não deixa de ser um avanço em relação ao estilo canhestro dos tempos do ex-chanceler Ernesto Araújo (autor da imortal frase “Existe mudança climática? Existe. É feita por nós? Não sabemos”).
Ao falar na cúpula, Bolsonaro reafirmou o compromisso (assumido pelo país em 2015, ainda na gestão de Dilma Rousseff) de que o Brasil irá zerar o desmatamento ilegal da Amazônia até 2030, mas também citou o suposto “paradoxo amazônico”, o mito de que a preservação do meio ambiente e a defesa da qualidade de vida da população local seriam objetivos antagônicos.
Como se vê, a estratégia da cobertura retórica por contradição segue firme em curso. Mas é preciso reconhecer que sua aplicação a temas ambientais não foi inventada por Bolsonaro – vem dos tempos da ditadura de que ele tanto tem saudades, mas também já foi mobilizada em governos de esquerda.
Houve até, num passado longínquo, quando ninguém ainda sonhava com uma obscenidade como a gestão de Ricardo Salles, momento em que o governo Dilma viu-se tachado como “o pior da história” para o meio ambiente. Diz muito sobre a situação atual o fato de que um eventual recuo rumo ao pior momento registrado anteriormente seja sinal de progresso. Resta saber se a atenuação é real, ou representa apenas mais uma volta na espiral de mentiras a que já fomos habituados pelo bolsonarismo.
Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência e coautor do livro "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)
