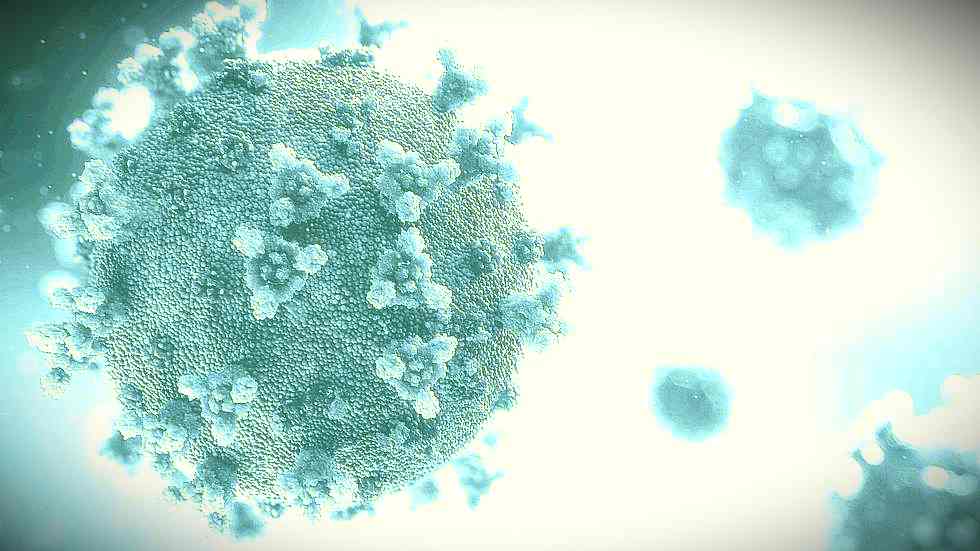
A cloroquina e a hidroxicloroquina nunca tiveram plausibilidade biológica para funcionar contra a COVID-19. Estamos repetindo isso desde março, quando surgiu o primeiro trabalho em humanos do grupo de Marselha, promovido aos quatro ventos – mais por marqueteiros e políticos do que por cientistas – como a solução da pandemia.
Logo, todos os jornais mostravam como a cloroquina “poderia” bloquear a entrada do vírus na célula, pegando carona numa estrutura chamada endossomo. Trata-se de uma via dependente da acidez do meio, e a cloroquina, por alterar essa característica, bloquearia o caminho. Infográficos mostrando a entrada do vírus na célula, “via endossomo”, persistem até hoje. O problema é que a prova de conceito dessa atividade bloqueadora havia sido feita em células de rins de macacos. Mas a COVID-19 não é uma doença renal de símios, é uma doença respiratória humana. E as razões para acreditar que o efeito antiviral poderia ser reproduzido em pessoas nunca foram boas – é duvidoso, mesmo, que um dia tenham existido.
Estudos publicados antes mesmo do trabalho de Marselha, por um grupo na Alemanha para o SARS-CoV-2, e outro no Japão (este de 2019), para o SARS-CoV original, já mostravam claramente que a entrada desses coronavírus nas células do trato respiratório não se dava por endossomo, mas sim por uma via facilitada pela proteína TMPRSS2, e que essa entrada, no caso do SARS-CoV, era essencial para que animais ficassem doentes. Ou seja, o vírus tem uma porta preferencial de entrada nas células respiratórias, para a qual a cloroquina é irrelevante.
Apesar de termos explicado esse fato à exaustão, ele foi ignorado, até por aqueles que defendiam a cautela com a cloroquina, como se plausibilidade biológica prévia de um tratamento não importasse.
Há um motivo para que testes de medicamentos sejam feitos primeiro em células, depois em animais e, só após uma sequência de sucessos nessas etapas, em humanos. É justamente para evitar desperdício de recursos, e riscos para a saúde das pessoas. Se este caminho tivesse sido respeitado para a cloroquina, não estaríamos vivendo esse circo, com o governo brasileiro gastando milhões enquanto o presidente Jair Bolsonaro faz a “saudação à cloroquina” em público.
Finalmente hoje, 22 de julho, saíram dois artigos no respeitado periódico Nature. Mais de dois meses depois do patético trabalho de Marselha. Um deles, justamente do grupo alemão, demonstrando agora, sem sombra de dúvida, o que os autores já sabiam desde os trabalhos publicados para SARS: que a cloroquina não funciona em células respiratórias, onde o vírus dispensa o endossomo. E outro de um grupo francês, que ficou meses rodando como preprint, e avaliou o uso de cloroquina em modelo animal, testando todas as combinações possíveis com azitromicina, em todas as fases da doença, e também como profilático.
Não funcionou em nenhuma fase, com ou sem o antibiótico. O grupo ainda vai além e testa também em células do trato respiratório, confirmando o resultado dos alemães: nenhum efeito. Um terceiro artigo, este ainda em preprint, mostra que a cloroquina tampouco tem efeito em hamsters e macacos.
A cloroquina é o melhor exemplo de ciência mal-feita que temos na pandemia. Ótimo para ensinar aos nossos alunos como não se testa um medicamento. É absurdo que existam mais de 150 testes clínicos, envolvendo vidas humanas, registrados no mundo para um medicamento que nunca teve plausibilidade biológica e que sequer havia sido validado em modelos de bancada ou em animais adequados. Vários desses estudos, inclusive aqui no Brasil, levam a grife de renomados hospitais e centros de pesquisa.
Claro que poderia haver outros mecanismos para a cloroquina atuar, e claro que não havia nenhum trabalho especificamente sobre cloroquina e a entrada na célula via proteína, como o publicado agora na Nature.
Mas, até aí, os ossos do dragão de São Jorge podem estar em alguma parte da Lua que ainda não foi visitada por astronautas. Dada a baixíssima plausibilidade prévia da hipótese, o fato de este antimalárico nunca ter funcionado como um antiviral para outras doenças – apesar de ter sido testado em várias, incluindo dengue, aids e a própria SARS – e de inibir vírus única e exclusivamente em uma cultura de células inespecíficas devia ter, no mínimo, acendido um alerta.
A inversão do caminho dos testes da cloroquina, começando com os ensaios em humanos e terminando com os testes in vitro, é algo marcante desta pandemia. A inversão do ônus da prova também, com os brados de “prove você que não funciona”, requisito que tem tanta lógica quanto a exigência de que se vasculhe toda a Lua antes que se possa afirmar que o dragão é um mito.
Apesar de o ônus da prova nunca ter pesado sobre os ombros dos cientistas sérios que criticaram o uso apressado e irresponsável deste fármaco, esperamos que, a partir de agora, a questão esteja fechada para todos os observadores racionais. Temos grandes estudos mostrando que o fármaco não atua contra a COVID-19 em pacientes hospitalizados; temos bons estudos que não encontraram nenhum efeito protetor da molécula em pessoas saudáveis expostas ao vírus; temos, agora, testes de alta qualidade que solapam de vez as bases, desde o início ilusórias, em que a mera ideia de usar cloroquina se apoiava.
Insistir no investimento em cloroquina é como insistir num programa espacial para buscar os ossos do dragão lunar. Com a diferença de que uma missão espacial talvez até pudesse produzir algum conhecimento novo e útil, mesmo que só por acidente.
Natalia Pasternak é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP, presidente do Instituto Questão de Ciência e coautora do livro "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)
Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência e coautor do livro "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)
