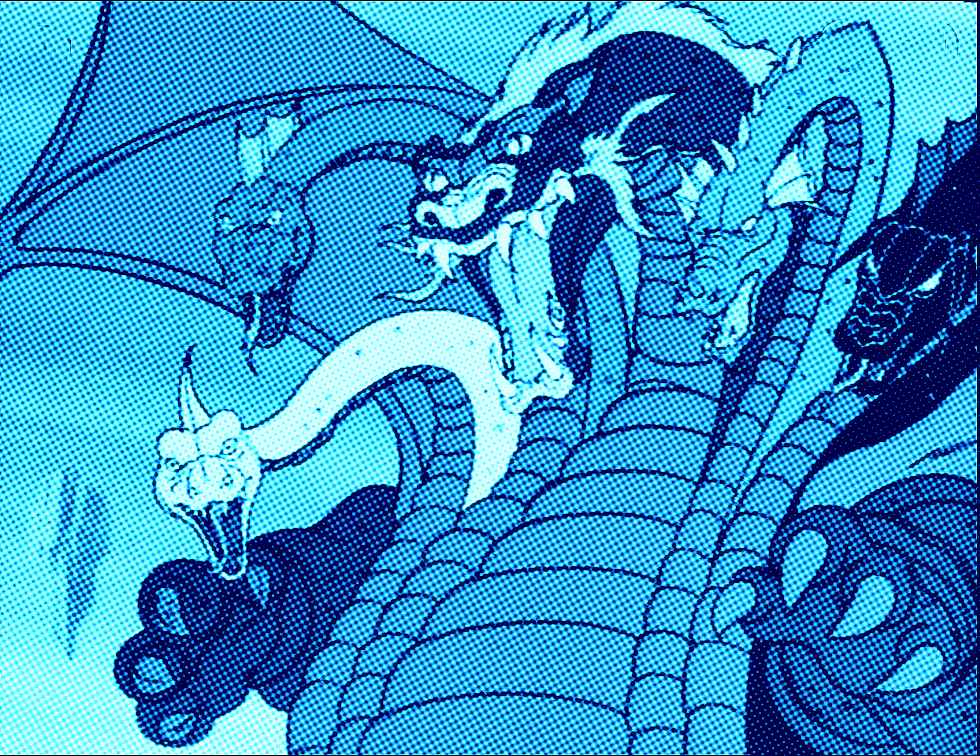
O governo do Estado de São Paulo anunciou, na última semana, que 15% dos casos positivos para COVID-19 foram confirmados por testes sorológicos, que medem anticorpos. Isso quer dizer que São Paulo – assim como outros estados brasileiros – está misturando duas informações diferentes em uma mesma conta final: os testes de PCR, que detectam a presença de vírus, e de anticorpos, que detectam a reação do corpo ao vírus. Pode parecer uma distinção acadêmica, sem efeito prático. Mas não é, e misturar os dois tipos de dado na mesma base resulta em caos epidemiológico.
Por medir o material genético do vírus, o teste de PCR é indicado para fazer diagnóstico. Diz se estamos contaminados naquele momento. O teste de anticorpos mede a reação a um contágio que pode ter acontecido há duas ou três semanas. Isso porque só começamos a produzir anticorpos aproximadamente quinze dias depois de ter contato com o vírus. Ou seja: se eu fizer o teste PCR hoje, e der positivo, pode ser que meu teste sorológico, daqui a duas semanas, dê positivo também.
Mas pode ser que não. Os testes sorológicos, sobretudo os chamados “testes rápidos”, apresentam um porcentual de erro muito alto. O erro previsto na bula, que pode ser da ordem de 15% de falsos negativos e de 1% a 5% de falsos positivos – isso, nas especificações do melhor teste do mercado – é apenas uma parte da informação necessária para sabermos qual o risco de erro efetivo, real, e que pode ser muitas vezes maior.
Se a prevalência – isto é, a proporção de pessoas que realmente têm anticorpos – é menor do que a taxa de falso positivo do teste, há um bom risco de que a maioria dos resultados positivos venha a ser, na verdade, falsa. É como você mandar alguém, que já não é muito bom para distinguir cores, procurar pássaros azuis-marinhos no meio de um bando de pássaros pretos, ao cair da noite. Se os azuis forem muito poucos, é provável que se acabe com uma gaiola cheia de pássaros pretos, que o nosso ajudante de vista ruim achou que pareciam azuis.
É por isso que misturar os dados desse tipo de exame com os gerados por PCR, que é muito mais preciso, só serve para poluir a informação. Imagine que, além do ajudante, temos uma máquina caríssima, capaz de discriminar perfeitamente entre azul-marinho e preto. Juntar todos os pássaros capturados pelo assistente, indiscriminadamente, aos selecionados pela máquina faz sentido?
Vamos supor que temos uma prevalência da doença de 5% na população. Isso quer dizer que, de 1000 pessoas, apenas 50 tiveram, de fato, contato com o vírus. E vamos usar um teste que tem 90% de sensibilidade (capacidade de detectar os anticorpos que surgiram em reação ao vírus) e 95% de especificidade (garantia de que vai detectar só esses anticorpos, e mais nada).
Nossa população hipotética, então, contém 950 pessoas que nunca tiveram contato com o vírus, e 50 que foram contaminadas. Quando testamos essas pessoas com um teste rápido, espera-se que, das 50 que têm anticorpos, 90% testem positivo. Isso representa 45 indivíduos. Mas e as outras 950 pessoas? Nessas, espera-se encontrar o erro de 5% de falsos positivos, então aproximadamente 47 pessoas testariam positivo, mesmo sem ter anticorpos. Portanto, de 92 pessoas que testam positivo (as 45 que realmente têm anticorpos e as 47 que receberam o resultado falso), menos da metade tem, de fato, anticorpos. Isso quer dizer que a probabilidade de você realmente estar positivo, se seu teste voltar positivo, é de 49%.
Esse cálculo melhora bastante conforme a prevalência da doença aumenta. Se refizermos a conta considerando 50% de prevalência, a probabilidade de o resultado positivo ser real sobe para aproximadamente 90%. Por isso, esses testes devem ser reservados para estudos epidemiológicos, de preferência em um momento mais avançado da curva de contaminação, quando muito mais pessoas já tiverem se contaminado e desenvolvido anticorpos.
Além de poluir o total de casos com falsos positivos, os testes de anticorpos, misturados aos resultados de PCR, podem mascarar a taxa de letalidade. Testes rápidos são feitos em pessoas vivas, não em mortos ou hospitalizados graves. Com uma alta taxa efetiva de falsos positivos, podem acabar inflando o denominador da conta, dando a impressão de que gente que, na verdade, nunca ficou doente, ficou e sarou – o que se reflete numa letalidade artificialmente baixa e num exagero no número total de recuperados.
O Center for Disease Control nos EUA foi extremamente criticado por misturar resultados de testes sorológicos com testes de PCR. Além da confusão causada pelas razões que relatamos aqui, que deixam qualquer epidemiologista de cabelo em pé, os dados de contaminados servem de base para políticas públicas de reabertura da economia. Se os dados estão todos misturados, decisões cruciais acabam sendo baseadas em ficção.
Enquanto os testes de PCR, quando positivos, indicam a quantidade de pessoas doentes, e servem para informar a quantidade de casos ativos e, quando possível, permitem o isolamento e rastreamento dos pacientes e de seus contatos, o teste de anticorpos serve para verificar a prevalência da doença na população, para orientar a decisão quanto ao momento mais correto para uma retomada da atividade econômica.
Testes de anticorpos também servem como provável indicação de imunidade. Estudos preliminares, feitos em macacos, indicam a presença de anticorpos protetores e ausência de reinfecção. Os animais que já tiveram a doença parecem protegidos. Ainda não sabemos por quanto tempo, mas é bastante provável que essa imunidade dure ao menos alguns meses, o que pode ser uma informação útil para liberar pessoas da quarentena. Os testes de anticorpos também podem identificar potenciais doadores de plasma para os diversos testes clínicos em andamento, que estudam o uso de soro de convalescentes como tratamento para a doença.
Precisamos que essas informações – quem está com o vírus e quem tem anticorpos – sejam disponibilizadas de modo transparente, não tudo misturado no mesmo saco. A confusão, se serve para alguma coisa, é para criar a ilusão demagógica de que os governos estão “ampliando a testagem”, sem mencionar se a testagem, do jeito e com a qualidade com que está sendo feita, serve para alguma coisa.
Natalia Pasternak é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP, presidente do Instituto Questão de Ciência e coautora do livro "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)
Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência e coautor do livro "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)
