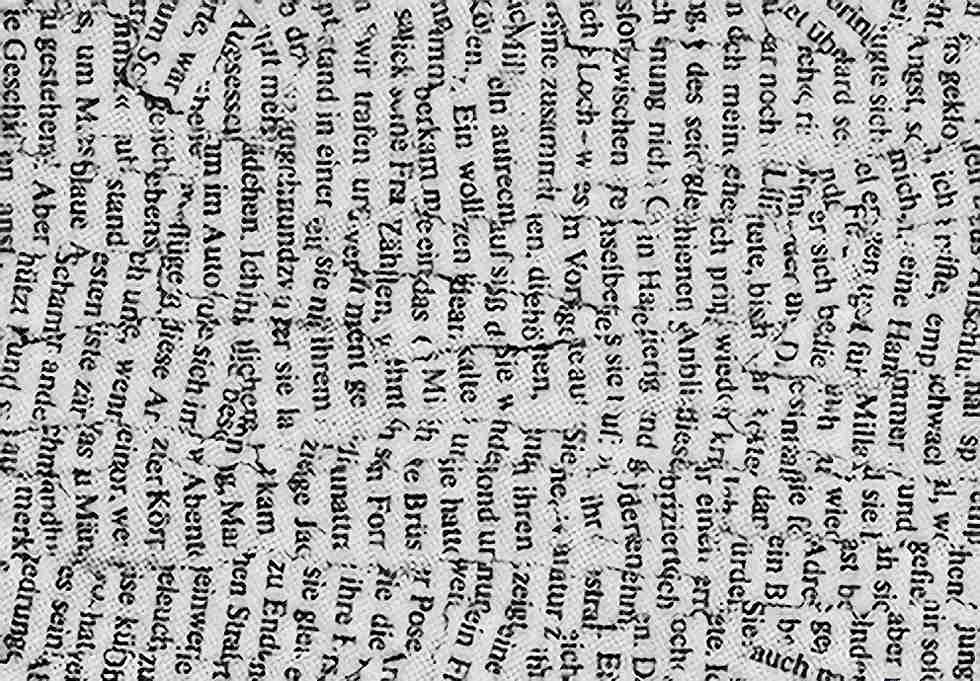
No início do ano, a Faculdade de Jornalismo da Universidade do Arizona publicou um relatório intitulado “Beyond Objectivity” (“Além da Objetividade”) que discute as limitações do critério de “objetividade” tradicionalmente usado na produção (e avaliação) de conteúdo jornalístico, e sugere que ele deveria ser substituído por um critério mais sofisticado de “veracidade”. O trabalho repercutiu pouco no Brasil: a Folha de S.Paulo publicou uma meia dúzia de artigos sobre o assunto ao longo do semestre, em geral na linha de contrapor o “objetivo” ao “panfletário” e concluir que o primeiro é preferível ao segundo.
O que, além de óbvio, foge completamente do escopo da proposta original. Há uma diferença entre o ideal da objetividade (livre de distorção, viés, preconceito ou sentimento pessoal) e a forma como esse ideal se traduz na prática. Objetividade em estado puro não existe, pelo simples fato de que o jornalismo é praticado por seres humanos. O que existem são técnicas, práticas, preocupações e procedimentos que, espera-se, quando observados, permitem chegar razoavelmente perto dela.
A crítica à objetividade só muito raramente é uma crítica ao ideal. Costuma, na verdade, representar um questionamento das ferramentas usadas em seu nome. É, por assim dizer, uma crítica aos “indicadores indiretos de objetividade”, muitas vezes empregados mais como sinalização de virtude jornalística do que em razão de algum temor legítimo de deslize panfletário.
Tais ferramentas e indicadores (como o famigerado “outroladismo”, que pressupõe que todas as vozes envolvidas num debate têm o mesmo peso) tendem a privilegiar exatidão e neutralidade cosmética em detrimento da veracidade. Por exemplo, quando um jornal reproduz, entre aspas e sem nenhuma qualificação, a fala mentirosa de uma autoridade pública, ele está sendo exato (o político realmente disse aquelas palavras) e mostrando-se neutro (ao apenas reproduzi-las, sem nenhum tipo de comentário). Mas, ao praticar esse gesto de objetividade performática, também está sonegando de seus leitores a verdade dos fatos.
Na saúde
Já escrevi antes, tanto nesta revista (aqui e aqui) quanto em meu livro “Negacionismo e os Desafios da Ciência”, sobre como as práticas e normas usuais do jornalismo abrem espaço não só para a manipulação do noticiário por agentes maliciosos, como para a produção de conteúdo que é ao mesmo tempo tecnicamente perfeito e completamente falso.
Vamos examinar, por exemplo, o modo "canônico" de se fazer jornalismo de saúde na grande imprensa brasileira. Há uma fórmula: parte-se de uma condição (uma doença – digamos, câncer de pulmão), de um tratamento e/ou mecanismo preventivo (digamos, uma nova técnica cirúrgica, talvez uma vacina recém-lançada) ou de uma conduta (pode ser fumar, deixar de fumar, vacinar-se, não vacinar-se).
A partir daí, buscam-se os chamados "personagens", que são pessoas que sofrem da condição/submeteram-se ao tratamento/adotam ou não adotam a conduta. Se o núcleo de personagens envolver uma família (a combinação de criancinha fofa doente com mamãe guerreira, cheia de esperança, mas com lágrima – quase imperceptível – no canto do olho é especialmente feliz), o prêmio de fim de ano da firma está quase garantido.
Tendo-se a condição e o(s) personagem(ns), é chegada a hora do médico. Pode ser apenas um, entrevistado mais longamente, ou dois ou três (neste caso, com declarações curtas).
Se todas as partes ouvidas forem representadas e citadas corretamente, a fórmula produz conteúdo “objetivo”: o material será exato e neutro, já que todas as opiniões e alegações estarão reproduzidas fidedignamente e de fato virão das fontes, não do veículo ou do repórter. Mas essa “objetividade” é conquistada ao preço de passar ao leitor uma visão errada, extremamente perigosa, de como a medicina funciona. Dá para seguir a fórmula ao pé da letra, sendo neutro, correto e objetivo, e deixar a impressão de que homeopatia funciona. Ou que cloroquina evita COVID-19. Ou que hesitação vacinal é uma postura razoável. E assim por diante.
Aqui, as ferramentas da “objetividade” escondem do leitor o fato de que o que valida, ou deixa de validar, uma terapia não é ela ter, aparentemente, "dado certo" (ou errado) para a criancinha fofa que aparece na reportagem. E que a opinião de um especialista isolado não é, necessariamente, a opinião da classe médica como um todo, nem reflete, automaticamente, o consenso dos pesquisadores que estudam o assunto. E que se o repórter ouviu vários médicos com visões divergentes, talvez apenas um deles mereça de fato ser levado a sério (o imperativo da neutralidade cosmética impede o repórter de apontar qual).
Outros modos
No livro “The News Media – What Everyone Needs to Know” (que tem entre seus autores o historiador Michael Schudson, um dos principais pesquisadores das origens e raízes da “objetividade” no jornalismo), lê-se:
“’Objetividade’ é um valor jornalístico mal compreendido. Há muito tempo que se imagina que significa reportar ‘só os fatos’ ou de forma ‘equilibrada’, evitando qualquer tipo de juízo informado por parte dos jornalistas”.
A isso, os autores contrapõem que:
“Na era digital, está cada vez mais claro que às vezes uma história tem só um lado ou, frequentemente, muito mais do que dois lados, que falso equilíbrio não equivale à verdade e que contexto, explicação, juízos informados e mesmo ponto de vista ou ‘voz’ podem ser parte de um jornalismo com credibilidade”.
Há décadas, pelo menos desde a publicação, em 1984, do artigo “On the Epistemology of Investigative Journalism”, que temos boas razões para suspeitar que a aderência estrita à objetividade baseada a ferro e fogo em exatidão e neutralidade é inviável em operações jornalísticas mais sofisticadas, como as que envolvem investigações profundas. Ou, como se lê em “The News Media – What Everyone Needs to Know”, “Edward R. Morrow da CBS não estava sendo objetivo ao atacar o macartismo. O Washington Post não estava sendo objetivo ao insistir em investigar como a invasão de Watergate envolveria crimes da cúpula política”.
Ir “além da objetividade” não é mergulhar na militância ideológica ou retornar ao jornalismo panfletário do século 19, mas deixar de tratar os valores da exatidão e da neutralidade (principalmente o da neutralidade) como necessários e suficientes, equilibrando-os com outros. As listas desses “valores extras” do jornalismo variam de autor para autor, mais por uma questão de nomenclatura do que de conteúdo – a convergência de espírito é notável. Meu léxico pessoal é o seguinte: veracidade, verificabilidade, defensabilidade e transparência.
Veracidade é o compromisso ético de entregar ao leitor a informação correta. Se uma das fontes da matéria mente, isso deve ficar claro; se um detalhe do contexto muda o significado dos fatos, ele deve ser apresentado. Verificabilidade requer que não apenas as alegações de fato e declarações reproduzidas no texto estejam corretas (isto é, sustentem-se, caso alguém deseje checá-las), mas que as conclusões sugeridas pela matéria, também. Se o leitor sai da leitura com a impressão de que determinado assunto é controverso, que a controvérsia realmente exista, não seja apenas uma cortina de fumaça lançada por interesses especiais. Se o texto dá a entender que uma terapia é eficaz, que realmente seja.
Defensabilidade exige que juízos de valor e conclusões presentes no texto – já que, no mundo além da objetividade, jornalistas estão autorizados a fazer tais juízos – sejam racionalmente defensáveis com base no material exposto. No planeta da objetividade clássica, o repórter pode apurar que todos os homens são mortais e que Sócrates é um homem, mas está proibido de concluir, por conta própria, sem “pôr na boca de uma fonte”, que Sócrates é mortal. O valor da defensabilidade estabelece um critério para suspender essa proibição. Também permite traçar a linha que separa “juízo informado” de “mera opinião”.
Por fim, transparência requer não apenas que conflitos de interesse (incluindo do jornalista e do veículo) sejam declarados, mas também que as notícias sejam produzidas de modo que o processo e a lógica por trás da elaboração possam ser explicados ao público. Por que essas fontes, e não outras? Por que essas perguntas? Por que essa dicção? É, de certa maneira, uma dimensão extra da defensabilidade.
O jogo
Empresas jornalísticas tradicionais tendem a se apegar à dobradinha exatidão-neutralidade cosmética (insisto no adjetivo “cosmética” porque a omissão que esse tipo de neutralidade estimula não é, em si, neutra – sempre acaba fazendo o jogo de alguém) por uma série de razões, que incluem autopreservação (é mais seguro não chamar ninguém de mentiroso), concessão ao senso comum (o público espera que o jornal seja “equilibrado”) e controle da mão de obra (discutir com o repórter se a conclusão que ele tira do que apurou é defensável ou não dá mais trabalho do que apenas proibi-lo de concluir qualquer coisa). É um apego que serve bem ao status quo, mas mal ao leitor.
E essas são questões que vão além da cobertura de ciência ou de saúde. Jay Rosen, professor de jornalismo da Universidade de Nova York, vive repetindo o slogan de que a cobertura política deveria focalizar “the stakes, not the odds” (“as apostas, não as chances”). Em outras palavras, em vez de dar destaque para a questão de quem tem mais chances (de ganhar a eleição, de aprovar a lei, de ser nomeado para o tribunal), informar o que está em jogo (caso esse candidato ganhe, essa lei seja aprovada, esse nome seja indicado).
Trata-se de uma mudança de mentalidade que, dentro das regras clássicas, onde qualquer discussão mais aprofundada sobre “as apostas” tende a ser vista como “mera opinião”, é bem difícil. Mas com as balizas da veracidade, da verificabilidade, da defensabilidade e da transparência no lugar, não tem por que não ser factível. E precisa ser: a ilusão de que não existem fatos objetivos, discerníveis e noticiáveis ligados às apostas serve bem à neutralidade cosmética, mas muito mal à democracia.
Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência, autor de "O Livro dos Milagres" (Editora da Unesp), "O Livro da Astrologia" (KDP), "Negacionismo" (Editora de Cultura) e coautor de "Pura Picaretagem" (Leya), "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto), obra ganhadora do Prêmio Jabuti, e "Contra a Realidade" (Papirus 7 Mares)
