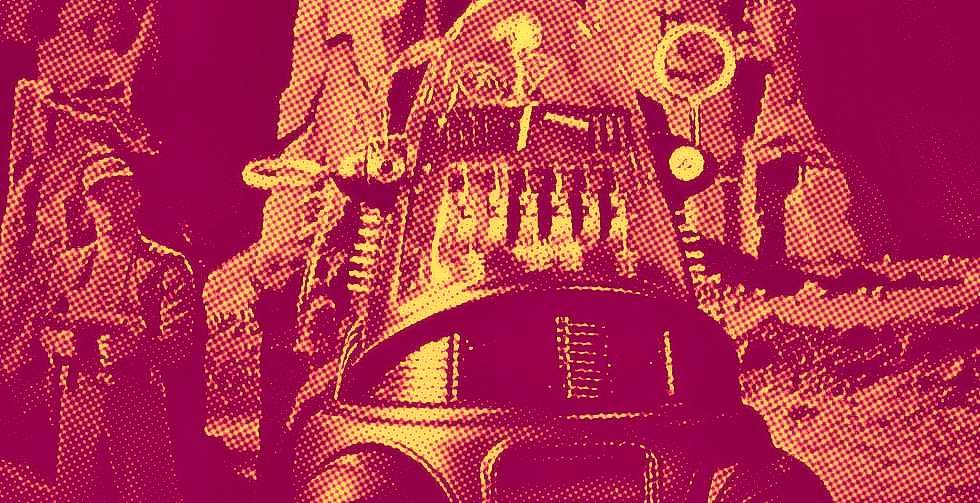
A ginecologista canadense Jen Gunter, talvez a comunicadora de ciência que mais tem feito para desmistificar produtos sem base científica criados para explorar incertezas e inseguranças femininas – incluindo “terapias alternativas” para questões reprodutivas e o medo infundado de pesticidas e outras “químicas”— foi atacada, recentemente, em artigo publicado num blog da Scientific American dos Estados Unidos.
A crítica, em resumo, acusa-a de fazer pouco caso da “experiência vivida” das pessoas que afirmam ter se beneficiado dos curandeirismos vendidos por Gwyneth Paltrow e adjacências; de, ao insistir que não há prova científica de que vestígios de glifosato em absorventes femininos (!) façam mal, ajudar a “indústria” a fugir de suas responsabilidades; de falar mal de livros feministas sobre saúde que trazem erros científicos, sem prestar atenção no valor político-social dessas obras; de tentar tirar das mulheres o poder sobre sua saúde e seus corpos, mantendo-o monopolizado nas mãos de médicos e farmacêuticas; e, enfim, de ser grosseira e arrogante.
A catilinária contra Gunter tem o mérito de reunir, numa mesma embalagem, a maioria dos argumentos comumente encontrados na defesa de práticas ditas “naturais” ou “alternativas” de saúde. Ficou faltando o apelo à tradição milenar, mas ele está, de certa forma, embutido na “experiência vivida”. Para fins didáticos, gosto de dividir esse material em três grupos: os argumentos anticientíficos, paracientíficos e paranoicos.
Os anticientíficos negam a, ou fazem pouco caso da, autoridade da ciência como fonte privilegiada de conhecimento sobre a realidade física e biológica. É a falsa equivalência entre a “experiência vivida” de alguém que acredita ter sarado de um resfriado, tomando remédio homeopático, e os resultados de estudos controlados mostrando que homeopatia é inútil contra qualquer tipo de doença.
Adaptando uma frase de efeito muito usada no mundo de língua inglesa, o plural de fato isolado não é informação válida: não importa quantos casos de sucesso você tenha à mão, sem controles adequados não se pode afirmar que sejam mais do que coincidências ou, na melhor das hipóteses, instâncias sugestivas.
Há quem veja nessa insistência dos cientistas em controles e estatísticas um sinal de arrogância, um desprezo pelo “jeito de saber” do povo, mas trata-se do oposto exato: é por saber como é fácil para a mente humana ver conexões inexistentes e saltar para conclusões inválidas que o cientista tem a humildade de reconhecer que esses cuidados são imprescindíveis.
É muito comum encontrar, nos textos de defensores de terapias alternativas, exortações sobre a necessidade de “validar os saberes da experiência”. Se, por “validar”, quer-se dizer levá-los a sério o bastante para investigá-los de modo sistemático e competente, perfeito; mas se o que se pretende afirmar é que a “experiência”, seja ela qual for, tem validade intrínseca igual à dos frutos da investigação científica, então estamos diante de uma alegação muito problemática – para dizer o mínimo.
Os paracientíficos não negam ou desmerecem a ciência diretamente, mas subordinam sua relevância a outras considerações, como o “empoderamento” de grupos tidos como marginalizados, interesses econômicos, agenda política. Assim, por exemplo, alega-se que os eventuais erros encontrados em um livro sobre saúde da mulher escrito por mulheres deveriam pesar menos, na avaliação da obra, do que o fato de que ela foi escrita por mulheres. Uma modalidade especialmente comum de argumento paracientífico (é impossível passar cinco minutos no Twitter sem esbarrar nela) é a “trollagem de tom”: em vez de dirigir-se à substância do que é dito, ataca-se o tom usado – que seria arrogante, agressivo, insensível, etc.
Diferentemente da anticientífica, a argumentação paracientífica pode ter lá seu valor – dependendo do contexto – mas quando o assunto é saúde, ela costuma aparecer para desviar o foco da conversa e desenfatizar o que deveria ser o principal, se a terapia funciona ou não, se a informação é correta ou não (e, no caso específico de Gunter, trata-se de uma mulher escrevendo para mulheres, afinal de contas).
O apelo ao “empoderamento” é especialmente perverso. Uma pessoa que abandona um tratamento médico bem embasado para seguir algum guru alternativo, fazer uma “assinatura” de dieta orgânica ou comprar cristais da Gwyneth Paltrow não “tomou as rédeas da própria saúde”, nem “desafiou establishment”. Pelo contrário: foi enganada.
Já a linha paranoica vê uma grande conspiração por trás de tudo. Tenho alguma experiência pessoal com isso.
Quando, na terceira semana de novembro, nós do Instituto Questão de Ciência realizamos nosso seminário internacional para celebrar um ano de atividades, tendo como um dos palestrantes o ativista britânico Michael Marshall, principal responsável por levar o sistema inglês de saúde pública abandonar a homeopatia, entre as questões que apareciam nas sessões de perguntas e respostas havia sempre – qual o laço de vocês com indústria farmacêutica?
A resposta, caso haja leitores interessados, é: nenhum. Correndo o risco de incorrer num dos pecadilhos mencionados acima (“trollagem de tom”), noto que há algo de arrogante nesse tipo de interpelação: quem o faz parece pressupor que a humanidade em geral – a exceção única sendo ele próprio, claro – só é capaz de se mobilizar por uma causa se houver suborno envolvido.
Para ser justo, às vezes a questão é formulada de modo mais cortês: “vocês não percebem que estão sendo usados pela indústria farmacêutica?”
Quando o jornal Folha de S. Paulo publicou entrevista com Marshall e com a australiana Loretta Marron, da ONG Friends of Science in Medicine, que também luta contra a presença de terapias pseudocientíficas no sistema público, o mesmo tipo de questionamento deu as caras.
Trollagens de tom à parte, não custa reconhecer que a indústria farmacêutica não é lá flor que se cheire, muito antes pelo contrário. Tem inúmeros problemas, alguns dos quais foram tema do primeiro artigo publicado nesta seção, um ano atrás.
Entre os principais, estão a divulgação apenas parcial dos resultados de estudos, os resultados positivos exagerados que costumam aparecer nos estudos bancados pela própria indústria, a manipulação de preços e o gasto desproporcional em marketing, que distorce o processo de tomada de decisão por parte dos médicos, na hora de fazer a receita.
Depois de reconhecer tudo isso, porém, não deveria ser um passo grande demais reconhecer que “medicina” natural, homeopatia, acupuntura, ozonioterapia, etc., não são atividades onde predomina a caridade.
O mercado global de “bem-estar” tinha valor estimado, em 2017, em US$ 4,2 trilhões, sendo US$ 360 bilhões em “medicina tradicional e complementar”. Goop, a firma da “empoderadora feminina” Gwyneth Paltrow, tem valor estimado em US$ 250 milhões. O faturamento da Boiron, empresa francesa que é a maior fabricante mundial de produtos homeopáticos, foi de US$ 670 milhões em 2018. A receita total da venda de produtos orgânicos no mundo é estimada em US$ 100 bilhões.
E enquanto a indústria farmacêutica convencional é obrigada, por leis e regulamentos (muitas vezes, é verdade, insuficientes e imperfeitos), a oferecer evidências convincentes de que seus produtos são seguros e eficazes, quando o assunto é terapia alternativa, essas salvaguardas, ainda que mínimas e cheias de defeitos, são postas de lado: só que se requer é um bom lobby e alguma “experiência vivida”.
O principal produto dessa indústria dita “alternativa”, mas na verdade sofisticada e capitalista até a medula, não é bem-estar, e sim medo e desinformação: fazer com que as pessoas temam a medicina moderna, a comida que encontram nos mercados e a vida urbana em geral é, para muitos, parte essencial do modelo de negócio.
O site americano Natural News, ao mesmo tempo em que espalha boatos contra vacinas e teorias da conspiração, vende a seus leitores fiéis uma cornucópia de produtos que faria sucesso na feirinha orgânica do bairro grã-fino, como pó de café “livre de glifosato”, suplementos alimentares à base de algas e vitaminas e produtos “medicinais” feitos de sal de rocha e óleo de coco. No Brasil, a situação não é diferente.
Há muito o que criticar no sistema médico-farmacêutico, no estilo de vida contemporâneo e no modo como a economia global está organizada. Mas quando essa crítica cai em dicotomias fáceis, simplistas e maniqueístas como “natural” versus “artificial”, “alternativo” versus “medicamentoso” ou “corporativo”, etc., o que acontece não é uma contestação do sistema, mas a exposição dos mais vulneráveis entre nós ao que há de pior nele.
Carlos Orsi é jornalista e editor-chefe da Revista Questão de Ciência
