
A questão das diferenças intrínsecas de talento, caráter, capacidade e inclinação – se é que alguma existe – entre os sexos teve dois momentos cáusticos na última semana: o primeiro, com a apresentação do projeto de lei estadual paulista 1.174/2019, da deputada Janaína Paschoal (PSL) e coautoras, que pretende restringir, nas escolas de Ensino Fundamental, “a realização de atividades que envolvam cuidados íntimos a profissionais do sexo feminino”. Essas atividades incluem principalmente “banhos, trocas de fraldas e roupas, bem como auxílio para usar o banheiro”.
Em sua justificativa, a deputada tenta se esquivar da acusação óbvia de discriminação: “a lei que ora se propõe não condena os homens antecipadamente, apenas impõe medidas preventivas, objetivando evitar riscos às crianças, bem como aos próprios profissionais, pois o medo das famílias pode ensejar mal entendidos e acusações infundadas”, diz o texto. E busca respaldo na ciência: “psiquiatras que se dedicam ao estudo do perfil do agressor sexual de crianças afirmam, categoricamente, que em regra os agressores são homens”.
A referência dada é um artigo de revisão de literatura internacional publicado, em 2009, no periódico Archives of Clinical Psychiatry/Revista de Psiquiatria Clínica, da Universidade de São Paulo. Estatísticas publicadas pelo governo americano em 2000 apontavam que, no caso de menores de 6 anos vítimas de abuso sexual, 12% dos agressores que tiveram seus crimes detectados são mulheres, o que deixa uma proporção de criminosos homens superior a 80%.
A questão dos “crimes detectados” é importante: documento do Serviço Nacional de Referência em Justiça Criminal (NCJRS), dos Estados Unidos, preparado com apoio do FBI, aponta que “atividade sexual entre mulheres e crianças pequenas é difícil de identificar. Mulheres são as principais cuidadoras em nossa sociedade e podem vestir, banhar, trocar as roupas, examinar e tocar crianças causando poucas suspeitas”.
De qualquer modo, o projeto de lei (estimulado, segundo a deputada, por uma forte comoção – no caso, a melhor palavra seria preconceito – popular) apoia-se num erro clássico de interpretação de probabilidade condicional, conhecido como falácia do promotor público (algo irônico, dada a origem acadêmica da deputada no campo do Direito): o fato de, uma vez constatado o abuso infantil, haver uma chance maior de o culpado ser homem não implica que, dada a presença de um homem, o risco de abuso se instala.
Em outras palavras, mesmo se for verdade que quase todo abusador é homem (lembre-se da advertência do NCJRS sobre a provável subnotificação dos crimes do tipo cometidos por mulheres), certamente também é verdade que quase nenhum homem é abusador.
Cérebro e escolha
A segunda conflagração da semana envolvendo questões de diferenças entre o sexos foi uma twitterstorm, ou tempestade de tuítes, desencadeada quando o biólogo e divulgador científico Eli Vieira usou a rede de miniblogs para, em resumo, afirmar que existem diferenças biológicas entre o cérebro do homem e da mulher; que essa diferença se reflete em aptidões e preferências; que essas diferentes aptidões e preferências influenciam fortemente a escolha de carreira profissional; e que portanto é “demonstravelmente falso” que a subrepresentação feminina em áreas como computação seja explicável unicamente, ou predominantemente, por sexismo.
As críticas mais estridentes à sequência de tuítes de Vieira atacaram exatamente a parte mais forte, do ponto de vista da evidência científica disponível, de sua cadeia de raciocínio – as afirmações de que diferenças biológicas cerebrais, com implicação para preferências e aptidões, existem entre os sexos.
Tentativas de restabelecer o mito da tábula rasa, de que o ser humano nasce com uma tela em branco entre as orelhas, que a sociedade e o sistema educacional vão tratar de preencher, são alvo fácil para reduções ao absurdo. Orientação sexual é um contraexemplo evidente: não dá para “adestrar” alguém para realmente preferir um ou outro tipo de parceiro (do contrário, “cura gay” seria uma possibilidade real).
O risco aqui é cair no extremo oposto, o do determinismo biológico absoluto e rígido. Um primeiro ponto a destacar é que essas diferenças entre os sexos aparecem quando se analisam médias populacionais: nada dizem sobre os talentos ou inclinações de cada indivíduo. Outro é que há questões onde a plasticidade cerebral desempenha um papel forte, e por isso o meio tem importância fundamental.
Entre os dois extremos da tábula rasa e do determinismo, há uma série de posições intermediárias possíveis que propõem diferentes pesos para natureza e cultura. A rejeição de um extremo não implica a aceitação imediata do outro.
A influência da cultura complica bastante o quadro: o que ontem parecia determinado pela natureza pode, após análises mais rigorosas, revelar-se um construto cultural. Ou, o que é ainda mais complicado, pode ser que o construto cultural seja uma estrutura erguida sobre – uma amplificação ou distorção de – um dado biológico.
Por exemplo, uma revisão de literatura publicada em 2014 abre dizendo que “diferenças cognitivas sexuais estão mudando, diminuindo para algumas tarefas, mantendo-se estáveis ou aumentando em outras”. O artigo aponta que, nas décadas de 70 e 80, o número de meninos americanos considerados altamente talentosos em matemática superava o de meninas numa proporção de 13 para 1. Em anos mais recentes, essa taxa caiu a 4 para 1.
Além disso, diferenças na capacidade do uso da linguagem vêm sendo revistas, e a favor das garotas. “Evidências de meta-análises preliminares sugeriam poucas diferenças entre os sexos em habilidades verbais”, diz o artigo, mas dados internacionais mais recentes estão mudando essa percepção: “Em uma análise do desempenho de leitura de 1,5 milhão de crianças, as meninas se saíram melhor do que os meninos em todos os 75 países, e em todas as aplicações do teste”.
Lacuna de gênero
Um estudo, publicado neste ano, sugere que as mulheres estão subrepresentadas nas ciências duras e profissões correlatas não porque seriam, em média, piores do que os homens em matemática, mas porque certamente são tão melhores do que eles em linguagem que as áreas “de Humanas” tornam-se muito mais atraentes.
Minha tendência particular é encarar como suspeito – para dizer o mínimo – esse salto inferencial que parte da constatação de que existem diferenças médias inatas de gosto e aptidão entre os sexos e daí chega à conclusão de que essas diferenças explicam a chamada “lacuna de gênero” nas áreas de exatas, excluindo (ou reduzindo à irrelevância) o papel do sexismo.
A razão mais óbvia é que gostos e aptidões, mesmo se inatos, passam por filtros sociais. Uma pessoa que é talentosa e minuciosa com as mãos pode acabar se tornando um sushiman, um escultor ou um pianista, por exemplo, dependendo das características específicas de sua habilidade, de outras habilidades complementares que tenha e dos incentivos e desincentivos de seu meio.
Fazendo um paralelo com a questão do aquecimento global: o clima da Terra é determinado por uma série de forçantes, incluindo a concentração de CO2 na atmosfera, a excentricidade da órbita, a intensidade da irradiação solar, a quantidade de gelo nos polos, etc. A comunidade científica conseguiu, depois de muito trabalho, isolar a forçante que domina as outras como causa do aquecimento global contemporâneo: é o CO2.
No caso da “lacuna de gênero”, ainda está longe de ficar claro qual a combinação exata das forçantes que atuam no mundo moderno. Sabemos essa combinação varia entre diferentes países: relatório recente do Banco Mundial aponta que apenas seis nações (Dinamarca, França, Suécia, Bélgica, Luxemburgo e Letônia) têm regimes legais que realmente garantem às mulheres plena igualdade de acesso e de oportunidade no mercado de trabalho, incluindo livre acesso às diferentes profissões. O último lugar no ranking é ocupado pela Arábia Saudita.
Há um argumento indutivo que permite supor que o componente social da “lacuna de gênero” (incluindo sexismo) é relevante, mesmo no mundo ocidental: historicamente, à medida que mais oportunidades e incentivos são oferecidos às mulheres para que se dediquem à matemática e às exatas, mais mulheres entram nesses campos. Segundo dados da National Science Foundation dos EUA, de 2000 a 2011 o número de doutorados concedidos a mulheres nas áreas de ciência e engenharia aumentou 54%. Os títulos de doutor concedidos a homens subiram 24% no mesmo período.
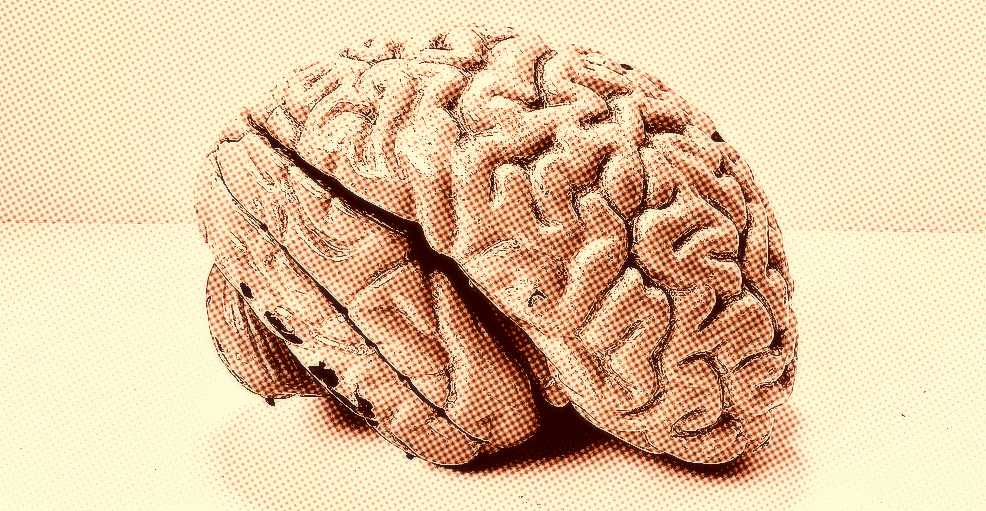
A tese de que a forçante social teria peso desprezível apoia-se em estudos multinacionais que determinaram que, no geral, em países com bons índices de igualdade de gênero, menos mulheres buscam trabalho ou graus acadêmicos avançados em matemática, engenharia ou ciência. Uma interpretação comum é que nesses países as mulheres são mais livres para fazer o que quiserem, e se elas não vão para as exatas, é porque não estão a fim.
O trabalho mais emblemático dessa linha é este, mas há outros, como este. Uma pesquisa de opinião pública realizada no Reino Unido reforça a percepção, ao detectar que a maioria das mulheres diz aspirar a empregos “em setores como educação, pesquisa, serviço público, mídia e publicidade”.
Essa leitura, no entanto, não é a única possível. Índices de igualdade de gênero incorporam variáveis econômicas, de saúde e presença na vida política, não culturais, como os estereótipos de masculinidade-feminidade prevalentes na sociedade ou as pressões familiares para que cada cônjuge desempenhe seu “papel” predeterminado. Esses problemas já foram apontados na literatura (aqui e aqui). Para quem conhece o bordão “racismo não é um problema no Brasil porque nunca tivemos leis de segregação racial”, a situação é parecida: tentam-se usar indicadores objetivos e explícitos (renda, acesso a serviços de saúde, legislação) para gerar conclusões fortes a respeito de realidades tácitas.
Mesmo reconhecendo que existem diferenças inatas entre os sexos, e que é razoável imaginar que essas diferenças informam as escolhas ocupacionais; e que sabemos a forma geral das diferenças (mulheres tendem a ser melhores com linguagem, homens com geometria, bebês do sexo feminino geralmente abraçam seus ursinhos, os do sexo masculino jogam-nos para longe), não sabemos sua real magnitude, como evoluem ao longo do tempo e nem como interagem e se desenvolvem no contato com o meio social.
Dada nossa ignorância sobre a configuração exata das forçantes que criam a “lacuna de gênero”, supor que o sexismo, uma forçante bem documentada ao longo de séculos e detectável ainda hoje, deixou de ter importância, num passe de mágica, porque descobrimos que existem diferenças inatas, é meio como supor que a radiação solar deixou de ser relevante para a regulação da temperatura da Terra, porque descobrimos a importância do CO2.
Diversidade
E como essas conclusões devem afetar as políticas – públicas ou de instituições privadas – a respeito de diversidade? Um argumento comum, citado inclusive numa das referências apontadas por Vieira, é o de que diversidade deve ser vista como um indicador de qualidade, não um promotor. Em outras palavras, uma métrica, não uma meta.
Nessa visão, se o seu ambiente for justo e livre de preconceitos, a diversidade simplesmente acontece. Logo, políticas explícitas de promoção da diversidade seriam como o governo mexer no cálculo do índice de inflação para conter a inflação: uma manipulação artificial (e, no fim, contraproducente) dos indicadores.
Há um par de problemas. O primeiro é o alto grau de abstração do modelo: o fato de uma instituição tratar de forma perfeitamente equânime todos os que chegam à sua porta não diz nada sobre a equanimidade do caminho que levou as pessoas até ali.
Outro é que diversidade tem, sim, um valor objetivo: a primatologia, por exemplo, ganhou muito quando mulheres entraram no campo e passaram a formular questões de pesquisa que não haviam passado pela cabeça dos cientistas homens. O próprio instituto da revisão pelos pares na ciência é um reconhecimento da importância da diversidade de pontos de vista.
Fechando o círculo, um artigo recente em Translational Psychiatry aponta a presença de vieses sexistas em pesquisa neurocientífica. Vieses que, ironicamente, se manifestam na seleção preferencial de animais de laboratório do sexo masculino – isto é, no pressuposto de que resultados obtidos em machos são automaticamente generalizáveis: o sexismo, no caso, está em pressupor que não existem diferenças relevantes entre os sexos.
NOTA (3/11, 15h05): Partes do início da segunda parte deste artigo foram rescritas para melhor representar a posição de Eli Vieira.
Carlos Orsi é jornalista e editor-chefe da Revista Questão de Ciência
