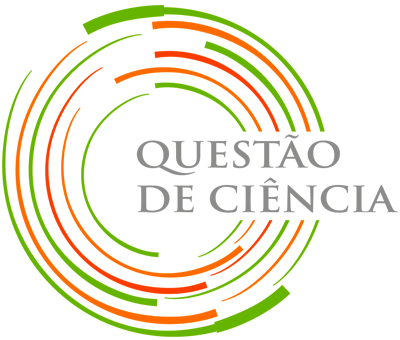Em 23 de maio de 2024, saiu a notícia de que o teatrólogo e documentarista americano Morgan Spurlock havia falecido, aos 53 anos, por complicações de um câncer.
Dentre as inúmeras obras que dirigiu, a mais destacada é o documentário “Super Size Me: A Dieta do Palhaço”, lançado em 2004 e indicado ao Oscar de 2005.
É um filme que deve interessar a todos os que se preocupam com nutrição. Está disponível gratuitamente no YouTube, e traz apontamentos importantíssimos sobre as redes de fast-food, principalmente a falta de opções saudáveis – quem diria – e o oferecimento de porções extremamente grandes (“super size”). A repercussão do documentário fez com que o McDonald’s retirasse essa opção do cardápio.
Caso você ainda não tenha visto o filme, farei um breve resumo.
Super Size Me
O documentário começa apontando como as redes de fast-food estão cada vez mais presentes, especialmente nos Estados Unidos, e como isso pode estar relacionado aos níveis alarmantes de obesidade enfrentados pelo país.
Em seguida, apresenta-se o processo movido por duas adolescentes contra a rede de fast-food McDonald’s por, de acordo com elas, tê-las “engordado”, ou como o juiz do caso resumiu, “as demandantes alegaram que as práticas do McDonald’s na fabricação e venda de seus produtos são enganosas, e que esse engano fez com que as menores que consumiram os produtos do McDonald’s tivessem a saúde prejudicada, ao se tornarem obesas”.
A queixa não convenceu o magistrado, que rejeitou a ação, mas ele fez a seguinte ressalva: “Se as demandantes pudessem demonstrar que o uso sugerido dos produtos do McDonald’s é serem consumidos em todas as refeições de todos os dias, e que o McDonald’s está ou deveria estar ciente de que comer produtos do McDonald’s em todas as refeições de todos os dias é excessivamente perigoso, elas poderiam ter um caso”.
Com base nesse trecho, o diretor Morgan Spurlock decide que irá consumir, pelos próximos 30 dias, somente produtos do McDonald’s.
Para aumentar o espetáculo, ele passa por um check-up completo e consulta-se com um cardiologista, um gastroenterologista e um clínico geral. Além de todos os exames estarem dentro da normalidade – o que, segundo a lógica do documentário, apontaria que quaisquer problemas de saúde subsequentes seriam efeito da alimentação –, ele afirma não beber, fumar ou ter qualquer problema de saúde.
Em seguida, consulta uma nutricionista para verificar qual seria o consumo calórico razoável para alguém com 1,89 metro e 84 kg. Segundo a profissional, o valor seria em torno de 2.500 kcal – guardem essa informação, pois ela será importante. Para acompanhar o processo, a nutricionista o orienta a fazer um diário alimentar para visualizar mais facilmente a quantidade de calorias ingeridas ao longo da experiência.
Spurlock também consulta um especialista em fisiologia do exercício para verificar o condicionamento físico e cardiovascular, sua gordura corporal (ao utilizar o adipômetro, foi constatado que Spurlock apresentava 11%) e um teste para avaliar força muscular e resistência (basicamente, realizar o maior número possível de flexões, que no caso foi 36). Com base neste último resultado, constatou-se que Morgan estava acima da média para sua faixa etária.
Após essa avaliação, iniciou-se o projeto, mas com algumas regras especiais: consumir três refeições diárias no McDonald’s (café da manhã, almoço e jantar); todos os itens do cardápio devem ser ingeridos, ao longo dos 30 dias, pelo menos uma vez; só é permitido ingerir alimentos que estão incluídos no menu do McDonald’s, incluindo a água engarrafada; caso a opção “super size” seja oferecida, deve-se aceitá-la; a caminhada ficou restrita para, no máximo, cinco mil passos ao dia, para mimetizar a atividade física de um americano médio.
Obviamente, essas mudanças bruscas no estilo de vida trouxeram consequências deletérias para a sua saúde, como letargia, depressão, perda de libido, redução dos níveis séricos de todas as vitaminas, ganho de peso, mudanças no perfil lipídico – principalmente em relação ao colesterol - e uma possível doença hepática gordurosa não alcoólica (acúmulo excessivo de triglicerídeos no fígado).
Em relação a este último aspecto, o médico responsável por Spurlock, ao analisar seu último exame de sangue e verificar os níveis séricos de ALT e AST, duas enzimas hepáticas que, quando elevadas, apontam dano no fígado, afirma que o resultado seria mais compatível com indivíduos que ingerem bebidas alcoólicas. Entretanto, por falta de evidências, não seria possível descartar um efeito da dieta.
Após os 30 dias, Spurlock ganhou mais de 10 quilos, 7% de gordura corporal, teve danos severos no fígado, um aumento vertiginoso em seu colesterol, além de todos os outros problemas citados.
Uma fraude produzida
Apesar do grande sucesso do documentário, e do fato de ele ainda ser utilizado em aulas de ciências e saúde, ele não se qualifica como evidência científica. No máximo, o que temos é uma crítica contundente ao modelo de negócio das redes de fast-food, mas que, infelizmente, está repleta de subterfúgios e mentiras
Acredito que o problema mais gritante é o fato de Morgan Spurlock ter admitido problemas com álcool desde os 13 anos e afirmar que, durante 30 anos, não conseguiu ficar uma única semana inteira sóbrio. Isso oferece uma explicação muito mais convincente para os dados encontrados em relação ao fígado. Ele também admitiu ter sofrido de depressão antes de iniciar as filmagens, o que explicaria a baixa motivação e a “falta de felicidade” que relatou durante todo o processo. Vale lembrar que, durante a anamnese realizada pelos médicos, antes do início do “experimento”, esses dois fatores foram omitidos.
Outro apontamento muito pertinente diz respeito à quantidade exorbitante de calorias consumidas pelo produtor. No caso, seu consumo diário ficava próximo a 5.000 Kcal, duas vezes mais do que ele gastava diariamente. Pouco importa se estamos tratando de alimentos in natura ou ultraprocessados, qualquer indivíduo que consuma o dobro do que gasta também ganhará peso, aumentará a porcentagem de gordura e, dependendo da duração dessa dieta, apresentará outros problemas de saúde relacionados à obesidade.
Os diários alimentares de Morgan nunca foram publicados para que investigadores independentes pudessem averiguar, de fato, o que e quanto foi consumido em cada refeição.
E vamos lembrar que Morgan cessou qualquer atividade física durante o período do experimento e limitou sua caminhada a, no máximo, 5.000 passos por dia. Essa ação, além de torná-lo sedentário – um fator de risco para o desenvolvimento de diversas patologias –, impactou diretamente em seu gasto calórico.
Após o final da “Mc diet”, Morgan começou uma dieta “detox” repleta de vegetais supostamente desintoxicantes, alimentos nutricionalmente ricos, orgânicos, frescos e sazonais. Esta dieta foi criada pela sua ex-esposa, Alex Jamieson, que, além de chef vegana, é nutricionista holística e autora do livro “The Great American Detox Diet: 8 Weeks to Weight Loss and Well-Being”, uma obra que retrata a dieta seguida por Spurlock para desintoxicar seu organismo e perder peso – não estou afirmando nada, mas acho curioso como eles conseguiriam surfar no destaque que o documentário recebeu e lucraram um pouco mais.
Apesar da mediocridade (e desonestidade) do documentário, admito que levanta uma questão interessante e pouco discutida.
Ambiente obesogênico
Em 1999, Swinburn, B. et al. publicaram um artigo intitulado “Dissecting Obesogenic Environments: The Development and Application of a Framework for Identifying and Prioritizing Environmental Interventions for Obesity”. Os autores apresentam um modelo teórico e descrevem um teste piloto para identificar fatores obesogênicos (literalmente, “causadores de obesidade”) no ambiente. Esta ferramenta ficou conhecida como “ANGELO” (sigla em inglês para “grade de análise para ambientes ligados à obesidade”), e pode ser utilizada para contextualizar ambientes obesogênicos e identificar possíveis intervenções.
A definição técnica de “ambiente obesogênico” é a “soma das influências que o entorno, as oportunidades ou as condições de vida têm na promoção da obesidade em indivíduos ou populações”. Ou seja, os obstáculos externos para a manutenção de um peso saudável.
Dentro deste modelo teórico, o ambiente é divido de acordo com o seu tamanho (micro ou macroambiente) e tipo (físico, econômico, político e sociocultural).
O microambiente é formado pelos grupos de pessoas que se reúnem para propósitos que envolvam atividades relacionadas à alimentação, atividade física ou ambos. São relativamente pequenos e influenciados por indivíduos. Dentro deste grupo, temos cenários claramente definidos como escolas, locais de trabalho, ambiente doméstico e vizinhança.
O macroambiente, por sua vez, refere-se a grupos de indústrias, serviços ou infraestrutura que podem influenciar os alimentos consumidos e as atividades físicas praticadas. Os agentes envolvidos podem operar tanto em escala regional quanto internacional e fora da esfera de influência de indivíduos isolados, mas não das influências dos setores público e privado.
Adentrando nos “tipos”, a dimensão física refere-se ao que está disponível, desde o que enxergamos no mundo visível até outros fatores menos tangíveis, como expertise em nutrição e exercícios físicos, por exemplo. Quando relacionado à alimentação, o ambiente físico diz respeito à disponibilidade de alimentos em restaurantes, supermercados, colégios e dentro de casa.
A dimensão econômica, como o nome sugere, refere-se ao custo dos alimentos, variando do custo de produção até o problema de insegurança alimentar, e das atividades físicas.
A dimensão política diz respeito às leis, políticas e regras institucionais relacionadas aos alimentos e atividades físicas.
A dimensão sociocultural refere-se às atitudes, crenças e valores de uma determinada sociedade ou comunidade em relação aos alimentos ou à prática de atividades físicas.
Ou seja, de acordo com essa lógica, tanto a atividade física como a alimentação são mediadas pelo ambiente, o que afeta os níveis de ganho ou perda de peso. Por exemplo, um ambiente que tenha acesso a ciclofaixas ou que ofereça alimentos saudáveis por um preço acessível é considerado um facilitador da manutenção de um peso corporal saudável. Já políticas – ou ações – que favoreçam a utilização de transporte individual motorizado e propagandas voltadas a crianças de alimentos ricos em açúcar e gordura são, obviamente, medidas que dificultam essa manutenção.
Pelo menos na teoria, isso faz todo sentido, como descrito no oitavo capítulo do livro “Nutrição na Prática Clínica Baseada em Evidências: Atualidade e Desafios”, de autoria de Quaresma, M. e Chemin, S. – uma obra indispensável para qualquer nutricionista. Os fatores ambientais relacionados à alimentação, como disponibilidade, qualidade, preço dos alimentos, publicidade, etc., podem influenciar de maneira positiva ou negativa as ações das pessoas. Atualmente, temos um ambiente mais favorável ao consumo de ultraprocessados, dada a dificuldade de substituí-los por alimentos frescos ou minimamente processados.
Com base nisso, os autores concluem: “Assim, são necessárias ações regulatórias governamentais na melhoria desses fatores e no incentivo à indústria e à sociedade civil para quebrar ciclos viciosos”.
Por mais que eu quisesse encerrar o artigo aqui e, com o punho em riste, afirmar que só é necessária a implementação de políticas públicas para o enfrentamento deste problema, há algumas complicações.
Existem poucas pesquisas de boa qualidade que confirmem a relação entre o ambiente classificado como obesogênico e a obesidade, e também sobre as medidas de intervenção ambiental que poderiam sanar o problema.
Só para exemplificar, Pineda, E. et al., na revisão sistemática intitulada “Food environment and obesity: a systematic review and meta-analysis”, realizaram uma busca na literatura, começando em 1946 e indo até 31 de janeiro de 2022, focando o impacto do ambiente de varejo alimentar na obesidade. Os autores tentaram determinar se, na literatura científica acumulada nesse período, há dados suficientes para a afirmar se, por exemplo, morar perto de um restaurante de fast-food, ou numa cidade onde há uma grande concentração desse tipo de estabelecimento, aumenta o risco de uma pessoa ser obesa.
No agregado, os estudos foram considerados de baixa qualidade. Com base na metanálise, observou-se que a densidade espacial de lojas de fast-food não influenciou significativamente os níveis de obesidade. No entanto, ao verificar a proximidade desses estabelecimentos com os níveis de obesidade, constatou-se uma associação significativa.
Também foi observada uma relação marginalmente significativa entre a densidade de restaurantes e a obesidade; no entanto, devido à escassez de dados, não foi possível avaliar o impacto da proximidade dos restaurantes.
Além disso, ao analisar a relação das lojas de conveniências com a obesidade, não foram observadas relações significativas tanto para a densidade quanto para a proximidade.
No caso dos supermercados, não foi identificada uma relação significativa entre a densidade e a obesidade. No entanto, a análise apontou uma relação inversa significativa entre a proximidade e os níveis da doença – ou seja, quanto mais próximo se mora de um supermercado, menores os riscos de obesidade. Essa relação inversa também foi observada entre a densidade de estabelecimentos que comercializam vegetais e frutas frescas.
Como conclusão, os autores destacam que, apesar da diversidade metodológica entre os estudos revisados, a literatura identifica consistentemente que o ambiente alimentar é um fator crucial na prevenção da obesidade.
Apesar dessa conclusão otimista, é importante reconhecer que há limitações importantes. A principal é que a maioria dos estudos não segregou os resultados por fatores demográficos cruciais, como faixa etária, gênero e situação socioeconômica.
Este último fator pode impactar os resultados encontrados, especialmente quando populações com diferentes níveis de poder aquisitivo são tradadas como homogêneas. Geralmente, famílias com menos recursos financeiros vivem em áreas com menos acesso a alimentos, ou onde esses produtos são mais caros do que em outras localidades, o que as obriga a adquirir produtos mais baratos e, na maioria das vezes, densos caloricamente e ricos em açúcar, sódio e gordura (como uma bolacha recheada, por exemplo).
Além disso, é importante lembrar que alimentos saudáveis tendem a levar mais tempo para serem preparados, o que também afeta a escolha alimentar.
A verdade é que não temos uma regra de ouro para nos guiar nessa situação. Aparentemente, facilitar o aceso a alimentos saudáveis e, principalmente, reduzir seu preço pode auxiliar na alteração do ambiente alimentar. No entanto, isso não significa necessariamente que haverá a redução do consumo de outros alimentos densamente calóricos, e tampouco nos índices de obesidade.
Talvez seja o meu viés cético, mas acredito que se não houver, em conjunto com tais políticas de intervenção alimentar, programas de educação nutricional, psicoterapias e, quando necessário, intervenções medicamentosa e cirúrgica, continuaremos despendendo recursos e não avançaremos na luta contra a doença.
Mauro Proença é nutricionista
REFERÊNCIAS
Food Law. McFat Litigation I – Pelman v. McDonald’s Corp. 237 F. Supp.2d 512 (S.D.N.Y. Jan 22, 2003). Disponível em: https://biotech.law.lsu.edu/cases/food/pelman01.htm.
LEONARD, T. Morgan Spurlock’s ‘Super Size Me’ documentary earned him millions – then he confessed his off-camera lies and a dark past of sexual perversion, addiction... and never worked a day again. 2024. Disponível em: https://www.dailymail.co.uk/news/article-13464965/Morgan-Spurlock-Super-Size-documentary-lies-sexual-harassment-alcoholism.html.
SWINBURN, B.; EGGER, G. e RAZA, F. Dissecting Obesogenic Environments: The Development and Application of a Framework for Identifying and Prioritizing Environmental Interventions for Obesity. Preventine Medicine Volume 29, Issue 6, December 1999, Pages 563-570. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4825481/mod_resource/content/1/Refer%C3%AAncia%2011.pdf.
QUARESMA, M. e CHEMIN, S. Nutrição na Prática Clínica – Baseada em Evidências: Atualidades e Desafios. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.
PINEDA, E. et al. Food environment and obesity: a systematic review and meta-analysis. BMJ Nutrition, Prevention & Health 2024;e000663. Disponível em: https://nutrition.bmj.com/content/early/2024/04/21/bmjnph-2023-000663.