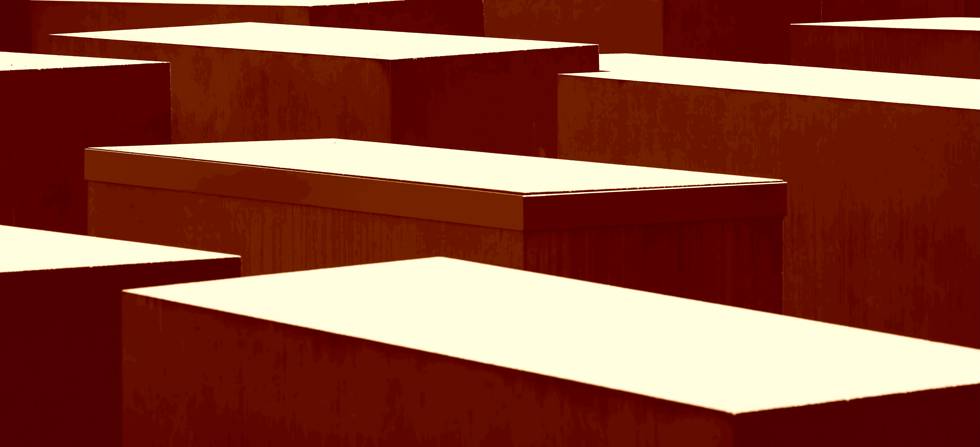
A história da medicina (e da ciência em geral, na verdade) tende a idolatrar sucessos e a varrer os fracassos, passos em falso e atos de pura vaidade e vilania para debaixo do tapete. Nisso, a história da ciência e dos cientistas difere da história política, onde vitórias e derrotas, períodos de prosperidade ou de crise, heróis e tiranos costumam atrair doses iguais de atenção.
Quando se narram as guerras travadas contra as grandes pragas, epidemias e dores variadas que afligem a humanidade, logo vêm à mente nomes como Florence Nightingale (cujas medidas sanitárias salvaram vidas durante a Guerra da Crimeia) e John Snow (que rastreou as origens de um surto de cólera na capital britânica e demonstrou a ligação entre essa doença e água contaminada por esgoto).
Os vilões — os que enriqueceram vendendo falsas curas, granjearam fama promovendo remédios inúteis, iludiram multidões com milagres de picadeiro e poções tóxicas — são relegados às notas de rodapé, aos baús de anomalias e gabinetes de curiosidade.
Alguns casos acabam entrando para o folclore, como o do curandeiro irlandês Valentine Greatrakes (1628-1682), que no ano final da Grande Peste de Londres, 1665, visitou a capital inglesa e causou comoção tal que, segundo uma testemunha da época, “os cegos imaginavam ver a luz que não viam — os surdos imaginavam que ouviam — os coxos, que andavam eretos (…) a ideia de saúde fazia os doentes esquecerem-se, temporariamente, de suas doenças”.
Greatrakes era um espertalhão curandeiro, candidato a profeta, e é assim que aparece nas notas de rodapé que lhe cabem nos tomos de história. Já o mal causado por figuras que temperavam o charlatanismo com uma pitada de respeitabilidade científica genuína era, ontem como hoje, tratado de modo mais circunspecto. “Grandes cientistas” costumam atrair mais simpatia dos pares (e dos historiadores) do que suas vítimas.
Johann Thölde (1565-1624) e Thomas Sydenham (1624-1689) são personagens que vêm à mente. Sydenham, um médico e intelectual respeitado em seu tempo e ainda hoje citado como o “pai da medicina inglesa”, tem também a distinção de ter sido o responsável pela popularização do láudano, uma mistura de ópio e álcool, originalmente oferecida como cuidado para a peste negra e que, depois, tornou-se um flagelo médico e social.
Thölde, por sua vez, foi um proto-químico, vendedor e editor alemão, lembrado mais, atualmente, como uma das figuras-chave na transição da alquimia medieval para química moderna, e um dos primeiros autores a descrever as propriedades do elemento químico antimônio.
Mas também ganhou muito dinheiro forjando (e imprimindo e vendendo) uma série de “tratados medievais”, atribuídos a um monge fictício, Basilius Valentinus, sobre os poderes medicinais do antimônio, que é tóxico.
O marketing do antimônio produzido por Thölde/Valentius foi tão bem-sucedido que, até o século 19, o elemento — classificado como “semi-metal” — ainda era usado como remédio para induzir vômito. Duas formas peculiares desse uso consistiam nas taças vomitórias, ou calicos vomitorii, e nas “pílulas perpétuas”. As taças, feitas de antimônio, quando cheias de vinho, liberavam o material tóxico na bebida. Se o vinho fosse muito ácido, a liberação era intensa e o drinque se tornava um veneno letal. O navegador britânico James Cook (1728-1779), que “descobriu” a Nova Zelândia e o Havaí para as potências europeias, tinha um copo desses.
Já as pílulas perpétuas eram bolinhas de antimônio, que, engolidas, passavam praticamente intactas pelo aparelho digestivo e podiam ser recuperadas, lavadas e reutilizadas. Daí, serem “perpétuas”.
Joshua Ward (1685–1761), médico e político, amigo do rei da Inglaterra George II, ficou famoso pela invenção das “Pílulas de Ward”, que segundo a propaganda, curavam qualquer coisa. Análises químicas comprovaram que eram feitas de antimônio, cobalto e arsênico.
Thölde, Sydenham e Ward, nunca é demais lembrar, eram todos cientistas (ou, ocupavam um espaço social muito semelhante ao que os cientistas de hoje ocupam) de boa reputação em seu tempo e, no caso de Sydenham e Ward, encontravam-se próximos de figuras importantes da intelectualidade e da política de suas épocas.
Teste do tempo
É tentador imaginar que nenhum remédio ou tratamento obviamente inútil ou prejudicial sobrevive ao teste do tempo — afinal, se as pessoas não melhoram ou começam a morrer, alguém há de notar, certo? E isso às vezes até acontece. No fim da década de 30 do século passado, uma certa fábrica de remédios nos Estados Unidos resolveu criar uma versão do antibiótico sulfanilamida que fosse agradável ao paladar infantil.
A mistura incluía açúcar, caramelo, essência de amora — e dietilenoglicol, um éter anticongelante e tóxico. Mais de cem pessoas (na maioria, crianças, já que o público-alvo do medicamento eram os pediatras) morreram, pais e médicos enviaram cartas de protesto ao governo e a lei americana foi reformada para exigir que os laboratórios fossem obrigados a oferecer prova de segurança antes de pôr uma nova droga no mercado.
Este caso, no entanto, contrasta com diversos outros exemplos históricos.
O mais citado, porque mais notável, é o das sangrias, ou flebotomia — a abertura de vasos para deixar o sangue fluir livremente — , tratamento comumente aceito até que um teste realizado em soldados portugueses, em 1816, demonstrou que a prática matava mais do que curava. De acordo com The Encyclopedia of Black Death, “em tempos normais, as pessoas da Idade Média e do início da Era Moderna poderiam sr sangradas várias vezes ao ano, como meio de preservar a saúde”.
A primeira menção conhecida da sangrias como procedimento medicinal aparece num manuscrito egípcio de 1550 AEC. Um texto atribuído a Hipócrates (460 AEC-370 AEC), o pai da medicina, recomenda-as (junto com saunas) para dor nos olhos (Aforismos, 31).
Consideremos, por um momento, que o mal causado pela flebotomia passou despercebido pela maioria dos médicos (e pacientes!) por quatro mil anos, mesmo depois de virar procedimento de rotina, e só veio completamente à luz graças a um ensaio controlado. Enfim, esse tal de “teste do tempo” (e seu irmão mais novo, o “saber empírico”) não parece ser a coca-cola toda que dizem por aí.
Há, ainda, exemplos um pouco mais benignos. Durante séculos, o templo de Esculápio em Epidauro, na Grécia, foi o principal centro de cura do mundo antigo. Doentes dirigiam-se até lá para se submeter ao ritual da incubação. Nesse rito, os afligidos passavam a noite e dormiam numa área especial do templo, o abaton, esperando que Esculápio, o deus da Medicina, lhes aparecesse em sonho e ditasse o tratamento adequado.
Sacerdotes (que viviam das doações deixadas pelos doentes) faziam a manutenção ds instalações e interpretavam os sonhos. Arqueólogos já encontraram inúmeras placas votivas, contendo depoimentos de pacientes satisfeitos que gravaram, para a posteridade, seus sonhos divinos e curas maravilhosas. É sempre útil lembrar que os pacientes insatisfeitos não deixavam testemunhos — ou, se deixavam, os sacerdotes tinham muito pouco incentivo em preservá-los.
Caminho do túmulo
Durante um surto de peste negra que atingiu a Holanda em 1635, o médico e anatomista Ysbrand van Diemerbroek (1609-1674), autor do tratado De Peste, decidiu fumar como profilático — três cachimbos após cada refeição, e também quando havia defuntos por perto.
Décadas depois, durante a Grande Peste londrina de 1665, e que incidentalmente acabou matando cerca de 100 mil pessoas (20% da população da capital inglesa, na época) crianças receberam a recomendação de usar tabaco na escola. Em Eton, um colégio de elite, os garotos que se recusavam a fumar para afastar a doença eram açoitados.
A história da relação do ser humano com a doença e a cura ensina que o caminho para o túmulo está pavimentado de boas intenções. Muitas vezes essas intenções, declaradas “boas”, são fortemente influenciadas por fraquezas demasiado humanas como ganância, vaidade e inveja, embaladas no celofane do “desprendimento” e da “compaixão”.
A pandemia atual vem testando várias dimensões de nossa humanidade, como a resiliência, a solidariedade, a serenidade, a inteligência e a perseverança. A necessidade de evitar repetir erros do passado é mais uma dessas provas.
Carlos Orsi é jornalista e editor-chefe da Revista Questão de Ciência
