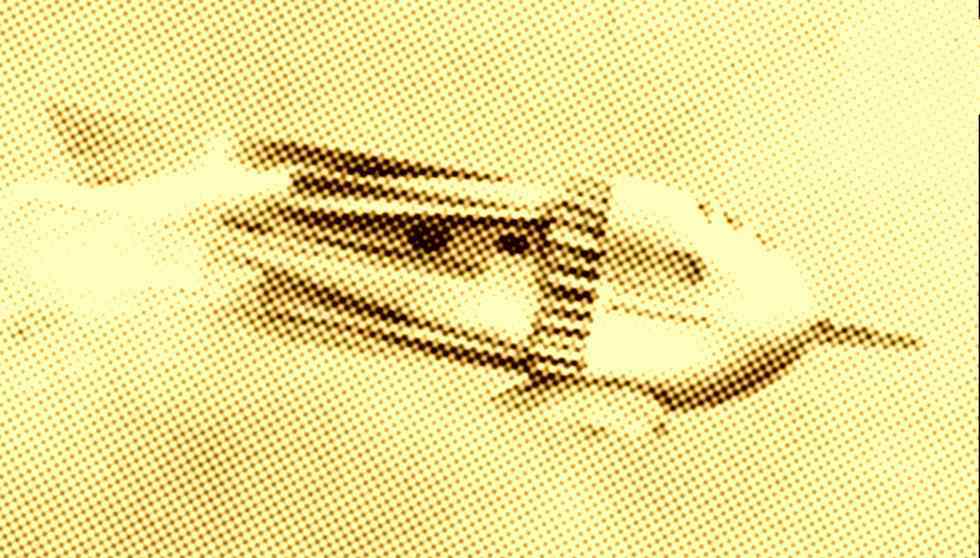
Nas últimas semanas o mundo assistiu dois dos homens mais ricos do planeta subirem ao espaço a bordo de projetos bancados por suas enormes fortunas. Mais que extravagâncias de bilionários excêntricos – houve quem comparasse os breves voos suborbitais de Richard Branson e Jeff Bezos, com poucos dias de diferença, às disputas entre Tio Patinhas e Patacôncio na fictícia Patópolis dos quadrinhos Disney –, porém, as viagens mostram que eles e outros empresários veem o setor aeroespacial como uma grande oportunidade de negócio, e de lucro, parte de um processo de crescente mercantilização da conquista espacial.
Historicamente, a exploração espacial foi um empreendimento eminentemente estatal. Constatação óbvia na pioneira União Soviética (hoje Rússia) e na emergência da China como nova potência da área, ela se mostra também verdadeira no caso dos EUA. Ali, apesar de grande parte dos equipamentos ter saído das linhas de montagem do complexo industrial-militar privado, seu desenvolvimento e fabricação foi financiado e pago por uma agência governamental, a Nasa, desde o pioneiro Projeto Vanguard, que lançou o primeiro satélite artificial do país, nos anos 1950, aos programas de voos tripulados que culminaram no Apollo, que levou o primeiro homem à Lua em 1969.
Foi só a partir do governo Barack Obama, em 2010, que o programa espacial americano assumiu de vez seu lado comercial. Então, o ex-presidente dos EUA enterrou o projeto Constellation – iniciado pelo seu antecessor, George W. Bush, com o objetivo de desenvolver novos veículos lançadores para a Nasa tendo em vista a iminente “aposentadoria” de seus ônibus espaciais, numa linha de crescente capacidade denominada Ares, que primeiro levaria astronautas e equipamentos para a Estação Espacial Internacional (ISS), depois de volta à Lua e, por fim, numa missão tripulada à Marte nos anos 2030 – e entregou a responsabilidade de providenciar meios para viajar à baixa órbita da Terra à iniciativa privada, dentro de programa de parcerias público-privadas que a agência espacial gestava desde 2006.
Enquanto isso, a Nasa focaria em novo projeto de um foguete de grande porte, o SLS (Space Launch System), ainda tendo como meta final uma viagem ao planeta vermelho, e nos seus programas de exploração robótica do Sistema Solar, observatórios astronômicos espaciais e satélites de observação da Terra, entre outras iniciativas de cunho eminentemente científico. Não por acaso, os dois programas abertos pela agência espacial para estimular as empresas americanas a produzirem suas alternativas – via verbas oficiais e garantias de contratos de transporte de cargas e astronautas para a ISS, caso vencessem a concorrência – trazem a palavra “comercial” em seu nome: Commercial Resupply Services e Commercial Crew Program.
Musk
Quem saiu na frente nesta nova corrida espacial privada foi justamente outro bilionário, Elon Musk, que fez fortuna como um dos criadores do PayPal. Entusiasta da conquista do espaço, o empresário de origem sul-africana fundou em 2002 a empresa aeroespacial SpaceX exatamente com o objetivo de reduzir os custos no setor de forma a viabilizar seu sonho de colonização de Marte. Para tanto, ele vislumbrava o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis, tendo comparado os lançadores convencionais de uso único a pegar um táxi e incendiar o carro ao chegar no destino.
Depois de alguns percalços, com três fracassos seguidos em lançamentos de testes de seu primeiro modelo de foguete, Falcon 1, que quase levaram a SpaceX e o próprio Musk à falência, em setembro de 2008 a empresa finalmente realizou um voo bem-sucedido, fazendo do Falcon 1 o primeiro foguete de combustível líquido totalmente bancado pela iniciativa privada a alcançar a órbita da Terra, a um custo total estimado de cerca de US$ 100 milhões. Com isso, a SpaceX também garantiu o primeiro contrato da Nasa para desenvolvimento de um sistema de reabastecimento da ISS, sendo salva da bancarrota.
E foram apenas os primeiros dos muitos “primeiros” que ainda viriam nestas quase duas décadas de existência da companhia. Sob as exigências do contrato com a Nasa, a SpaceX acelerou o desenvolvimento do que viria a ser o exemplo de sucesso e carro-chefe dos serviços comerciais de lançamento da empresa até hoje, o foguete Falcon 9. Desde seu voo inaugural de testes em 2010, já foram 126 lançamentos do Falcon 9 com 124 missões bem-sucedidas, um sucesso parcial e a perda de apenas uma nave, além de uma explosão ainda na plataforma.
Entre estas missões, houve a primeira viagem de reabastecimento da ISS "terceirizada" pela Nasa, para cumprir suas obrigações junto ao consórcio internacional de construção e operação da estação espacial, em outubro de 2012; o primeiro pouso controlado e recuperação de estágio de um foguete lançador para possível reuso, em dezembro de 2015; o primeiro efetivo reuso desta que é a principal e maior parte de um foguete em novo lançamento, em março de 2017, com um primeiro estágio que já havia voado em missão para a Nasa em abril do ano anterior; e o primeiro voo tripulado usando foguete e cápsula, batizada Dragon, desenvolvidos dentro do programa comercial da Nasa, em maio de 2020.
A missão inaugural da Dragon marcou a retomada de lançamentos tripulados a partir do território dos EUA, interrompidos desde a aposentadoria dos ônibus espaciais americanos após a última missão do Atlantis, em julho de 2011.
Com isso, Musk tem hoje uma das mais competitivas operações de lançamento espacial no planeta. Um voo com um Falcon 9 novinho em folha custa US$ 62 milhões, enquanto um do Falcon Heavy, o foguete de alta capacidade da empresa (basicamente três Falcon 9 unidos) e um dos mais poderosos em uso no mundo atualmente, sai por US$ 90 milhões. Isto, porém, são “preços de tabela”, com o custo podendo chegar a US$ 50 milhões no caso do Falcon 9, e descontos ainda maiores se usando foguetes recuperados e reaproveitados – em maio deste ano, um deles foi usado pela décima vez, uma das metas da empresa –, além da possibilidade de “pegar carona” em missões que não usem toda capacidade dos equipamentos com pequenas cargas de até 200 quilos por apenas US$ 1 milhão, ou US$ 5 mil por quilo.
A título de comparação, os EUA pagavam US$ 81 milhões à Rússia por uma vaga para seus astronautas nas cápsulas Soyuz rumo à ISS, enquanto o custo básico por quilo (não o preço do serviço) dos lançadores mais “baratos” em operação atualmente – os foguetes Longa Marcha chineses e o indiano LVM – é estimado na faixa de US$ 7,6 mil a US$ 8 mil, e o de concorrentes diretos do Falcon 9, com históricos similares de uso (mas não de sucesso), como o Atlas V e o Delta IV, chega a US$ 8,1 mil e US$ 10,4 mil, respectivamente.
Novos mercados
Mas as oportunidades e mercados que estes e outros bilionários investidores pretendem explorar no setor vão muito além de serviços de lançamento. Os voos de Branson e Bezos, por exemplo, fazem parte da nova indústria do “turismo espacial”, e que conta ainda com a participação de outros nomes de destaque como o empresário do ramo da hotelaria americano Robert Bigelow. Vendendo lugares em suas naves da Virgin Galactic desde o início dos anos 2010 por preços que foram de US$ 200 mil a US$ 250 mil, o britânico Branson deve, em breve, começar a mandar passageiros para a fronteira do espaço, a cerca de 100 km de altitude, na VSS Unity, onde poderão experimentar o ambiente de microgravidade e brincar com a momentânea falta de peso por alguns minutos, além de admirar a curvatura da Terra e o breu do céu. Experiência similar à que Bezos pretende oferecer aos clientes da sua Blue Origin a bordo de sua cápsula New Shepard, a custo ainda a ser divulgado.
Bigelow, um entusiasta da ufologia, por sua vez, pretende lançar estações orbitais infláveis que permitiriam oferecer aos seus clientes uma experiência muito mais longa do que os poucos minutos de microgravidade das empresas Branson e Bezos. Em 2020, no entanto, o braço aeroespacial do grupo empresarial do milionário demitiu todos os funcionários, culpando a pandemia de COVID-19.
Já a americana Space Adventures pretende oferecer viagens para a órbita terrestre usando a SpaceX e seu sistema Falcon 9/Dragon, e se propõe a realizar uma viagem circunlunar (de ida e volta da órbita da Lua) usando equipamentos russos em 2025 para dois interessados ao preço de US$ 150 milhões cada.
Empresa pioneira no ramo, a Space Adventures foi a responsável por intermediar as viagens dos hoje únicos sete turistas espaciais do mundo para a ISS entre 2001 e 2009, a um custo inicialmente informado de US$ 20 milhões cada.
Minério
Outro negócio que também está chamando a atenção de empreendedores é a mineração espacial. Em 2012, Eric Anderson, um dos fundadores da Space Adventures, e Peter Diamandis anunciaram a criação da empresa Planetary Resources com o objetivo de identificar asteroides e outros objetos espaciais de potencial econômico para exploração e abastecimento do que seria um depósito de combustível para foguetes na órbita da Terra. Os planos, porém, não foram em frente, e a empresa foi fechada. Projeto similar ao da Deep Space Industries, que apesar de vendida para a Bradford Space continua em operação e conta com apoio do Instituto para Conceitos Avançados da Nasa.
Também de olho no setor, em 2016 o governo de Luxemburgo anunciou oferta de US$ 200 milhões em financiamento para pesquisas e desenvolvimento de tecnologias de mineração espacial para empresas que concordassem em se instalar no país, tendo fechado acordos de cooperação neste sentido com os governos de Japão, Portugal e Emirados Árabes Unidos.
Mais recentemente, o ex-presidente dos EUA Donald Trump assinou, em 2020, ordem executiva para encorajar as empresas de seu país a investirem na área, reforçando legislação sancionada por Obama em 2015, segundo a qual americanos teriam direito de propriedade, exploração e uso de recursos obtidos no espaço e negando a adesão ao Tratado da Lua, acordo internacional de 1979 que pretendia regular a exploração econômica do satélite, em moldes similares ao do Tratado da Antártica, mas que até hoje só conta com a ratificação de 18 nações, nenhuma delas com capacidades espaciais.
Segundo especialistas, tanto a iniciativa de Luxemburgo quanto a de Trump, porém, ainda esbarram no chamado Tratado do Espaço Sideral. Fechado em 1966, no auge da Guerra Fria, este acordo tinha como objetivo principal evitar uma corrida armamentista no espaço, determinando seu “uso pacífico” e que o espaço, a Lua e outros corpos celestes “não podem ser objetos de apropriação por qualquer país, seja por reivindicação de soberania, uso, ocupação ou qualquer outro meio”, com sua exploração voltada para o benefício de todos os países da Terra.
Ratificado ou aceito por mais de 120 países, o Tratado do Espaço Sideral, no entanto, teria efeito vinculante apenas de seus Estados signatários, deixando brechas que a iniciativa privada poderia aproveitar para reivindicar a posse de riquezas ou territórios para além da órbita do planeta. Promotores da ideia argumentam, por exemplo, que, embora talvez seja impossível obter a escritura de um asteroide (ou da Lua, ou de um terreno em outro planeta), materiais extraídos de corpos celestes são, tradicionalmente, vistos como propriedade de quem financiou sua extração: foi o que aconteceu com as rochas lunares obtidas pelo Projeto Apollo, e com as amostras coletadas de cometas e asteroides por sondas robóticas.
Desafios regulatórios são apenas parte do problema da mineração espacial, porém. Os custos de levar os equipamentos necessários até o destino, lutando contra a gravidade terrestre, e de gerar ali a energia para ativá-los são, ao menos na economia atual, proibitivos.
Cesar Baima é jornalista e editor-assistente da Revista Questão de Ciência
