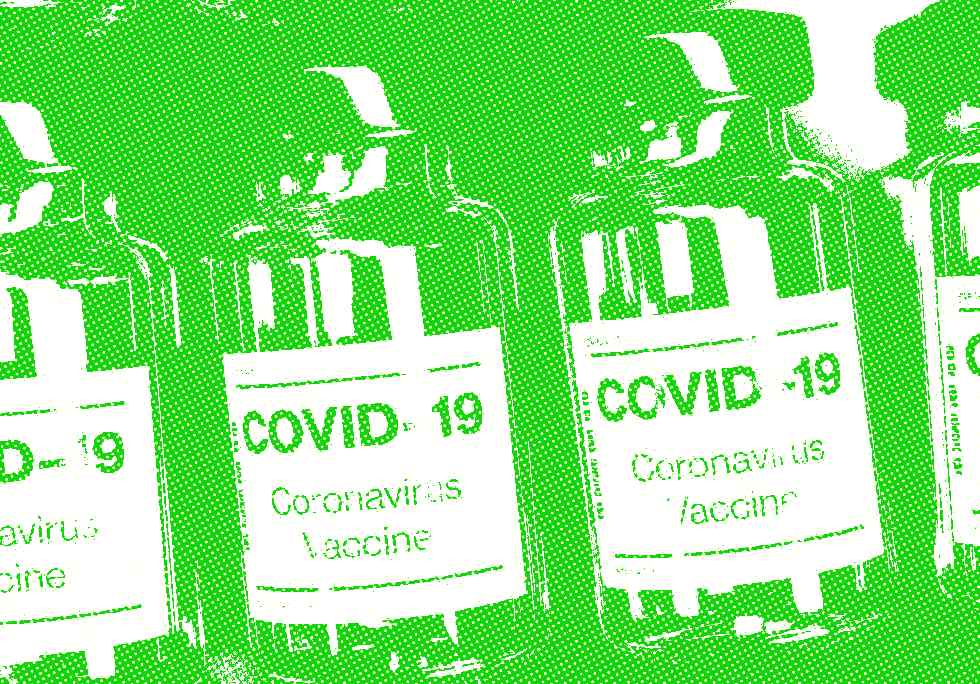
Um dos focos das investigações da CPI da pandemia de COVID-19 no Senado Federal, o conceito de “imunidade de rebanho”, ou imunidade coletiva, parte da noção de que à medida que uma doença infecciosa se espalha numa população, seu causador – um vírus ou bactéria, por exemplo – encontra cada vez menos gente suscetível, o que ajuda a cortar as cadeias de transmissão e, assim, diminuir o número de vítimas. Ideia que também norteia a vacinação em massa como estratégia para controle de epidemias. Com a notável diferença de que poucas pessoas adoecem e morrem quando se busca a imunidade coletiva por meio de vacinas.
Não foi, porém, a escolha do governo Jair Bolsonaro. Sob o pretexto (fracassado) de “preservar a economia”, e mal aconselhado por um chamado “gabinete paralelo” composto por correligionários, médicos, empresários e outros apoiadores negacionistas, o presidente, escorado na falsa promessa do “tratamento precoce” com os infames “Kits Covid” de cloroquina, ivermectina e outros remédios sabidamente inúteis contra a doença, adotou como plano de enfrentamento da pandemia, ainda que sem declará-lo abertamente, a busca da imunidade de rebanho natural, sem vacina, numa aposta que custou a vida de milhares de pessoas.
Para tanto, Bolsonaro desdenhou da gravidade da doença e se posicionou ativamente contra as medidas de contenção do vírus, promovendo aglomerações e criticando o uso de máscaras e as medidas de distanciamento social, entre outras atitudes negligentes. Situação que também favoreceu o surgimento de variantes do vírus, com resultados trágicos.
Amostra disso é o que se passou em Manaus entre agosto do ano passado e o início deste ano. Sob a falsa ideia de que a capital do Amazonas estava próxima de uma suposta imunidade de rebanho, alimentada pela divulgação equivocada de estudo que sugeria uma alta prevalência de infecção prévia pelo SARS-CoV-2 na cidade, autoridades e população praticamente abandonaram as medidas preventivas, levando a novo aumento no número de casos.
Com esta alta circulação, o vírus também teve muitas oportunidades para sofrer mutações, por fim tornando-se não só mais transmissível como capaz de evadir parcialmente a imunidade conferida pelas infecções anteriores. Inicialmente designada P.1, a variante brasileira, recentemente denominada Gama pela Organização Mundial da Saúde (OMS), espalhou-se rapidamente entre os manauaras, numa explosão de casos que provocou o colapso no atendimento do sistema de saúde local, tragicamente ilustrado pelo episódio da falta de oxigênio para pacientes, em janeiro deste ano.
Dali, a variante também se espalhou pelo país, aumentando as médias nacionais diárias de casos e mortes a mais do dobro e até o triplo do pico anterior da pandemia, em julho de 2020, e mantendo-as em patamares elevados. Resultado: o Brasil é hoje um exemplo internacional de fracasso na luta contra a pandemia, contabilizando, até agora, mais de meio milhão de mortos, ou cerca de 13% das vítimas fatais da doença no mundo, numa população que equivale a aproximadamente apenas 2,7% da mundial.
Não que o país esteja sozinho nesta. A Suécia também apostou na estratégia da imunidade de rebanho natural, com resultados igualmente desastrosos. Mais que isso, porém, o descontrole da pandemia aqui e em outros países arrisca inviabilizar o próprio encerramento da crise sanitária por meio de erradicação, ou mesmo eliminação, do vírus via vacinação em massa, pelo menos no médio prazo. Isto porque a cada variante do SARS-CoV-2 que se desenvolve corresponde a possibilidade de o vírus tornar-se mais transmissível e/ou eficiente no escape vacinal, entre outras características, de forma a ainda conseguir se espalhar mesmo com boa parte da população já vacinada.
Para tentar evitar isso, é preciso vacinar muito, mais rápido e, se possível, com vacinas cada vez melhores, alertam especialistas como a médica epidemiologista brasileira Denise Garrett, vice-presidente do Instituto Sabin de Vacinas, nos EUA. Dada a desigualdade e lentidão na distribuição dos imunizantes, no entanto, o mais provável é que o vírus se torne endêmico, continuando a circular e a provocar surtos por ainda muito tempo no futuro; numa perspectiva otimista, domado por uma combinação de resistência natural e a proporcionada pela vacinação, de modo a provocar uma doença quase sempre leve, aí sim, efetivamente, uma “gripezinha” (ressaltando que a gripe sazonal mata um número estimado de 290 mil a 650 mil pessoas em todo mundo, anualmente).
Equação simples
Para entender esta trajetória, no entanto, é preciso voltar às origens da própria ideia de imunidade de rebanho. Em paralelo à pandemia de Gripe Espanhola que então varria o mundo, em 1918 criadores de gado do estado americano do Kansas enfrentavam uma doença que há anos se espalhava em seus rebanhos. Infectadas pela bactéria Brucella abortus, suas vacas sofriam abortos espontâneos, com os animais doentes sendo prontamente sacrificados, gerando prejuízos.
Foi quando o veterinário George Potter sugeriu uma abordagem diferente: não matar as vacas infectadas, que desta forma poderiam se curar sozinhas e ficar imunes à infecção. Potter argumentava que, com o tempo, isto resultaria num rebanho imune à bactéria, e o pecuarista não mais precisaria se preocupar com ela. Daí também o caráter “veterinário” da referência ao fenômeno, hoje também chamado de “imunidade coletiva”.
Avançando no tempo, a partir dos anos 1960 a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou uma ofensiva global de combate a doenças infecciosas tendo como carro-chefe um plano para erradicar a varíola, que depois seria a base de seu Programa Ampliado de Imunização. Alvo da primeira vacina da história, criada pelo britânico Edward Jenner no fim do século 18, a doença continuava a assombrar a Humanidade, tendo deixado um rastro de milhões de mortos ao longo de milhares de anos.
Para isso, porém, era preciso saber não só se o ambicioso objetivo era atingível como qual proporção da população mundial teria que ser imunizada para que ele fosse alcançado. Entram em cena então os modelos epidemiológicos. No mais simples deles, de um tipo conhecido como SEIR (de “suscetível”, “exposto”, “infectado” e “removido”), uma doença infecciosa se espalha numa população totalmente suscetível a uma velocidade diretamente ligada à taxa de reprodução básica do patógeno, isto é, quantas pessoas um infectado em média contamina, conhecida como R0.
Se esta taxa for maior que 1, a doença é epidêmica, com o número de vítimas aumentando exponencialmente. Se ela for igual ou menor que 1, por sua vez, a doença se torna endêmica. A gripe sazonal, por exemplo, tem uma R0 que na média fica na casa de 1,3. Já a cepa original do SARS-CoV-2, identificada na cidade chinesa de Wuhan, teve a taxa inicialmente estimada em cerca de 2,5, enquanto a da caxumba pode passar de 10 e a do sarampo (uma das doenças mais contagiosas conhecidas) chega a quase 30, dependendo a quem se pergunta e como se calcula. No caso da varíola, a literatura científica aponta números que vão de 1,5 a mais de 20, com estudo com base em dados históricos prevendo que ficaria entre 3,5 e 6 se o vírus voltasse a se espalhar entre a população mundial hoje, com a vacinação tendo sido interrompida décadas atrás.
Conhecida a R0 do patógeno, pode-se então ver em que momento a curva ascendente de infecções muda de direção e começa a cair. Este pico representa o ponto em que a imunidade de rebanho começa a fazer efeito, até que uma pessoa infectada em média transmita a doença para menos de uma outra, num limite dado por uma equação relativamente simples, 1-(1/R0). Tomando por base as estimativas para o vírus original da COVID-19, ele estaria então por volta de 0,6, ou 60%, da população.
Isso, porém, presumindo uma “imunidade perfeita”, isto é, que quem já foi infectado pelo vírus não volte a ficar doente e nem se torne um transmissor, o que os casos de reinfecção mostram não ser verdade. E o mesmo vale para as vacinas, com suas eficácias determinadas. Assim, a equação ganha mais uma variável, assumindo a forma 1-(1/R0)/Ve, onde Ve é a eficácia da vacina. Novamente tomando como exemplo o SARS-CoV-2 original de Wuhan e usando a vacina da Pfizer, que teve eficácia calculada em 95% na fase 3 dos ensaios clínicos, o limiar de imunidade de rebanho com a vacinação fica em 63%.
Realidade complexa
A realidade, no entanto, é muito mais complexa. Não é por menos que em dezembro do ano passado, questionado sobre onde estaria este limiar de imunidade com o início da vacinação em seu país, Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos EUA, afirmou que entre 70% e 85% dos americanos precisariam estar vacinados, deliberadamente elevando a meta que circulava desde o início da pandemia.

A começar, o vírus não ficou “parado” este tempo todo, passando por mutações que o tornaram mais transmissível. Diferentes estudos indicam que a variante Alfa (B.1.1.7), primeiro identificada no Reino Unido em setembro de 2020, pode ser de 43% a até 100% mais transmissível que a cepa de Wuhan, isto é, tem uma R0 que pode corresponder a até o dobro do vírus original. Pior ainda a Delta (B.1.617.2), surgida na Índia em outubro e que agora se espalha pelo planeta, já respondendo por 99% dos novos casos de infecção pelo SARS-CoV-2 na Inglaterra, 60% em Lisboa e 90% em Moscou, e levando Austrália e Israel, um dos países com as maiores taxas de vacinação contra a COVID-19 do mundo, acima de 60%, a restabelecer algumas medidas restritivas recém-abandonadas, como a obrigatoriedade no uso de máscaras, e cogitar a reimposição de lockdowns.
Pesquisas apontam que a variante Delta é entre 30% a 100% mais transmissível que a Alfa, com diferentes especialistas estimando ter uma taxa básica de reprodução que chega a 8. Introduzindo este novo valor na equação de limiar de imunidade coletiva com a vacina da Pfizer, a cobertura vacinal necessária sobe para 92,1%, e alcança impossíveis 125% da população com os 70% de eficácia geral da Oxford/Astrazeneca, 130% com os 67% da dose única da Janssen e 175% com os 50% da Coronavac, para citar as vacinas atualmente em uso no Brasil.
“Por isso costumo dizer que esta equação da imunidade de rebanho é bem dinâmica”, diz Denise. “Muito embora ela basicamente só tenha a taxa de reprodução do vírus como variável, muitas outras coisas vão influenciar nisso. A eficiência das vacinas no mundo real, que difere da eficácia registrada nos testes, vai ter influência em termos de cobertura, enquanto a velocidade da vacinação vai ter também, por conta das mutações que vão acontecendo no vírus. E o papel destas variantes não está só na mudança da taxa de reprodução, mas também do possível escape vacinal. Tudo isso, no final, são fatores que vão influenciar se vamos alcançar ou não uma imunidade de rebanho”.
Problemas que não param por aí. Como ressaltado anteriormente, a equação presume uma imunidade “perfeita”, isto é, que os vacinados em que a imunizante fez efeito não voltam a ficar doentes nem a transmitir o vírus. Originalmente testadas apenas quanto à capacidade de prevenir doença sintomática e agravamento, só agora as vacinas disponíveis, como a da Pfizer e a Oxford/AstraZeneca, começam a ser avaliadas quanto à influência na transmissão. E embora estudos preliminares indiquem uma correlação disso com a eficácia geral, a tradução não é completa, com uma redução na probabilidade de transmissão por vacinados calculada em apenas 40% a 50%, cita Denise.
“A interrupção da transmissão é uma pergunta que ainda está para ser respondida, mas vejo estes resultados com otimismo”, avalia a epidemiologista, que destaca a dificuldade em fazer este tipo de mensuração, especialmente diante do fato que são os assintomáticos os principais vetores de disseminação do vírus, sendo muito trabalhoso e complicado não só identificá-los como rastrear as pessoas que tiveram contato com eles. “Mas era uma hipótese que não tínhamos antes, e hoje sabemos que mesmo os vacinados que se contaminam estão transmitindo menos o vírus”.
Outro fator complicador é a duração da imunidade conferida pelas vacinas, também em grande parte desconhecida. Embora estudo recente indique que as vacinas de RNA, como a da Pfizer e da Moderna, desencadeiam respostas imunes celulares poderosas na forma de células especializadas no combate ao SARS-CoV-2 que permanecem de prontidão na medula óssea por ao menos oito meses, e pesquisas anteriores apontem que as células de memória da luta contra o vírus no sistema imune continuam a maturar e se fortalecer por ao menos um ano após a infecção, não se sabe a potência e efetividade desta proteção ao longo do tempo.
“Aí entra também a questão da velocidade da vacinação”, diz Denise. “A imunidade de rebanho é resultado direto de como as vacinas funcionam, não só na eficácia mas também da velocidade que são administradas e a dinâmica da população”.
Vida com responsabilidade
Diante de tudo isso, a epidemiologista também hesita em indicar se e quando atingiremos uma imunidade coletiva capaz de proporcionar a uma população ansiosa pelo fim da pandemia um retorno à “vida normal”, dispensando máscaras e retomando atividades sociais sem o medo da morte e a responsabilidade de não ajudar a espalhar a doença.
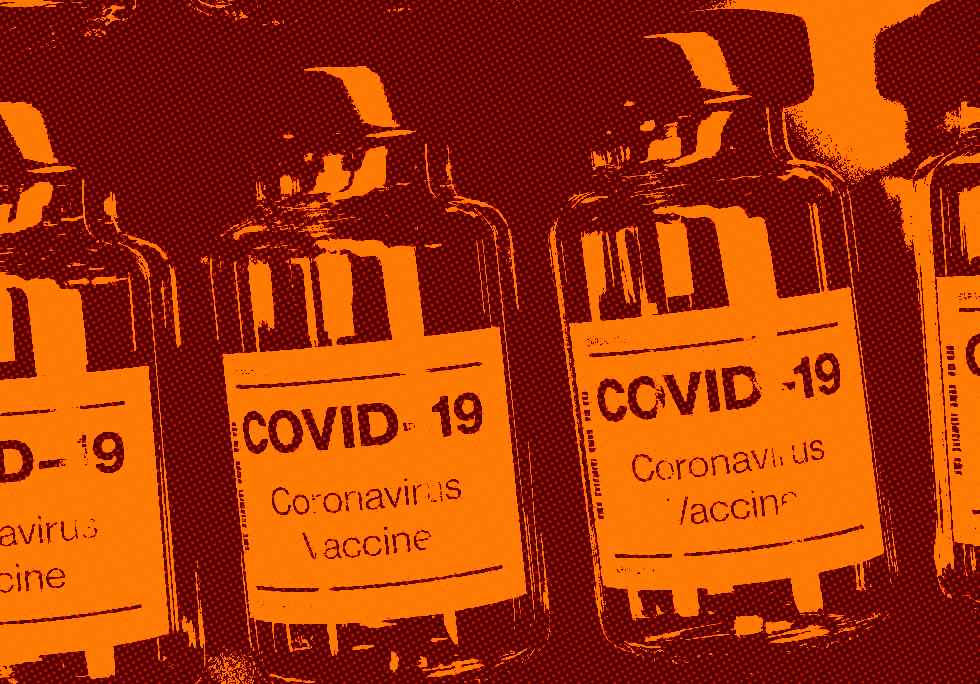
“Esta é a pergunta de US$ 1 milhão”, comenta. “Vejo uma imunidade coletiva possível com vacinas com uma efetividade maior, justamente pelo fato de que a taxa básica de transmissão do vírus está aumentando. Usando vacinas com efetividades menores e que não têm grande impacto na transmissão, acho que não vamos alcançar nunca uma imunidade de rebanho. Precisamos de mais gente tomando vacinas melhores, e mais rápido”.
Denise frisa, no entanto, que diante dos números da pandemia no Brasil, ainda não é hora de pensar nisso.
“Ainda estamos num momento de pensar mais em evitar hospitalizações e mortes do que em imunidade de rebanho”, considera. “E estamos vendo isso acontecer com todas as vacinas em uso, inclusive com relação às novas variantes do vírus”.
Por isso a epidemiologista também acredita ser irreal falar em erradicação, e sequer eliminação, do vírus a esta altura, devendo-se focar na mitigação de seus impactos quando ele inevitavelmente se tornar endêmico.
“Chegamos a um ponto que é difícil falar em eliminação do vírus agora, muito menos erradicação”, diz. “O vírus vai continuar circulando e será algo que vamos ter que lidar por muitos anos ainda. Então, também é difícil prever quando vamos poder viver sem outras medidas de controle. A questão é admitir que as vacinas sozinhas não vão magicamente nos tirar desta situação neste momento. Sim, elas são das armas mais sólidas que temos para combater a pandemia, mas diante de tantos fatores, é essencial ter consciência de que isso vai além da vacinação em massa. Ao adotar e respeitar medidas de contenção como distanciamento social e uso de máscaras, estamos reduzindo a taxa efetiva de transmissão do vírus e colaborando para trazer para baixo o limiar da imunidade de rebanho, pelo menos no sentido de proteger as pessoas que não podem se vacinar, como crianças, ou que não têm uma resposta adequada às vacinas, como imunossuprimidos e idosos”.
Neste sentido, cresce também a importância de lutar contra a desinformação dos movimentos antivacina e atitudes cada vez mais comuns no país de escolha do imunizante, os apelidados “sommeliers de vacina”, que estão atrasando e atrapalhando o processo.
“O primeiro objetivo agora é ter o maior número de vacinados com o que está disponível, para que estas pessoas tenham proteção contra doença grave, hospitalização e morte”, defende. “Os números contam muito para isso, como contam as outras ações para conter a transmissão”.
Estratégia também importante para que o SARS-CoV-2 não se mostre tão mortal quanto hoje nesta provável futura fase endêmica.
“O fato de que o vírus vai se tornar endêmico não é difícil prever, mas é difícil prever como vai ser esta endemicidade”, diz Denise. “Tem gente que fala que o vírus vai ficar circulando mas vai se tornar algo mais leve, não vai provocar uma doença tão severa como agora. Eu sou uma otimista e tendo a ir com esta previsão. Vejo que com as vacinas protegendo contra doença mais grave, ela vai tender para ser algo mais branda, e realmente aí se tornar a tal da ‘gripezinha’ tão falada pelo presidente”.
A epidemiologista ressalva, porém, que não temos controle para onde o vírus vai evoluir, não descartando a possibilidade dele continuar a provocar doença grave em alguns casos. Mesmo assim, ela permanece com uma visão otimista.
“Tenho certeza que vamos conseguir vencer esta pandemia, mas temos que pensar na abordagem necessária para chegar a este ponto, que vai envolver usar todas as ferramentas que temos disponíveis além das vacinas, incluindo medidas não farmacológicas como máscaras e distanciamento social, que continuarão necessárias por muito tempo ainda”, conclui.
Cesar Baima é jornalista e editor-assistente da Revista Questão de Ciência
