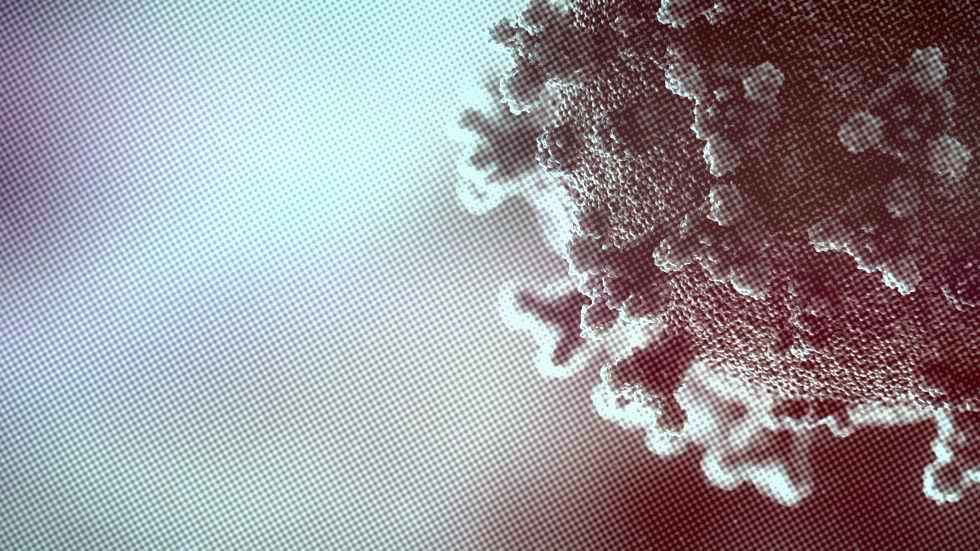
Desde o início da pandemia de COVID-19, um conceito epidemiológico até então geralmente usado para destacar a importância da vacinação ganhou protagonismo nas discussões sobre a doença, alçado à esperança de uma resolução natural da crise sanitária. Conhecido como imunidade de rebanho, ou imunidade coletiva, ele aponta o cenário em que a proporção de pessoas imunes a uma doença contagiosa numa população atingiu um nível tal que o agente infeccioso – no caso da COVID-19, o novo coronavírus SARS-CoV-2 – tem dificuldades em encontrar indivíduos ainda suscetíveis, quebrando as cadeias de contágio e reduzindo sua taxa efetiva de transmissão. Quando esta taxa, indicada pela sigla “Re”, fica abaixo de 1, uma doença deixa de ser epidêmica, e se cai o bastante, ela pode ser praticamente suprimida ou até erradicada.
São diferentes os caminhos que podem levar à imunidade de rebanho. O melhor e mais racional, do ponto de vista da saúde pública, é uma ampla e generalizada vacinação com um imunizante seguro e eficaz, o que justifica os altos investimentos na corrida para o desenvolvimento de uma vacina para o SARS-CoV-2. Foi com vacinas assim que a Humanidade conseguiu controlar a disseminação doenças graves e altamente contagiosas como o sarampo e a pólio e acabar com a varíola, que fez incontáveis vítimas ao longo dos séculos.
Outra possibilidade é o agente infeccioso se espalhar de tal forma na população que a imunidade de rebanho acaba sendo alcançada naturalmente, chegando a um ponto de inflexão na curva epidemiológica dos modelos SEIR (de Suscetíveis-Expostos-Infectados-Removidos) em que a velocidade de propagação da doença atinge um pico e começa a cair. Essa via, no entanto, traz a reboque diversos problemas e perigos, em especial no caso de uma doença nova e ainda em grande parte desconhecida como a COVID-19.
Premissa primeira
Primeiro, ela parte da premissa de que os infectados pelo SARS-CoV-2, quer fiquem assintomáticos ou tenham sintomas leves, moderados ou severos da doença, desenvolvem uma imunidade efetiva e duradoura ao novo coronavírus. Sem isso, os curados, no lugar de serem removidos do conjunto dos suscetíveis, voltam a integrar o grupo, podendo ficar doentes e/ou transmitir o vírus, impedindo a quebra das cadeias de contágio.
Hoje, porém, passados sete meses do início da pandemia, ainda não se sabe se existe, e quanto tempo dura, esta suposta imunidade. Estudos com base em exames sorológicos indicam uma queda abrupta na quantidade de anticorpos contra a doença no organismo em poucas semanas ou meses após a infecção, e embora haja indicativos de uma forte resposta imune celular, tanto na forma de linfócitos T quanto B, dois tipos importantes de células no sistema de defesa do corpo, também já há relatos de casos raros de reinfecção.
Risco de complicações
Esta abordagem para o (des)controle da pandemia também traz consigo o perigo das muitas e, novamente, ainda pouco compreendidas complicações da COVID-19, com as consequentes sobrecarga nos sistemas de saúde, mortes evitáveis de pacientes desta e outras doenças e eventuais sequelas futuras e duradouras de alguns dos recuperados. Mesmo com os dados indicando maior risco para algumas parcelas da população, como idosos e pessoas com comorbidades como diabetes, problemas no coração, respiratórios ou de coagulação e imunodeprimidos, não faltam relatos de óbitos de jovens aparentemente fortes e saudáveis.
Foi só ao ser confrontado com esta possibilidade que, ainda em março, o governo britânico do primeiro-ministro Boris Johnson desistiu da ideia de deixar o SARS-CoV-2 correr solto em meio à população do Reino Unido, isolando apenas as pessoas com mais de 70 anos e outros fatores de risco, para construir uma imunidade de rebanho “natural” no país. Em um estudo que ficou notório por seu alerta para a importância da adoção de medidas de contenção não farmacológica da pandemia, como o isolamento de doentes e seus contatos, fechamento de escolas e comércio e o distanciamento social, o Imperial College de Londres (ICL) projetou que o número de mortes no Reino Unido poderia passar do meio milhão, caso nada fosse feito.
Isso não impediu, no entanto, que a (má) ideia, vez ou outra, tenha voltado à baila ao longo desta pandemia, inclusive aqui no Brasil. Em mais de uma ocasião o presidente Jair Bolsonaro defendeu que o país enfrentasse a crise sanitária “como homem” e afirmou ser inevitável que o vírus atingisse uma grande parcela da população. “Aproximadamente 70% da população vai ser infectada , não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade?”, afirmou no fim de abril. Questionado sobre o grande número de mortes que isto acarretaria, Bolsonaro respondeu “não ser coveiro”.
Mau conselheiro
Mais recentemente, outro governante que sugeriu adotar a estratégia foi o presidente dos EUA, Donald Trump. Ele, que em abril já havia aventado a possibilidade dando como exemplo o caso da Suécia - cuja hesitação em adotar medidas de contenção mais rigorosas fez do país o retrato da má gestão da crise sanitária na Europa -, voltou à carga no mês passado. Instado por Scott Atlas, seu mais novo conselheiro médico, ele afirmou em um programa da rede ABC News acreditar que seu país pode chegar em breve ao que erroneamente chamou de “mentalidade de rebanho” no lugar de “imunidade de rebanho”.
Atlas, um neurorradiologista sem experiência com doenças infecciosas ou epidemiologia, foi nomeado por Trump no início de agosto para servir de contraponto a Anthony Fauci, uma das mais respeitadas autoridades científicas na área nos EUA, onde dirige o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas (NIAID) desde 1984, e um dos líderes da força-tarefa para o enfrentamento da pandemia na Casa Branca. Atlas ganhou notoriedade nos últimos meses por suas aparições na emissora conservadora americana Fox News em que minimizava a COVID-19 e a necessidade de testagem em massa, defendendo a reabertura da economia e a volta às aulas sem uso de máscaras e distanciamento social entre as crianças, entre outras posições contrárias às da grande maioria dos especialistas.
“Um dos principais conselheiros médicos do presidente Trump está exortando a Casa Branca a adotar a controversa estratégia de ‘imunidade de rebanho’ para combater a pandemia”, relatava o jornal americano Washington Post em 31 de agosto, em referência ao então recém-indicado Atlas. “O governo já começou a implementar algumas políticas ao longo desta linha, dizem atuais e antigas autoridades públicas e especialistas, particularmente com relação à testagem”.
Não por acaso, Bolsonaro, Trump e Johnson estão entre os líderes mundiais “agraciados” com o satírico prêmio IgNobel de Educação Médica este ano “por ensinar ao mundo que políticos podem ter um efeito mais imediato sobre a vida e a morte do que cientistas e médicos”.
A ciência e o desconhecido
A declaração de Trump na entrevista à ABC News levanta outras questões importantes e desconhecidas sobre a ideia de imunidade de rebanho para a COVID-19: ela pode ser atingida? Qual proporção da população deve ser infectada para isso? E o quão perto estamos deste limiar? Presumindo que ela seja factível, que toda a população seja inicialmente suscetível e que todos os recuperados desenvolvem uma imunidade perfeita contra o vírus, isto é, além de não adoecerem mais, não transmitirem mais o vírus, o modelo epidemiológico básico do tipo SEIR indica este ponto numa equação relativamente simples: Ir = [1 – (1/R0)]*100, na qual o limiar da “imunidade de rebanho” (Ir), expresso em porcentual da população, é dependente da taxa de transmissão básica (R0) do patógeno, ou seja, quantas pessoas em média um infectado contamina se não for adotada nenhuma intervenção para sua contenção, como as medidas de distanciamento social.
No caso do SARS-CoV-2, um vírus novo, este número ainda é objeto de grande incerteza, com as estimativas para seu R0 variando de pouco mais de 2 a 8 ou mais. A título de comparação, a gripe sazonal comum tem um R0 de 1,3, e o sarampo, 18. Tomando como base uma taxa mínima de 2,5, pelo modelo simplificado seria preciso que 60% da população fosse infectada para chegar à imunidade de rebanho. Já um valor médio de 4 eleva este ponto para 75%, enquanto aos 8 vai a 87,5%. Modelos mais complexos, levando em conta diversos outros fatores e ponderações, como mobilidade e interações sociais estratificadas por faixa etária, apontam para uma faixa entre 40% e 70%, com um estudo controverso, com a participação de pesquisadores brasileiros, chegando a um mínimo de apenas entre 10% e 20%.
Mas mesmo que soubéssemos com certeza qual é este limiar, falta descobrir se estamos perto dele. De acordo com boa parte dos estudos sorológicos mais recentes, ainda muito longe. A fase 3 do monitoramento SoroEpi MSP, no município de São Paulo, realizado o fim de julho e divulgado em agosto aponta que 17,9% da população paulistana tem anticorpos contra o vírus, enquanto levantamento nos EUA publicado recentemente na revista Lancet indica que menos de 10% dos americanos dariam positivo neste tipo de teste também em julho. Estes estudos, no entanto, enfrentam sérias limitações, entre elas a mencionada queda abrupta no número de anticorpos pós-resolução, o papel da memória do sistema imune (que pode voltar a produzir anticorpos rapidamente em caso de novo contato com o vírus) e falta de precisão ou eficácia dos exames, com muitos falsos positivos ou falsos negativos.
Sinais contrários
E locais que já enfrentaram uma explosão de casos e mortes e depois viram estes números caírem rapidamente, não seriam um indício de que a imunidade de rebanho da COVID-19 é possível e está próxima? Até recentemente, países europeus como Reino Unido, Espanha, França e Itália eram apontados como exemplos disso, bem como Manaus e Rio de Janeiro. Lá, como cá, o início da pandemia foi marcado por imagens de hospitais lotados e enterros em massa, que serviram de alerta para a gravidade da crise sanitária, com o posterior recuo nos casos, associado não só aos efeitos das medidas de contenção e distanciamento social, mas também supostamente ao fenômeno. Impressão que foi reforçada, por exemplo, pela divulgação, em 21 de setembro, de estudo indicando que 66% da população da capital do Amazonas já teria contraído o vírus.
O cenário, no entanto, não se sustentou por muito tempo. Com a chegada do verão no Hemisfério Norte e relaxamento das medidas de contenção, os países europeus viram o número de casos de COVID-19 voltar a explodir nas últimas semanas, estabelecendo novos recordes no que já está sendo classificado como o início de uma “segunda onda” da pandemia no continente e levando à reimposição de restrições. Graças à curva de aprendizado no tratamento da doença e ao fato de ela agora estar atingindo principalmente faixas mais jovens da população, que sem as restrições voltaram freneticamente às ruas, bares, restaurantes e praias, este aumento felizmente não está sendo acompanhado com equivalente alta nas mortes, o que dá a falsa impressão de menor gravidade da situação.
Em Manaus, ocorre fenômeno semelhante. Depois de ver a média móvel de novos casos cair de mais de 600 no fim de maior para a faixa de 250 em julho e agosto e um mínimo de cerca de 180 em meados de setembro, a capital amazonense viu este indicador voltar a subir fortemente e bater a casa dos 460 na última quinta-feira, 1º de outubro. Como acontece na Europa, internações e óbitos, no entanto, ainda permanecem em níveis mais baixos, situação que pode mudar à medida que os novos casos evoluem.
Outro exemplo que pode ser citado disso é o Rio de Janeiro. Não há dados recentes sobre a prevalência de anticorpos para a COVID-19 na população da cidade, mas levantamentos feitos entre maior e junho, cujos resultados foram publicados em 23 de setembro último na revista Lancet Global Health, apontam que ela estava em 7,5% então. Assim, depois de também ver uma tendência geral de queda nos casos e mortes entre julho e agosto até meados de setembro, o estado volta a observar um aumento nos indicadores nas últimas semanas, puxado principalmente pela capital, onde a ocupação de leitos de UTI na rede pública chegou a 78% também na última quinta-feira e está em 90% na rede privada.
Estratégia temerária
Tendo em vista estas informações, e o ainda grande desconhecimento sobre a COVID-19, apostar na imunidade de rebanho com a luz no fim do túnel da pandemia mostra-se uma estratégia e ilusão temerosa e temerária tanto na teoria quanto na prática. Mesmo admitindo um limiar relativamente baixo, na casa dos 60%, e uma mortalidade por caso (CFR) ainda mais otimista, na casa de 0,5%, pouco maior do que a gripe sazonal comum, isso ainda significaria a morte de 630 mil dos cerca de 210 milhões de brasileiros, ou quase meio milhão a mais que as 145 mil vítimas oficiais até agora.
Números que seriam igualmente trágicos no caso dos países europeus e dos EUA, onde cálculos com diferentes parâmetros, mas também otimistas, projetam até 450 mil mortes totais na França e de mais de 2 milhões americanos para que a imunidade de rebanho seja alcançada. Ou, como resumiu Thomas R. Frieden, ex-diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), em recente reportagem sobre o assunto no New York Times: “o caminho para a imunidade de rebanho sem uma vacina seria pelos cemitérios cheios de centenas de milhares de americanos que não precisavam morrer”. Ou brasileiros, franceses, espanhóis, indianos…
Cesar Baima é jornalista e editor-assistente da Revista Questão de Ciência
