
(Texto corrigido às 10h51 de 5/2/2020 por conter erro de informação. Detalhes no fim da matéria)
Do início de dezembro até o dia 4 de fevereiro, o novo coronavírus infectou 20.630 pessoas em todo o mundo, sendo 20.471 na China, e matou 425, só uma delas fora da China (números do boletim diário da Organização Mundial da Saúde, a OMS). Nesse mesmíssimo período, 20 milhões de americanos pegaram a gripe sazonal, aquela que sempre aparece no inverno do hemisfério norte, 140 mil tiveram de ser hospitalizados e 8.500 morreram, em apenas dois meses.
No ano passado, a gripe comum matou 61.000 americanos. A gripe, para qual existe vacina, mata por ano 650.000 pessoas em todo mundo.
As pessoas deveriam preocupar-se com a gripe, muito mais do que com o coranavírus, que até esta data sequer circula no Brasil. Pessoalmente, tenho medo de gripe porque minha avó Polly me contava histórias da gripe espanhola, aquela que matou entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas no mundo entre 1917 e 1919. Ela só não causou mais pânico – num tempo em que nem notícias, nem seres humanos viajavam com rapidez – porque o planeta estava apavorado com algo ainda pior, a Primeira Guerra Mundial.
No território brasileiro, todos os anos as secretarias de saúde têm de prorrogar as campanhas de vacinação contra a gripe, porque as pessoas não vão aos postos e sobram vacinas. Não que o novo cononavírus não mereça cautela e atenção, mas, na ponta do lápis, a nossa grande preocupação deveria ser a gripe sazonal, que costuma chegar por aqui em junho ou julho.
Ou então, talvez, a dengue, que teve um aumento de 488% no número de casos no ano passado, atingindo 1.544.987 e matando 782 pessoas. Que tal a febre amarela, que, como se previa, chegou aos Estados do Sul do país? Lembra-se das filas nos postos de saúde, com gente dormindo na rua para se vacinar e dos postos às moscas, quando as vacinas apareceram? Por que preferimos entrar em pânico com as viroses novas e distantes, em vez de nos concentrar nos assassinos virais já conhecidos?
No seu “Armas, Germes e Aço”, Jared Diamond, ganhador do Prêmio Pulitzer, diz que a dominação de uma população humana sobre a outra foi determinada pelo acesso a metais e armas, mas nossa história biológica, enquanto espécie, foi moldada pela luta contra bactérias e vírus.
Vírus são coisinhas tão esquisitas que até hoje biólogos debatem se são seres vivos ou não, já que não têm metabolismo, nem se reproduzem fora da célula de um hospedeiro – que pode ser uma bactéria, um fungo, uma planta ou animal, como nós.
Um vírus é basicamente um envoltório de proteína com material genético dentro, que pode ser DNA ou RNA, como é o caso dos coronavírus, do HIV e do FIV, a “versão felina” do HIV. Assim que entram numa célula, vírus sequestram a maquinaria genética do hospedeiro e passam a se reproduzir, até matar essa célula e liberar mais vírus para infectar outras células.
Diferentes vírus têm diferentes estratégias para se propagar, mas há algumas “regras”. “Vírus de alta letalidade costumam ser de difícil transmissão”, conta Edison Durigon, professor de Virologia do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP). O ebola, por exemplo, é altamente letal e transmissível por meio de secreções, principalmente fezes, sangue e vômito e superfícies secas contaminadas por essas secreções por algumas horas.
Na África, onde condições sanitárias são precárias e muitos grupos têm a tradição de a família lavar o corpo do morto para prepará-lo para enterro, a transmissão é rápida. Mas em países com sistema hospitalares capazes de manter pacientes em isolamento, o risco de transmissão é baixíssimo. Do ponto de vista do vírus, combinar alta letalidade e alta transmissibilidade não é uma estratégia muito boa: se ele faz as duas coisas, pode eliminar uma população inteira de hospedeiros antes de conseguir se propagar para outras.
Já o HIV tem outra estratégia, bem mais interessante do ponto de vista de sua sobrevivência e propagação (mas não do ponto de vista do paciente): ele infecta a pessoa e se esconde, às vezes durante anos, enquanto não só se reproduz, mas também encontra novos hospedeiros.
Vírus como o influenza, que causa a gripe, e outros vírus que afetam o sistema respiratório, como os coronavírus, levam vantagem na quantidade de infectados e não na letalidade – embora também matem bastante. Influenza e coronavírus têm muito em comum e não apenas a forma de transmissão, pessoa a pessoa. A maioria de suas vítimas fatais tem o mesmo perfil: crianças muito novas, cujo sistema imune ainda não está maduro, e idosos, notadamente os portadores de doenças crônicas, como diabetes, e especialmente os portadores de doenças crônicas respiratórias, como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema e outras.
Esse é o perfil da maioria dos mortos da epidemia do novo coronavírus na China: homens com mais de 65 anos e portadores de doenças crômicas. Pelo que se sabe até agora, 83% das pessoas que contraíram o novo corona se recuperam rapidamente. “Nesses casos, o corona atinge as vias aéreas superiores, causando apenas faringite ou laringite”, explica Durigon. Nos mais graves, porém, ele atinge as vias aéreas inferiores, causando pneumonia viral. “Existem poucos medicamentos específicos contra vírus, muitos deles desenvolvidos para a aids, e o chineses estão testando combinações desses antirretrovirais, na esperança de encontrar algo que funcione nos casos mais graves”, conta o especialista.
Outra coisa em comum entre os corona e os influenza é que eles tendem a se propagar no inverno, quando o frio faz com que as pessoas se concentrem em ambientes fechados e fiquem muito próximas uma das outras. “Ao contrário do que acontece com o vírus do sarampo, que fica por um bom tempo em suspensão no ar, o corona se transmite diretamente de pessoa para pessoa. Eles detestam calor e clima seco, precisam permanecer nas secreções que são molhadas, porque, em meio seco, ele simplesmente morre”, acrescenta Durigon, que costuma atender, no Hospital Universitário da USP, crianças com infecções respiratórias causadas por outros tipos de corona, nos meses de inverno.
“Eu aposto no calor para conter o corona, e não é à toa que os países do hemisfério norte, onde é inverno, estão tão preocupados. Tempo é fundamental. Quando mais tempo se puder segurar o novo coronavírus na China, maior a chance de termos medicamentos ou vacina para combatê-lo. Para nós, no Brasil, o pior cenário é que ele chegue por aqui junto com a gripe sazonal, já que os sintomas são parecidos”, diz Durigon.
Se não se sabe sequer se a transmissão do corona é sustentável, isto é, se o vírus vai se comportar fora da China da mesma maneira que se comporta por lá, por que tanto pânico? E por que tanta tranquilidade diante do crescimento da dengue, da expansão da febre amarela e da chegada de uma nova gripe? A resposta está no processo de “naturalização da doença”.
Ouvi essa expressão pela primeira vez, durante um surto impressionante de dengue no Rio, numa das minhas muitas conversas telefônicas com José Marcos Ribeiro, brasileiro que trabalha em Bethesda, Maryland, no National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID), um dos institutos dos National Institutes of Health (NIH), mantidos pelo governo dos Estados Unidos.
Zé Marcos é um especialista em saliva de mosquito – algo que meus editores no Estadão consideraram “bizarro e desinteressante”, mesmo depois que expliquei que todos os vírus e bactérias que causam doenças transmitidas por mosquitos (malária, dengue, zica, febre amarela, doença do sono...) se acumulam na saliva, que entra na nossa pele quando somos picados por um deles.
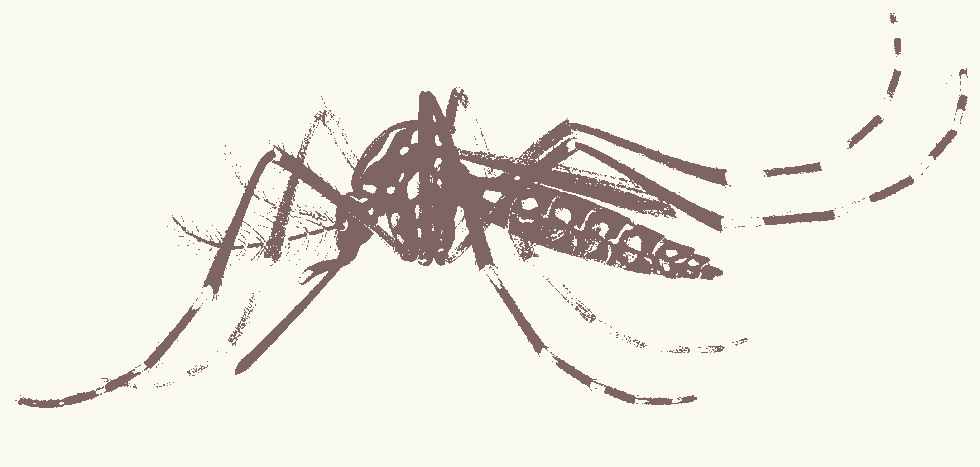
Apesar do veto à publicação da entrevista, pelos motivos acima, continuamos a conversar e, um belo dia, ele me contou que tinha procurado amigo pesquisador no trabalho, no Rio, e o encontrou em casa, dia de semana. “Tô de dengue, cara. Minha terceira dengue”, explicou o amigo com naturalidade. “Isso é perigosíssimo”, me disse o Zé Marcos. “Primeiro porque a população abaixa a guarda, se descuida, porque passa a achar ‘natural’ pegar a doença. E, em segundo lugar, ela para de pressionar os governos a agir”, me explicou.
A população acha “natural” pegar o perigoso sarampo, febre amarela, dengue, zika, chikungunya e, claro, pegar gripe todo ano. Poucos anos após as epidemias de SARS e H1N1, ninguém dá a mínima para esses vírus – o H1N1 é o vírus que mais causou gripe no Brasil no ano passado e continua circulando, mas quem se importa? O problema é o novo coronavírus, que até agora mostrou baixa letalidade.
“Fenômenos muito comuns não chamam atenção e isso está na base do processo de naturalização de doenças que aparecem todo ano”, explica o psiquiatra Daniel Barros, do Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas da USP. “Eles não são mobilizadores de memória e atenção porque nosso cérebro foi programado assim, foi programado para prestar atenção no novo, na mudança, porque o novo pode ser uma ameaça.”
Imagine nossos ancestrais na luta diária para conseguir alimentos, convivendo com animais ameaçadores e grupo rival nas proximidades, quando aparece um novo grupo humano na região. Ele é novo, ele é mudança e, portanto, imediatamente o cérebro passa a acompanhar seus movimentos, tentando identificar suas intenções, se estão de passagem ou se vieram para ficar e competir por recursos escassos, se vão ou não se aliar a nossos inimigos.
É a mesma coisa com uma doença nova, em nossos tempos agravado pelo bombardeio midiático, pelo noticiário em tempo real em que cada caso registrado em uma país que não a China interrompe o fluxo normal da programação para ser anunciado, juntamente com a contagem diária de novos casos e novas mortes. Não importa o tom em que a notícia é disseminada, o resultado é medo.
Amigos têm me perguntado se há perigo no recebimento de encomendas vindas da China, se podem pegar coronavírus no almoço de domingo nas ruas do bairro paulistano da Liberdade (onde, na verdade há poucos chineses, a maioria dos imigrantes lá é de japoneses e coreanos) ou se é perigoso fazer as unhas com a manicure de olhos puxados que a pessoa conhece há anos.
Algumas pessoas, de traços ocidentais, têm desfilado pelas ruas da Liberdade usando máscaras. Não é a primeira vez, nem será a última, em que uma nova doença dispara uma reação de medo acompanhada de manifestações de preconceito.
Na emergência provocada pelo ebola em 2014, houve um caso suspeito (e descartado) no Brasil que provocou um clamor, nas redes sociais, para que o governo impedisse a entrada de africanos no Brasil. Lembro de uma incauta que, depois de xingar a então presidente Dilma Rousseff, insistiu que “todos esses africanos, inclusive esses do Haiti” deviam ser impedidos de entrar no país.
Desta vez, a grita foi contra Jair Bolsonaro, que segundo certos “epidemiologistas autodidatas” do Facebook, deveria impedir a entrada de chineses no País e, ao mesmo tempo, repatriar os brasileiros da região mais afetada pela doença. Asiáticos têm sido hostilizados lá fora e aqui.
Cedo ou tarde, o corona chega por aqui. Mas provavelmente as pessoas nem vão se lembrar dele: estarão apavoradas com mais uma nova doença.
CORREÇÃO: Originalmente, o texto afirmava que morrem de 5 mil a 6 mil brasileiros de gripe a cada ano. O dado, no entanto, não tem fonte confirmada. A maioria das estimativas põe o número anual de mortes por influenza no Brasil na casa das centenas.
Ruth Helena Bellinghini é jornalista, especializada em ciências e saúde e editora-assistente da Revista Questão de Ciência. Foi bolsista do Marine Biological Lab (Mass., EUA) na área de Embriologia e Knight Fellow (2002-2003) do Massachusetts Institute of Technology (MIT), onde seguiu programas nas áreas de Genética, Bioquímica e Câncer, entre outros
