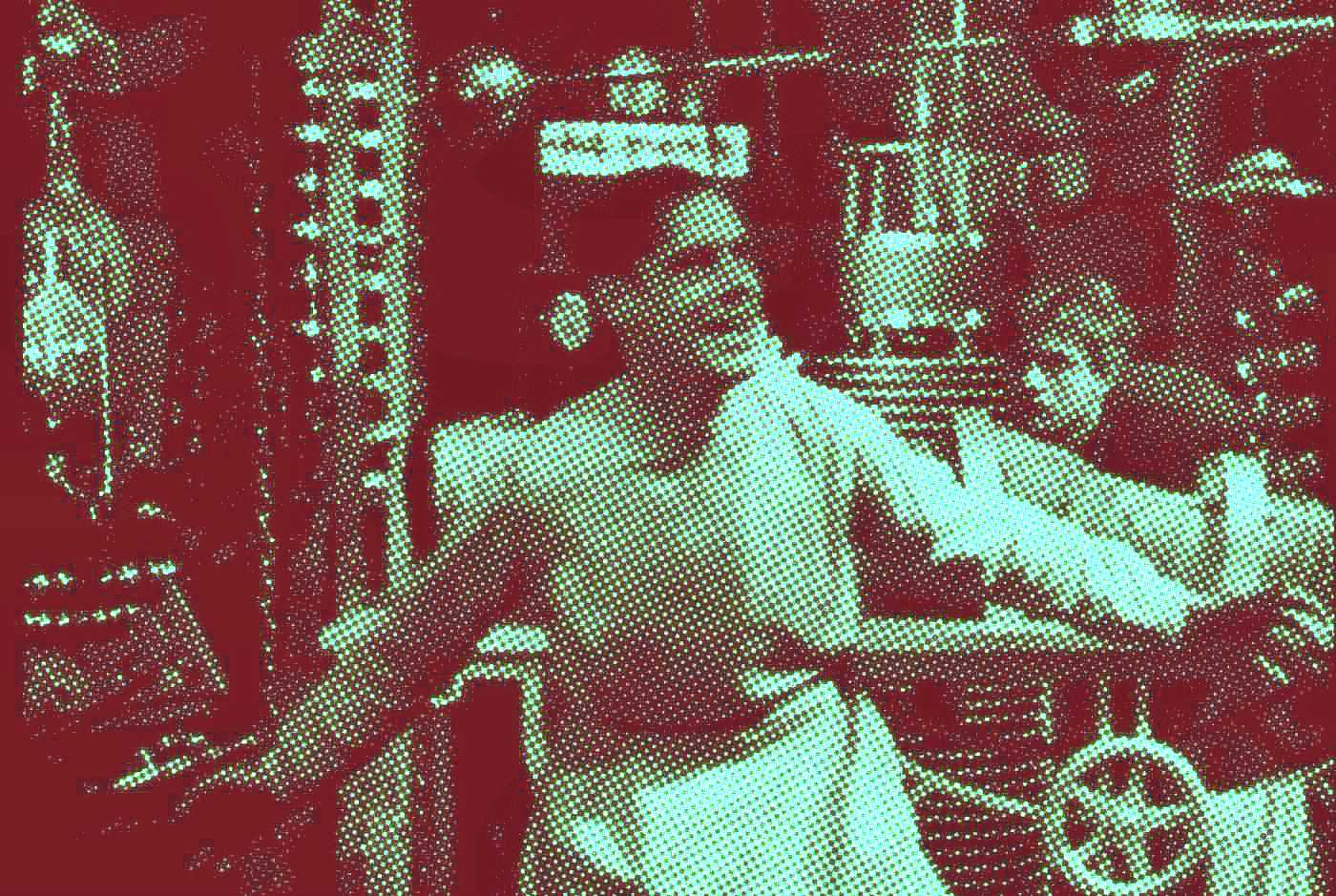
Nunca tive a menor simpatia por Craig Venter, o geneticista e empresário que transformou o sequenciamento do genoma humano numa disputa entre o consórcio público e o dele, em sua empresa Celera, ali nos anos 2000. Venter dizia que seu método era melhor e mais rápido que o do consórcio, mas usava, sem o menor pudor, as sequências geradas e publicadas pelos cientistas do consórcio público. Dizia que estava sequenciando o DNA de um pool de doadores, mas usava o próprio DNA e pretendia vender e patentear seus resultados.
Uma bela noite, deu uma palestra para nós, jornalistas bolsistas do Marine Biological Laboratory, em Woods Hole, Massachuetts, que só fez aumentar minha antipatia. Mas fui a conferências organizadas por ele em Boston e a uma conversa com cientistas, estudantes e público em geral. Não lembro exatamente o quê perguntei a ele em Harvard, mas me lembro diariamente da resposta: “Não importa o quanto você se esforce para entender biologia molecular e genética, o quanto você trabalhe para fazer um texto correto, claro e acessível. Tudo o que seu editor quer é um título curto e sensacionalista.”
Pensei nisso no início de dezembro, quando me deparei com o seguinte título no site da revista Veja: “Alzheimer: cientistas criam neurônios artificiais para tratar a doença” e o olho (no jargão jornalístico, olho é aquele pequeno texto logo abaixo do título): “Tecnologia é capaz de imitar as respostas dos neurônios biológicos, podendo substituir os que foram danificados ou mortos por doenças neurodegenerativas” . A Veja limitou-se a traduzir matéria do jornal britânico The Telegraph. Outro veículo que deu destaque ao assunto, o Startse.com, recorreu a informações do site da Universidade de Bath, que realizou a pesquisa, cometendo um deslize ao mencionar que o trabalho foi publicado na revista Nature. Na verdade, a publicação se deu em Nature Communications, periódico do mesmo grupo, mas com bem menos impacto do que a famosa Nature. Nenhum dos dois foi atrás do estudo propriamente dito. Eu fui.
O trabalho, escrito em “fisiquês”, é bem bacana, até porque é a primeira vez que cientistas conseguem reproduzir, num chip, as propriedades elétricas do neurônio, o que abre caminho para várias aplicações no futuro. Futuro, esse, ainda distante. O próprio texto da universidade e o pesquisador principal, Alain Nogaret, citam, en passant, possíveis aplicações, com destaque para marca-passos cardíacos “inteligentes”, que respondam em tempo real a demandas do coração. Citam também possível usos para doenças neuromotoras, como paralisias, e aí entra o Alzheimer como mais um exemplo.
Alzheimer, como câncer, sempre chama atenção e rende cliques, porque já existe um número enorme de pessoas convivendo com pais, avós e tios que sofrem com a doença. Basta colocar “tratar” ou “curar” no título, que todo mundo corre para ler. Fora isso, é muito comum editores fazerem uma pergunta clássica quando o repórter apresenta sugestão de matéria de ciência: “E isso serve para quê?”.
Se a resposta for a verdadeira (por enquanto não serve para nada), há enorme possibilidade de a história não aparecer em lugar nenhum, embora na minha modesta opinião, o simples fato de existir um chip capaz de reproduzir as propriedades elétricas de um neurônio já valha a notícia.
Curiosamente, essa pergunta nunca é feita quando se trata de pesquisa em áreas consideradas mais “sexy” do que biomedicina, como astrofísica, paleontologia ou arqueologia, do contrário jamais veríamos nada a respeito de dinossauros, ruínas maias ou supernovas em jornais, revistas e sites.
O problema é a expectativa e a desilusão que essa abordagem – de que um desenvolvimento científico em estágio inicial tenha, necessariamente, de ter utilidade para ser notícia – cria. Não é raro ler, nos comentários postados nessas notícias, perguntas sobre quando a novidade estará disponível para tratamento do pai ou da mãe. Na época do sequenciamento do genoma humano, lembro-me de uma leitora do Estadão que escreveu para o jornal perguntando quando o mapa genético do Homo sapiens ficaria pronto, porque a mãe tinha melonoma e precisava depressa de uma cura. Telefonei para conversar com ela, e foi doloroso ouvir o choro da moça do outro lado da linha.
Nesses dias também reapareceram, nas minhas redes sociais, notícia do ano passado sobre um novo tratamento para artrose. Quando boa parte dos seus amigos está na faixa acima dos 60 anos, é bem provável que muitos estejam às voltas com as “ites” e “oses” da idade e, se você escreve sobre saúde, pode apostar que eles vão perguntar a você se é sério, como faço para me tratar.
Três amigas próximas e muito queridas, às voltas com as dores da artrose, me fizeram essa pergunta depois de ler reportagem do G1 com o título “Pesquisadores de São Carlos criam aparelho para tratar artrose em 20 dias” e o olho: “Equipamento combina ultrassom e laser e foi testado por 300 pacientes da Santa Casa” .
Em primeiro lugar, artrose não tem cura, mas a destruição das cartilagens entre os ossos faz com que o organismo reaja, produzindo uma inflamação, que é o que causa a dor. O aparelho reduz a inflamação através de várias aplicações ao longo de 20 dias – o número de aplicações e o tempo de terapia dependem do quadro do paciente.
Detalhe: como a doença não tem cura, com o tempo, a inflamação e as dores vão retornar e será necessária nova série de aplicações, como aprendi numa rápida ligação para a universidade. Esse tratamento complementar só existe na Santa Casa de São Carlos, que tem uma fila de espera com 1.383 pacientes, porque até agora só existe um aparelho.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não realizou o último teste para aprovar o equipamento de ultrassom-laser – porque um dos equipamentos necessários ao teste está quebrado... – e liberar sua produção. Há uma empresa privada interessada.
Nenhum desses casos configura “fake news”, mas ambos envolvem meias-verdades ou histórias incompletas, em que os aspectos positivos são destacados, mas se eliminam os poréns. A pesquisa de Bath é interessantíssima, mas o chip sequer foi testado em um camundongo, e ainda está bem distante de um ser humano. O trabalho de São Carlos tem resultados excelentes, de redução de até 95% das dores, mas não cura a artrose, nem é um procedimento definitivo.
Não custa nada escrever mais umas três ou quatro linhas e permitir que o leitor finque os pés na realidade. O preço que se paga é o descrédito, tanto no jornalismo como na ciência, porque a impressão que fica é de que a ciência promete muito, mas não cumpre.
Ruth Helena Bellinghini é jornalista, especializada em ciências e saúde e editora-assistente da Revista Questão de Ciência. Foi bolsista do Marine Biological Lab (Mass., EUA) na área de Embriologia e Knight Fellow (2002-2003) do Massachusetts Institute of Technology (MIT), onde seguiu programas nas áreas de Genética, Bioquímica e Câncer, entre outros
