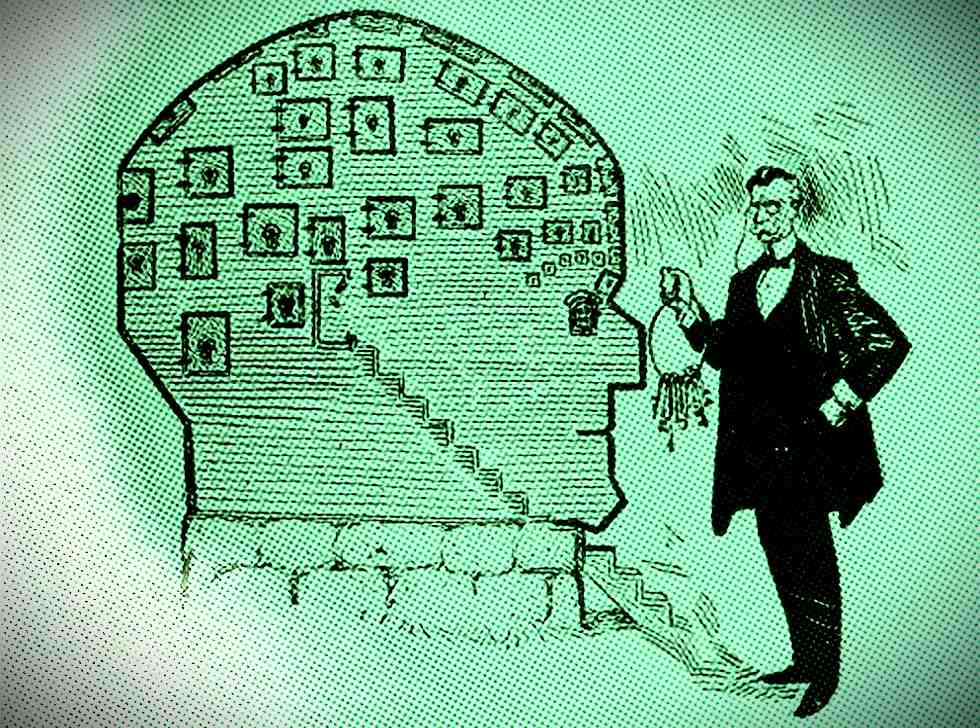
Há vinte anos, em 2002, Steve Pinker publicava o best-seller “The Blank Slate” (“Tábula Rasa”, no Brasil) argumentando que setores importantes das ciências sociais, da psicologia e da filosofia política cometiam o erro de insistir num modelo falso e ultrapassado da natureza humana. Esse modelo, a tábula rasa, via cada indivíduo humano, ao nascer, como uma lousa vazia onde o giz da educação, da sociedade e da cultura poderia escrever qualquer coisa – uma massa infinitamente maleável, cuja única herança genética relevante seria o fato de pertencer à espécie Homo sapiens.
A articulação mais clara da tábula rasa talvez tenha sido a feita pelo psicólogo americano John B. Watson (1878-1958) em 1924. Watson, fundador do behaviorismo, escreveu o seguinte (num livro intitulado, exatamente, “Behaviorism”):
“Deem-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem-formadas, e um mundo especificado por mim para criá-las, e lhes garanto que poderei escolher uma ao acaso e treiná-la para se tornar qualquer tipo de especialista que eu quiser – médico, advogado, artista, comerciante – e, sim, até mesmo mendigo e ladrão, independentemente de seus talentos, inclinações, tendências, habilidades, vocações...”.
Somando o radicalismo behaviorista de Watson à hipótese desenvolvida pelo antropólogo Franz Boas (1858-1942) de que as diferenças entre grupos humanos se explicam pela trajetória histórica e pelos hábitos culturais de cada povo, e não por algum tipo de “essência” étnica, chega-se à fórmula de que cultura e educação seriam virtualmente onipotentes na construção dos fenômenos humanos. Transformando-se a educação, transforma-se o indivíduo. Transformando-se a cultura, transforma-se a Humanidade. E o campo de possibilidades seria infinito.
Isso configura, então, o modelo da tábula rasa, que Pinker denuncia como uma espécie de ortodoxia politicamente correta no universo das humanidades, um obscurantismo bem-intencionado que leva o “pessoal de humanas” a ignorar a Teoria da Evolução e a reagir com horror irracional à mera menção de uma hipótese biológica para dar conta de um fenômeno psicológico ou social.
Claro, a ideia de que o ser humano e seu comportamento são infinitamente maleáveis, e que as únicas imposições biológicas que trazemos ao nascer são do tipo das que nos impedem de sair voando ou de respirar debaixo d’água, está errada e já causou grandes danos sociais e individuais.
Pinker levanta o caso de um garoto que sofreu mutilação peniana quando bebê, e cujos pais foram orientados pelo pediatra a criá-lo como menina. Durante muitos anos a história foi apresentada como prova de que o gênero é produto da socialização, até que um artigo científico publicado em 1997 mostrou que a menina “Joan” não só passara boa parte da vida detestando a identidade feminina que lhe havia sido imposta – a ponto de rejeitar o tratamento hormonal indicado no início da puberdade – como, aos 16 anos, já havia revertido completamente para a identidade masculina, “John”.
Modelos
Uma das constatações mais verdadeiras sobre ciência é a de que todos os modelos científicos estão errados, mas alguns são úteis. E podemos somar a isso o fato de que a tal utilidade só vale em campos de aplicação muito bem delimitados. Um mapa que trata a superfície terrestre como plana está errado, mas pode ser útil para ir de São Paulo a Campinas.
O modelo da tábula rasa, no que poderíamos chamar de sua síntese dos anos 20-30, surgiu num momento histórico em que o modelo alternativo disponível era um de determinismo biológico absoluto.
Como o antropólogo Robert W. Sussman (1941-2016) explica em seu magistral livro “The Myth of Race”, na época a redescoberta do trabalho de Gregor Mendel (1822-1884) sobre hereditariedade e a constatação experimental de que não havia herança genética de características adquiridas (filhos de pais musculosos não nascem mais fortes, por exemplo) levaram muitos cientistas e intelectuais, principalmente nos EUA, Inglaterra e Alemanha, a postular que todas as características comportamentais e de personalidade eram hereditárias e transmitidas por herança mendeliana simples. A cultura seria uma característica fixa da etnia, um fenótipo coletivo, e a educação, inútil para converter “selvagens” em “civilizados”.
Em outras palavras: tudo – incluindo, por exemplo, “talassofilia”, ou afinidade por atividades navais, a suposta qualidade que gera bons oficiais para a Marinha – seria transmitido de pais para filhos segundo as regras binárias de genes dominantes e recessivos, aquelas que hoje em dia caem no vestibular.
Comparado a essa alternativa, a tábula rasa é um modelo excelente. O relativismo histórico e cultural de Boas, em particular, tem muito mais sucesso empírico – isto é, descreve e explica de modo incrivelmente superior o que se passa na realidade – do que o determinismo genético mendeliano. Se é para ficar em grandes simplificações, “tudo é cultura” oferece um mapa muito mais sofisticado e fiel ao território do que “tudo são genes”.
Níveis
Mesmo um mapa que, num dado momento histórico, seja melhor do que as alternativas disponíveis pode ser corrigido e aperfeiçoado mais tarde. O argumento de Pinker é de que a ortodoxia das ciências humanas, por razões eminentemente políticas (no caso, um compromisso com o ideal da igualdade), vem se recusando a atualizar seu mapa dos fenômenos sociais e psicológicos com os fatos científicos que mostram influência da genética e da evolução nesses fenômenos.
Que ainda existe alguma resistência à integração de considerações biológicas às ciências humanas, principalmente nas áreas mais conectadas à formulação de políticas públicas (por exemplo, combate à discriminação racial e de gênero) é inegável, mas é uma caricatura atribuir a totalidade dessa resistência a mero preconceito político ou a esquerdismo renitente. Há um par de bons motivos racionais para isso. O primeiro é o problema do nível explicativo. O segundo é o do tamanho do efeito.
Nível explicativo é a questão de o quanto é necessário descer na arquitetura das ciências para achar uma explicação adequada para um fenômeno. Sociedades são feitas de seres humanos, que são entidades biológicas, que funcionam com base em reações químicas, que são regidas pelas leis da física. Olhando desse jeito, deve ser possível usar a física quântica para explicar o início da Primeira Guerra Mundial, mas essa explicação serviria para quê, exatamente? Quem seria capaz de compreendê-la? Qual sua relevância?
É claro que uma ciência mais “alta” no edifício dos níveis explicativos jamais poderá contradizer um resultado mais fundamental – o teto não se sustenta sem os alicerces, e uma hipótese sociológica que contradiga a Teoria da Relatividade já nasce morta –, mas até que ponto é necessário citar o alicerce ao descrever o teto, em vez de deixá-lo subentendido, vai variar caso a caso.
E esse “caso a caso” vai depender do tamanho do efeito: isto é, o quanto do fenômeno pode ser explicado, de forma útil, por considerações de um nível mais fundamental. E as respostas, quando o assunto são questões de diferença psicológica ou social, são: varia, e muito pouco.
Na maior parte do tempo, manter a biologia como um pano de fundo silencioso na busca por explicações de fenômenos sociais complexos é tão razoável, e tão pouco “obscurantista” ou “ideológico”, quanto ignorar interações subatômicas na hora de explicar o resultado da Copa do Mundo.
Tábula cheia
“Tábula Rasa” ampliou o espaço para uma série de críticas a políticas públicas antidiscriminatórias, no sentido de que seriam contraproducentes, porque antinaturais – o equivalente sociopolítico do behaviorismo crasso de Watson. Se lido com atenção, o livro de Pinker é mais nuançado e sutil do que isso. Mas a leitura apressada virou bandeira de conservadores que acham que a sociedade ocidental é o ponto final no desenvolvimento civilizatório e não só não há mais nada a melhorar, como está na hora de retroceder alguns séculos. É a turma da tábula cheia.
Ao afirmar (por exemplo) que as preferências profissionais entre homens e mulheres são diferentes porque existem diferenças inatas de personalidade, e isso provavelmente basta para explicar de forma adequada as diferenças de acesso a carreiras e de nível de renda entre os sexos – melhor até do que a hipótese da discriminação –, Pinker dá um passo maior do que a perna, e munição aos tábulas cheias.
O erro não é tão grosseiro quanto “ser capitão de navio é característica mendeliana”, mas chega perto: o fato de diferenças médias de personalidade existirem não significa necessariamente que sejam inatas, e não produzidas culturalmente; que sejam relevantes para todos os casos em que há suspeita de discriminação; e nem que seus efeitos na sociedade atual sejam consistentemente maiores do que os da discriminação.
Pinker dá especial peso a pesquisas de opinião sobre trabalho e carreira em que (nas palavras dele) “homens e mulheres dizem o que querem”, mas não parece levar em conta a questão psicológica da desejabilidade – a tendência de se responder a pesquisas de acordo com o que se imagina que o entrevistador espera ou gostaria de ouvir, um problema que atinge especialmente levantamentos que envolvem estereótipos e papéis sociais. “Homens, em média, estão mais dispostos a encarar desconforto fÍsico e perigo”, escreve. Mas estão mesmo, ou apenas dizem que estão, por saberem que é o que se espera de um homem “de verdade”?
Outro problema é o que uma generalização do tipo “em média” esconde. O livro “Brain Gender”, da neurocientista Melissa Hines, traz dados de estudos sobre diferenças médias entre homens e mulheres em termos de desvio-padrão – uma forma de medir o quanto a média de uma população é diferente da de outra (em termos técnicos, ela apresenta uma estatística chamada “d de Cohen”, mas vamos pular os detalhes).
Orientação sexual difere entre homens e mulheres por seis desvios-padrão: uma maioria muito substancial dos homens diz preferir fazer sexo com mulheres a com homens, e vice-versa. Altura, por dois desvios-padrão: a maioria dos homens é perceptivelmente mais alta do que a maioria das mulheres. Em comparação, duas características cognitivas e comportamentais – perícia matemática e agressividade física – divergem entre os sexos por menos de meio desvio-padrão.
Numa entrevista à jornalista Angela Saini (publicada no livro “Inferior”), Hines acrescentou que a diferença entre os sexos em empatia (que, segundo a tábula cheia, explicaria porque há muito mais enfermeiras do que engenheiras) também é de cerca de meio desvio-padrão. Num artigo publicado em 2005, a psicóloga Janet Shibley Hyde resumiu os resultados de mais de 40 estudos sobre diferenças de personalidade entre os sexos, e a maioria ficou bem abaixo de um desvio-padrão; um grande número ficou na segunda casa depois da vírgula, incluindo competitividade em negociações (0,07).
Comparados a esses efeitos modestos, o impacto histórico da discriminação assume proporções colossais. Na década de 1830, só havia uma mulher formada em Medicina em todo o Brasil; nos EUA, o primeiro diploma de Medicina para uma mulher foi concedido em 1847. Em 1910, as médicas eram 22% dos profissionais da área no Brasil. Cem anos depois, eram 40% e em 2020, 47%. Parece duvidoso que o salto de uma única médica em 1834 para quase 223 mil em 2020 tenha sido causado por uma mudança nas preferências inatas hereditárias, ou nos efeitos do estrogênio no sistema nervoso central do feto.
A Escola Politécnica de São Paulo, hoje parte da USP, foi fundada em 1893 e teve apenas duas alunas – ouvintes, não matriculadas – entre a data de sua abertura e a década de 1920. Uma engenheira só viria a se formar lá, pela primeira vez, em 1928. Atualmente, dos 415 docentes da instituição, 56 são mulheres (13%). Dos 1.588 alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado), 417 (26%) são mulheres.
Reconhecer que existem fatores biológicos ligados a personalidade, talentos e preferências não implica aceitar que esses fatores sejam a causa dominante da configuração social atual. Nem que, portanto, qualquer esforço político-social deliberado para reduzir desigualdades visíveis seja erro ou fruto de cegueira ideológica. A evidência nesse sentido é muito mais precária do que o pessoal da tábula cheia gosta de sair alardeando por aí.
Dada a experiência histórica, a alegação de que assimetrias sociais que, prima facie, sugerem discriminação injusta ou viés cultural na verdade representam algum tipo de “ponto de equilíbrio” biológico – que a natureza precisa das diferenças humanas, tal como observadas nas sociedades ocidentais, não só já foi desvendada como é predominantemente inata – é extraordinária, e demanda evidências que também sejam.
Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência, autor de "O Livro dos Milagres" (Editora da Unesp), "O Livro da Astrologia" (KDP), "Negacionismo" (Editora de Cultura) e coautor de "Pura Picaretagem" (Leya), "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto), obra ganhadora do Prêmio Jabuti, e "Contra a Realidade" (Papirus 7 Mares)
