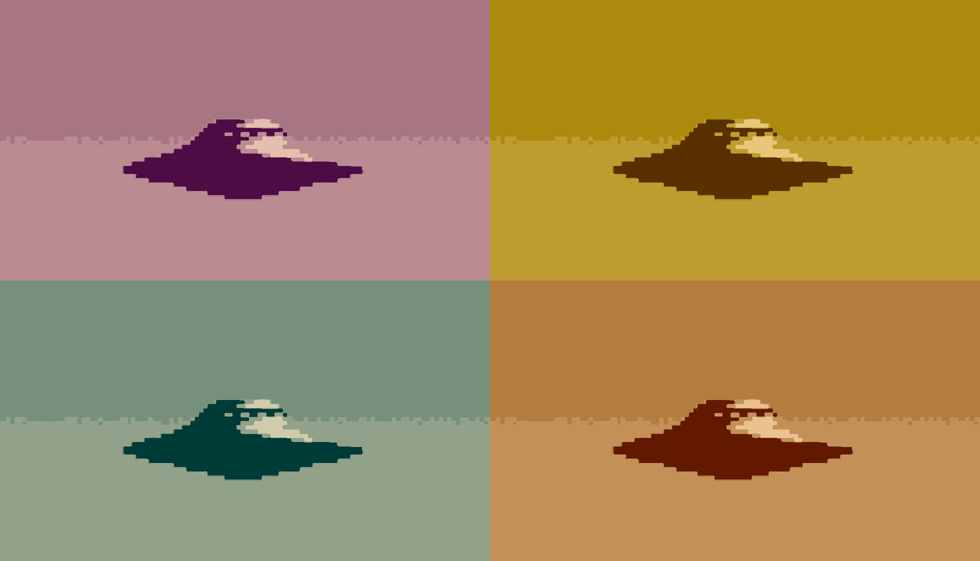
Lá nos primórdios da World Wide Web, quando webdesigner ainda era uma profissão pouco conhecida e os retornos de manter uma presença online, incertos, a maioria das pequenas empresas que tentavam entrar no mundo virtual acabava apelando para a “estratégia do sobrinho” – basicamente, encontrava-se um “sobrinho do dono” ou, em linhas mais gerais, um adolescente que tivesse alguma intimidade com programação de sites (e disposição de trabalhar pelo troco do lanche), e dava-se o abacaxi para ele descascar.
Conheço a história, apócrifa, de um jornal do interior paulista cuja página de entrada era a animação pixelada de um disco voador, que saía do fundo da tela e abduzia um bonequinho, representando o leitor.
Prima-irmã da síndrome do sobrinho é a ilusão da experiência, que causa muito aborrecimento entre professores e pedagogos: como todo adulto já teve a experiência de ser criança e (quase) todo adulto já frequentou escola, todo adulto tende a se achar competente para dar palpite sobre técnicas e métodos de educação infantil.
Hoje em dia, parcela significativa da divulgação científica no Brasil, principalmente a que vem das universidades, sofre desse par de peculiaridades.
Reconhecendo – por absoluta imposição das circunstâncias – a necessidade de apresentar a ciência que fazem ao público, grupos de pesquisa, departamentos, institutos e faculdades acabam delegando a tarefa ao equivalente acadêmico dos “sobrinhos” dos microempresários de 1994.
Isso acontece, em parte, porque as estruturas pré-existentes de comunicação (assessorias de imprensa, serviços de atendimento a jornalistas, jornais de circulação interna) foram, historicamente, concebidas como guardiãs da imagem da instituição e das autoridades que a representam – reitores, diretores, chefes de departamento, etc. – e não como veículos de interação com o público e divulgação científica. Sua “zona de conforto” é a inauguração de bustos de professores mortos e a visita do embaixador da Lituânia. Não têm a tradição, nem foram incentivadas a desenvolver as competências necessárias para comunicar ciência de forma agradável, interessante e eficaz.
Uma vez tendo recebido o papel de comunicador da ciência do grupo, o pesquisador-“sobrinho” tende a encontrar uma certa dificuldade em escapar da ilusão da experiência. Afinal, ele entende, e muito bem, o assunto a ser comunicado. E comunicar-se é algo que todo mundo faz, desde o primeiro berro no berço. O que poderia dar errado?
Aqui, é importante lembrar que o papel costuma ser assumido voluntariamente, muitas vezes com entusiasmo extraordinário e, quase sempre, a troco de nada, porque divulgação científica não conta “no Lattes”, aquele cartão de racionamento de reputação acadêmica que a preguiça burocrática brasileira inventou.
Esse entusiasmo pode levar o “sobrinho” a aprofundar-se na questão e a profissionalizar-se – como alguns dos “sobrinhos” lá das origens da Web viraram webdesigners de pleno direito – mas a forma voluntariosa e assistemática com que o processo costuma ocorrer também acaba jogando muitas dessas pessoas em certos becos sem saída que poderiam (deveriam) ser evitados. A eles:
Submissão da ciência ao marketing institucional: o resultado está sendo divulgado para informar, educar ou satisfazer a curiosidade do público, ou para aumentar o prestígio dos pesquisadores e da instituição? Não são objetivos mutuamente excludentes, mas é bom ter as prioridades claras. Foco na promoção pode distorcer a comunicação da ciência por meio de hype (exagero da significância do achado), por exemplo. O tratamento para enxaqueca que seu orientador testou em meia dúzia de estudantes de iniciação científica e rendeu um paper em “Scientific Reports” provavelmente não é “a resposta definitiva da ciência para o flagelo milenar”.
Aceitação ingênua da teoria do déficit: “teoria do déficit” é a ideia de que a divulgação científica se faz, e se completa, com a comunicação dos fatos científicos. Fumar causa câncer. Transgênicos são seguros. Aquecimento global é real. Vacinar é importante. É a ideia de que o cientista sabe o que as pessoas precisam saber e seu trabalho, enquanto comunicador, termina assim que ele conta isso para elas. É ver o mundo como a versão ampliada de uma sala de aula de curso de graduação.
O problema é que a comunicação eficiente precisa ir além disso. Os fumantes sabem que fumar causa câncer, e ainda assim, fumam. Terraplanistas têm várias falácias altamente sofisticadas para defender seus pontos de vista, que parecem neutralizar os fatos científicos (muito do crescimento do movimento terraplanista na era do YouTube veio da incapacidade da maioria das pessoas em desmontar essas falácias – o que transforma alguns incautos em “convertidos”).
Além disso, tratar o público como aluno pode ser contraproducente, ainda mais se a “aula” for do tipo que deixa a classe com sono e de olho no relógio. Perspectivas abertas ao diálogo – por exemplo, em vez de apenas pressupor o que as pessoas precisam saber, perguntar também o que elas gostariam de saber – podem funcionar melhor, em vários contextos.
É importante ter em mente que, no mundo tribalizado em que vivemos, a aceitação ou rejeição de ideias – inclusive científicas – muitas vezes passa por filtros culturais e identitários. Como diz um artigo publicado em 2010 na “Nature”,”as pessoas vão adotar qualquer postura que reforce a conexão delas com outros com quem compartilhem convicções importantes”.
Em situações assim, quando uma informação científica corre o risco de ser vista como ameaça ao senso de comunidade ou aos valores de parte do público, pode ser essencial apresentá-la de modo a reforçar outros valores caros à mesma comunidade, ou universais – a importância de as crianças terem saúde, por exemplo.
Rejeição ingênua da teoria do déficit: isso pode acontecer de duas formas. A primeira é um non-sequitur, um argumento em que a conclusão não decorre das premissas; no caso, a ideia de que, como a transmissão de informação muitas vezes é insuficiente, ela também é inútil. Esse niilismo tende a reduzir o escopo da divulgação científica ao marketing institucional ou à comunicação de fofices (galáxias, gatinhos, dinossauros), com foco quase exclusivo no potencial de entretenimento. Fofices e entretenimento são essenciais para despertar o interesse em ciência. Mas são parte do processo, não o todo.
Trata-se de uma perspectiva – informar é inútil – que às vezes busca apoio em estudos que mostram uma correlação muito fraca entre letramento científico (o domínio de conceitos científicos básicos) e a aceitação de consensos da ciência vistos como polêmicos pelo público, digamos a segurança dos transgênicos ou o aquecimento global. Um problema disso é que os estudos usados no argumento comparam letramento científico genérico a questões científicas específicas: há pelo menos um trabalho que mostra que informação específica sobre biotecnologia reduz a rejeição específica a transgênicos.
É triste ter de repetir o que deveria ser óbvio, mas insuficiente não implica desnecessário. Água é insuficiente para sustentar a vida humana – também precisamos de oxigênio e comida – mas nem por isso deixa de ser essencial. O mesmo vale para informação científica correta. Se uma pessoa procura no Google “água sanitária cura autismo”, é indispensável que ela encontre uma boa explicação de por que isso é uma bobagem e um perigo.
O segundo modo de rejeição espúria é o que, ao ouvir o chamado para converter a aula em diálogo, instaura uma falsa equivalência epistêmica – como se não houvesse razão para preferir os conhecimentos obtidos por meio dos métodos e processos da ciência às alegações tiradas do folclore, do senso-comum, do preconceito e da tradição. Em suma, confunde-se diálogo respeitoso com capitulação automática.
Isso se deve, em boa parte, a um apego atávico ao mito do bon sauvage, à falácia naturalista (tudo “é melhor” no “estado natural”), a uma visão bem pouco realista e altamente romântica do passado (pré-colonial, pré-capitalista ou pré-cosmopolita) e da “sabedoria popular”. Afinal, “quem somo nós” para dizer aos simpáticos aldeões que queimar o fígado dos mortos não é um modo eficaz de conter uma epidemia de tuberculose?
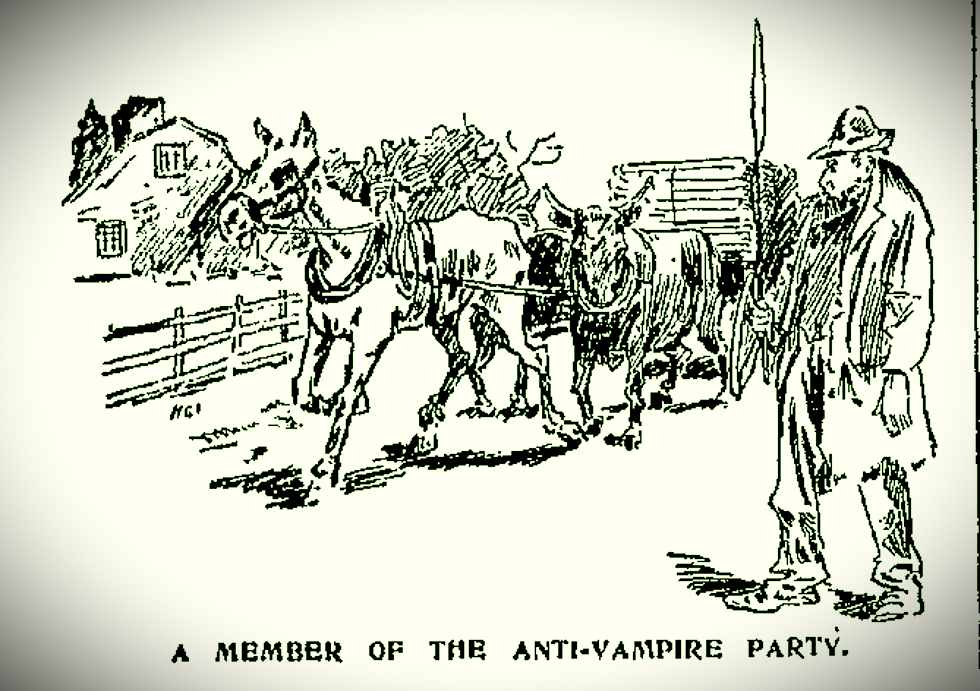
Teoria osmótica do conhecimento: a crença de que não será jamais preciso “sujar as mãos” com temas explosivos, espinhosos ou politicamente embaraçosos como curandeirismo, aplicações práticas da biotecnologia, predisposições genéticas ou propaganda enganosa de produtos de base “científica”, porque basta comunicar a ciência fundamental – genética, química, termodinâmica, etc. – que as pessoas “tiram suas próprias conclusões”. Algumas realmente tiram. Mas não todas. E nem de longe em número suficiente. Senso crítico desenvolve-se melhor a partir do estudo de exemplos. Incluindo, principalmente, da crítica clara e explícita a maus exemplos.
Jaleco e pasta de dente
Esta lista não é exaustiva, mas apresenta algumas das armadilhas mais comuns e, em minha opinião, mais sérias. Alguém pode ter dado por falta do chamado efeito rebote (o risco de que, ao insistir que uma pessoa está errada, fazermos com que ela se aferre ainda mais a sua posição inicial), mas de certo modo já cobrimos isso na primeira entrada sobre teoria do déficit – e, de qualquer modo, a literatura recente sugere que a prevalência do fenômeno tem sido muito, muito exagerada.
Se fosse incluir mais um cacoete a evitar sempre que possível, seria: o vício de pôr ênfase em resultados, não em processos. O que torna a ciência especial – o que faz com que tenha mais sentido acreditar na Nasa do que em Carlos Bolsonaro ou Alexandre Garcia quando o assunto é aquecimento global, por exemplo – não é o que a ciência diz, mas como determina o que deve dizer.
Na falta de tempo ou espaço é muito tentador cortar os processos e ir direto aos resultados, mas seria bom fugir da tentação sempre que possível. Sem dar a devida atenção aos processos e à lógica da ciência, tudo o que temos são pessoas de jaleco dizendo “confie em mim”, o que não funciona mais nem em comercial de pasta de dente.
E seria bom, também, que as pessoas encarregadas de percorrer o campo minado que descrevi (apenas parcialmente) acima fossem preparadas, treinadas, tratadas (e pagas, e reconhecidas) como profissionais em pé de igualdade com os colegas de sala de aula e de bancada, e não relegadas ao papel de “sobrinhos” pela eternidade.
Carlos Orsi é jornalista e editor-chefe da Revista Questão de Ciência
