
Ser pesquisador numa universidade brasileira hoje é quase como aquela metáfora futebolística: bater o escanteio e correr para cabecear na área. É preciso dar aula, realizar pesquisas, orientar alunos de pós-graduação, gerir e administrar laboratórios e verbas e divulgar o conhecimento para o público leigo. Tudo isso ao mesmo tempo e pelo mesmo salário. Não é à toa, portanto, que têm surgido propostas de mudança. Para alguns, é necessário profissionalizar os cientistas, ou seja, criar uma carreira em que possam se dedicar quase que exclusivamente às pesquisas. Outros dizem que é necessário investir mais em pessoal de apoio e suporte, para aliviar a carga de trabalho burocrático.
O físico Ado Jorio de Vasconcelos, do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é exemplo eloquente de acúmulo de funções. Atualmente coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da sua instituição, já foi pró-reitor de Pesquisa, coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica, chefe do Departamento de Física. “Além disso, sempre lecionei, seja no ciclo básico (para todas as Engenharias e outras profissões que estudam física na universidade), no ciclo profissional do curso de física, e na pós-graduação”, enumera.
O cientista social Ricardo Ojima, do Programa de Pós-Graduação em Demografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), também desenvolve todas as atividades de um pesquisador, ou seja, pesquisa, dá aulas, orienta, administra e tem atividades de extensão. “Não acho que desempenho todas a contento, mas penso que faço o possível dentro da realidade em que trabalhamos”, admite ele, que é mestre em Sociologia e doutor em Demografia. “Sou bolsista de produtividade 1D do CNPq [Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico] e tenho uma produção bibliográfica relativamente boa para minha área”.
Ojima bem que gostaria de poder investir mais nessa frente e ampliar escopo e produção (sobretudo internacional), mas ele diz que ultimamente não tem sido fácil gerenciar o tempo. Ele tem um podcast semanal de ciência e tenta manter uma proximidade com o jornalismo científico.
“Sou responsável pela curadoria das redes sociais do nosso programa de pós-graduação”, conta. “Só isso já demandaria bastante tempo, mas desde 2013 sempre estive envolvido com funções administrativas na UFRN, como a coordenação de graduação e pós-graduação e chefia de departamento. E, claro, fazendo parte da pós-graduação, oriento em doutorado, mestrado e iniciação científica”, acrescenta. “Enfim, é um esforço grande para administrar o tempo e ainda dar conta das responsabilidades familiares e outras esferas da vida, até porque minha mulher também é docente na mesma instituição e, portanto, tem a mesma correria”.
O excesso de atividades não é o único problema enfrentado pelos pesquisadores brasileiros. Há outra queixa comum de grande parte deles: a burocracia. O próprio Ojima reclama disso. “Para além da falta de financiamento adequado para as pesquisas, há a administração e a contabilidade dos projetos, que é um aspecto que, no meu ponto de vista, é o que mais desmotiva”, diz.
Ojima lembra que, no período em que foi presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP), todos os anos precisava pedir recursos para apoiar os eventos. Os contratos saíam em seu nome, no entanto, e a prestação de contas também. Sem treinamento ou habilidade para área contábil e administrativa, ser responsável por fechar as contas é um gasto de energia muito grande. “Penso que as instituições poderiam fornecer canais formais para apoio aos projetos dos pesquisadores, para que esse tempo fosse dedicado à produção dos resultados dos estudos”, diz.
A bióloga Marlucia Bonifacio Martins, coordenadora do Programa de Biodiversidade e Evolução do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), também critica a grande perda de tempo com burocracia, seja na gestão de projetos, do laboratório ou da pós-graduação. A falta de suporte administrativo onera muito o tempo do pesquisador. “Antigamente, tínhamos secretaria para ajudar nessas atividades, mas agora temos que dividir um único funcionário para cuidar de três programas de pós e da coordenação de pesquisa”, reclama. “Os sistemas de gestão não ajudam, pois são extremamente trabalhosos e não há pessoal de apoio qualificado”.
Ideias
Propostas e ideias para mudar esse cenário não faltam. Para Marlucia, deve-se começar por manter um quadro adequado de pessoal administrativo para apoiar as atividades de pesquisa e gestão de projetos. “Há um déficit de funcionários, seja na área fim ou na meio, mas cada vez diminui mais o contingente de pessoal”, diz.
De acordo com ela, há uma visão distorcida sobe inchaço de máquina pública e os cortes feitos sem critério têm prejudicado muito o andamento dos trabalhos. Outro déficit importantíssimo apontado por Marlucia é no setor de comunicação. “Não é possível fazer um bom trabalho de extensão sem um forte apoio de TI e de profissionais da comunicação”, diz. “Nos demandam divulgar ciência, mas não nos oferecem os instrumentos e pessoal adequado para nos auxiliar nessa tarefa”.
A também bióloga Tábita Hünemeier, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP), tem opinião parecida. Para ela, é urgente um maior apoio para projetos e pagamento de pessoal. “Os cortes têm sido grandes e muitos, estamos cada vez com mais dificuldade de manter o trabalho em um nível internacional competitivo”, diz. “Outro ponto é organizar melhor as universidade e fundações de auxílio à pesquisa, para que passem a comtemplar pessoal de apoio para laboratórios e administração”.
Há quem proponha uma profissionalização mais estrita dos cientistas, criando uma carreira específica de pesquisador, em que a ênfase nas duas outras “pernas” do tradicional tripé da vida universitária – que, além da pesquisa, são o ensino e a extensão – seria formalmente reduzida (como muitas vezes já é, informalmente, na prática): por exemplo, com uma diminuição drástica do tempo requerido de dedicação à sala de aula.
A proposta encontra apoios e resistências na academia brasileira. “Me parece uma ótima ideia, pois diminui a carga sobre os professores e pesquisadores”, elogia Tábita. “É um sistema que funciona bem em diversos países, como Espanha, França, Alemanha, Inglaterra e Argentina”. Mas ela tem ressalvas. “A proposta só seria viável se fosse um sistema separado ao da universidade, criando centros de pesquisa reais”, diz. “E se for dentro das universidades, aumentando a carga horária didática de professores que não fazem pesquisa. Caso contrário, seria necessária a contratação de muitos docentes a mais, o que tornaria a ideia inviável”.
O antropólogo Andrés Zarankin, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, também apoia a proposta, mas lembra que o modelo não é novidade no Brasil. “Sem dúvida [a profissionalização dos cientistas] seria um grande avanço”, avalia. “Porém, esta figura já existe em diversas universidades do país, como na Unicamp [Universidade Estadual de Campinas] e na USP, ainda que a porcentagem de pesquisadores profissionais seja ínfima se comparada com a dos professores. Na Argentina, por exemplo, existe um conselho que é equivalente ao CNPq, mas ele não só financia pesquisas como também administra uma rede de cientistas profissionais distribuídos por todo o país”.
Nem todos pensam assim, no entanto. Marlucia, por exemplo, diz que não vê sentido em desvincular as funções de pesquisador e professor. Para ela, o que não pode acontecer é o professor universitário ter uma carga horária em aulas que venha a comprometer sua performance como pesquisador. “E isso passa por uma política de carga horária máxima e obviamente pela contratação de mais professores, além do que já mencionei, que é melhorar o suporte administrativo para as atividades de pesquisa e ensino”, defende. “Não dá para ser professor, secretário, contador, administrador, gestor de laboratório, entre outros encargos”.
O médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP (FSP-USP) Gonzalo Vecina Neto, fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por sua vez, diz que cientista que apenas pesquisa não existe. “Ele tem que fazer docência, porque o grosso da pesquisa é realizado pelos mestrandos, doutorandos e pós-doc”, explica. “Eu não consigo imaginar o sujeito fazendo só pesquisa, sendo pesquisador em tempo integral. Até existem algumas instituições, como o [Instituto] Butantan e a Fiocruz [Fundação Oswaldo Cruz], essa personalidade do pesquisador, mas é alguém que ensina, porque não existe como pesquisar sem ensinar”.
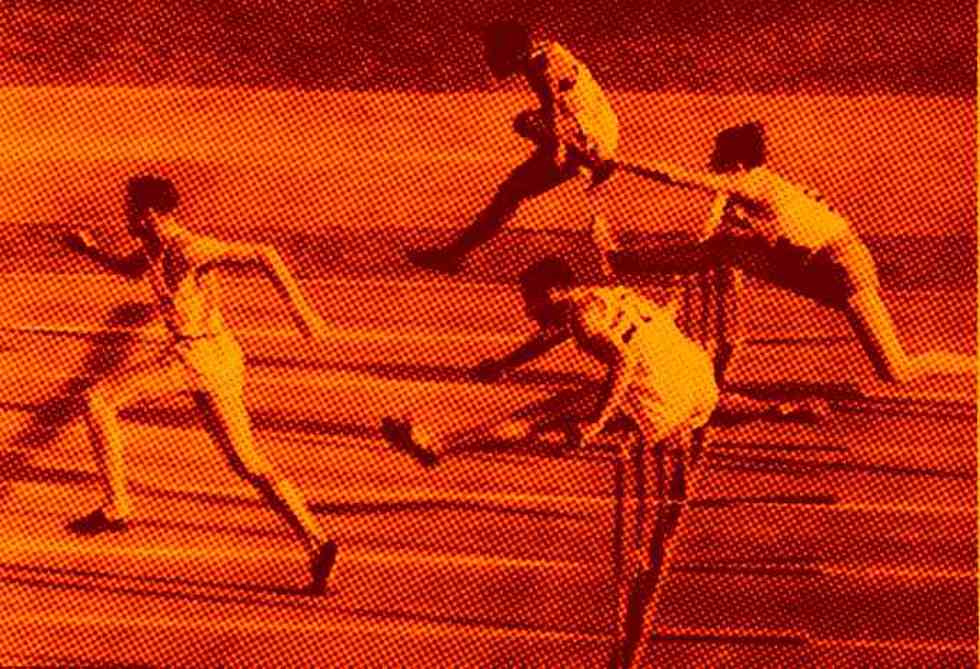
Essa visão está de acordo com um trabalho publicado em 2011 na revista Science, que mostra que lecionar melhora as habilidades dos pós-graduandos que dão aulas para fazer pesquisa, e a qualidade da ciência produzida. Vecina concorda. “Quem se envolve com ensino pesquisa melhor, e se preocupa também com ensinar melhor”, diz. “O ensino, hoje, é mais que tudo aprender a fazer perguntas e, por isso, os pesquisadores e os que estão fazendo sua pós-graduação têm que aprender a fazer isso, a construir o conhecimento, por meio das suas capacidades de buscá-lo. O docente orientador é isso, um orientador. Ele não é quem faz, é quem orienta o processo de construção do conhecimento”.
Para o físico Alberto Saa, do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp e coordenador adjunto da Área de Astronomia e Física da Capes, “é óbvio” que lecionar melhora a pesquisa. Ele lembra que pesquisadores dos melhores centros científicos do mundo combinam as duas atividades. “Sinceramente, essa ideia de criar uma ‘carreira’ de cientista tal que suas atividades seriam ‘reguladas’ de maneira que a carga de ensino fosse menor me parece mais um ‘burocratismo’ local”, diz. “Isso não existe nos melhores centros do mundo. Nos lugares de qualidade, contrata-se alguém pagando um salário competitivo e deixa-se trabalhar. Que ele dê as aulas que quiser, se quiser, como quiser. Se seu rendimento não for satisfatório, você o demite. Ponto final. Isso de ‘professor/pesquisador funcionário público indemissível’ é outro atraso local”.
Marlucia pensa de maneira semelhante. Para ela, ensino e pesquisa não podem estar desvinculados. É preciso treinar os pesquisadores não só para dar aulas, como também para a extensão, ou seja, para o diálogo permanente com a sociedade. “Mas para isso precisamos desonerá-los de cargas horárias para além das possibilidades humanas e desgaste com a busca de soluções e condição de trâmites de suporte à pesquisa, que deveriam ser executados de forma competente e responsável pelos profissionais adequados”, explica.
Esses profissionais, acrescenta, deveriam fazer parte do quadro das instituições, com a função clara de facilitar os processos de pesquisa e sua gestão. “Uma fábrica para produzir um automóvel não pode contar que o engenheiro de produção fique testando se os pneus estão na calibragem correta”, compara. “O mesmo vale para a pesquisa. Um processo de produção acadêmica eficiente deve contar com uma rede de suporte adequada. Esta é a grande diferença que vejo entre o Brasil e alguns países que estão no topo da produtividade científica”.
Evanildo da Silveira é jornalista
