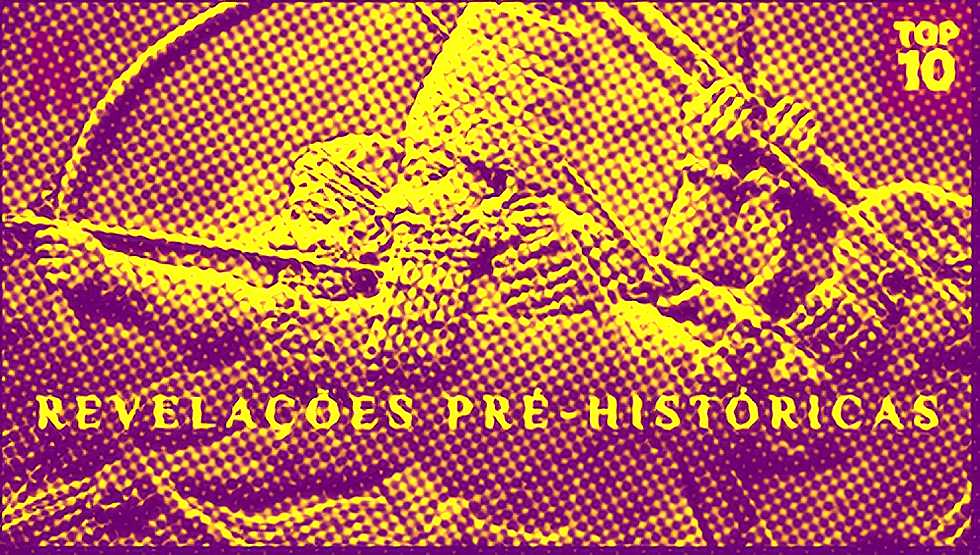
O autor escocês Graham Hancock, apresentador e herói absoluto da série (supostamente) documental “Revelações Pré-Históricas” (“Ancient Apocalypses”), um dos dez programas mais assistidos na Netflix dos Estados Unidos no último fim de semana, diz em um dos episódios que se ofende quando o chamam de pseudoarqueólogo ou pseudocientista. Prefere ser visto como jornalista. Aí quem se ofende sou eu e, imagino, inúmeros outros colegas.
A série, em oito episódios, mostra Hancock falando de frente para a câmera, falando de perfil para a câmera, mergulhando no mar das Bahamas e – de longe, o tipo de imagem mais frequente – caminhando em câmera lenta sobre campos gramados e sítios arqueológicos, com a câmera posicionada num ângulo de baixo para cima calculado para fazer o apresentador parecer sábio, profundo, heroico e meio gigantesco.
Essa tentativa de intimidação subliminar do espectador talvez seja o “argumento” mais forte de toda a série, no sentido de que predispõe o público a levar a sério qualquer coisa que seja dita pelo sábio-herói-gigante. E o que ele diz?
Abstraindo o mise-en-scène, o que temos é uma série de diatribes contra os arqueólogos profissionais (que seriam todos intelectualmente desonestos, dogmáticos e estão errados a respeito de tudo, enquanto Hancock, obviamente, está certo), solilóquios sobre a importância da humildade (o que é engraçado, vindo de um sujeito que acha que entende arqueologia melhor do que toda a comunidade internacional de especialistas no assunto) e a reiteração ad nauseam de um trio de falácias: inversão do ônus da prova, apelo à ignorância e expectativas impossíveis, mobilizadas em favor da tese de estimação de Hancock – a de que as primeiras civilizações conhecidas eram todas “filhotes” de uma supercivilização (Atlântida é mencionada) destruída num cataclisma em algum momento entre 12,8 mil e 9,6 mil anos atrás.
Graham Hancock é o Erich Von Däniken do difusionismo, a hipótese de que práticas culturais e tecnologias surgem apenas uma vez na história, em certas populações específicas, e então se espalham (difundem-se) pelo resto do mundo.
Nesse ponto de vista, o fato de diversas culturas – incluindo povos das Américas, da Oceania e do Oriente Médio – terem contos e lendas sobre grandes enchentes ou dilúvios não reflete o fato de que populações humanas tendem a se estabelecer perto de fontes de água (grandes rios, litorais) e inundações são eventos comuns nesses ambientes, mas sim a “memória coletiva” de uma catástrofe global (a Arca de Noé é mencionada).
Do mesmo modo, a presença, em diversas culturas de diversas partes do mundo, de observatórios astronômicos ou de construções aparentemente alinhadas de acordo com o Sol ou as estrelas não refletiria a necessidade de marcar a passagem do tempo e acompanhar o ciclo das estações (o que permitia prever épocas de chuva, migrações de animais etc.) e sim um “conhecimento ancestral” que os povos “primitivos” teriam recebido de emissários da Grande Civilização Original.
Hancock começou a bater nesse bumbo particular em 1995, com a publicação do livro “Fingerprints of the Gods: The Evidence for Earth’s Lost Civilization” (“Digitais dos Deuses: A Evidência da Civilização Perdida da Terra”), e seu enorme ressentimento para com a arqueologia profissional provavelmente vem de quase 30 anos em que a disciplina ou o ignorou, ou o tratou como um maluco ou, quando se deu ao trabalho de analisar suas alegações, demonstrou que não fazem o menor sentido.
Os episódios da série na Netflix acompanham Hancock numa série de visitas a sítios arqueológicos e formações naturais pitorescas da América do Norte e Caribe (Estados Unidos, México, Bahamas), Mediterrâneo (Turquia e Malta) e Indonésia.
Em cada parada, o pobre espectador é brindado com exemplos quase canônicos de inversão do ônus da prova (“não encontraram vestígios da civilização perdida porque recusam-se a procurar” – sim, e ninguém nunca encontrou evidências de duendes pelo mesmo motivo), apelo à ignorância (“se ninguém foi capaz de datar esses túneis, então eles podem ser muito mais antigos do que os historiadores estimam” – sim, podem até ter sido escavados por duendes) e expectativas impossíveis (“ninguém pode afirmar com certeza absoluta que esta área não era um sítio astronômico” – e nem que não era uma colônia de duendes).
Hancock também se exercita na produção de raciocínios circulares: como sua tese requer que monumentos espalhados pelo mundo sejam “memórias” do suposto cataclisma de 9 mil/12 mil anos atrás, ele se vale de um programa de computador, do tipo usado em planetários, para buscar alinhamentos astronômicos entre alguma parte do monumento e algo de interessante que estivesse acontecendo no céu, na época desejada.
Se encontra (e é improvável que não encontre – o cardápio inclui solstícios, equinócios, a estrela Sírio, o Polo Norte e uma infinidade de outras possibilidades), decide que o monumento é, “na verdade”, daquela época, e a datação oficial está errada. Isso faz tanto sentido quanto eu ir ao cemitério e, usando o software de astronomia do celular, descobrir que um dos cantos do túmulo do meu avô está voltado para o ponto do horizonte onde Vênus nascia em 5000 AEC, e daí deduzir que meu avô era um sacerdote do culto da Estrela da Manhã e morreu naquele ano.
Num dado momento da série, Hancock olha para a câmera e diz, exasperado, “não confie nos especialistas, faça sua própria pesquisa”. Este é, claro, o mantra do movimento antivacinas, e nesse sentido tem lógica que o principal “astro convidado” da série seja o podcaster americano Joe Rogan, que se tornou infame durante a pandemia ao abrir espaço para todo tipo de bobagem e teoria da conspiração em torno dos imunizantes.
As ciências desenvolveram suas diferentes metodologias exatamente porque séculos de tentativa e erro mostraram que “fazer a própria pesquisa” contando apenas com senso comum e boa vontade é receita para cair no viés de confirmação – encontrar inúmeros resultados que “confirmam” a hipótese favorita e os preconceitos pré-existentes e deixar passar os sinais negativos. “Não confie nos especialistas, faça sua própria pesquisa” tem tanta lógica quanto “não confie no piloto, faça seu próprio voo”.
Ao longo da série, Hancock vai insinuando que os monumentos (deixados ou inspirados) pela Grande Civilização perdida codificam um “aviso” para o mundo contemporâneo. Nos episódios iniciais fica a impressão de que se trata de algum alerta sobre meio ambiente, mas nos finais a ameaça metamorfoseia-se num impacto de asteroide (ou cometa) iminente.
Hancock tem uma ficha corrida de previsões de fim do mundo: em seu livro de 1995, ele insinua que o Sistema Solar poderia ser desestabilizado por uma conjunção planetária prevista para 5 de maio do ano 2000, e também trata com solenidade a suposta previsão maia do apocalipse para 2012.
A conversa sobre maio de 2000 desaparece silenciosamente de suas obras posteriores: em “Magicians of the Gods”, de 2015, ele é mais circunspecto e, em vez de cravar data, sugere um período apocalíptico que vai até 2040. Septuagenário, Hancock desta vez não estará aqui para a data final.
Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência, autor de "O Livro dos Milagres" (Editora da Unesp), "O Livro da Astrologia" (KDP), "Negacionismo" (Editora de Cultura) e coautor de "Pura Picaretagem" (Leya), "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto), ganhador do Prêmio Jabuti, e "Contra a Realidade" (Papirus 7 Mares)
