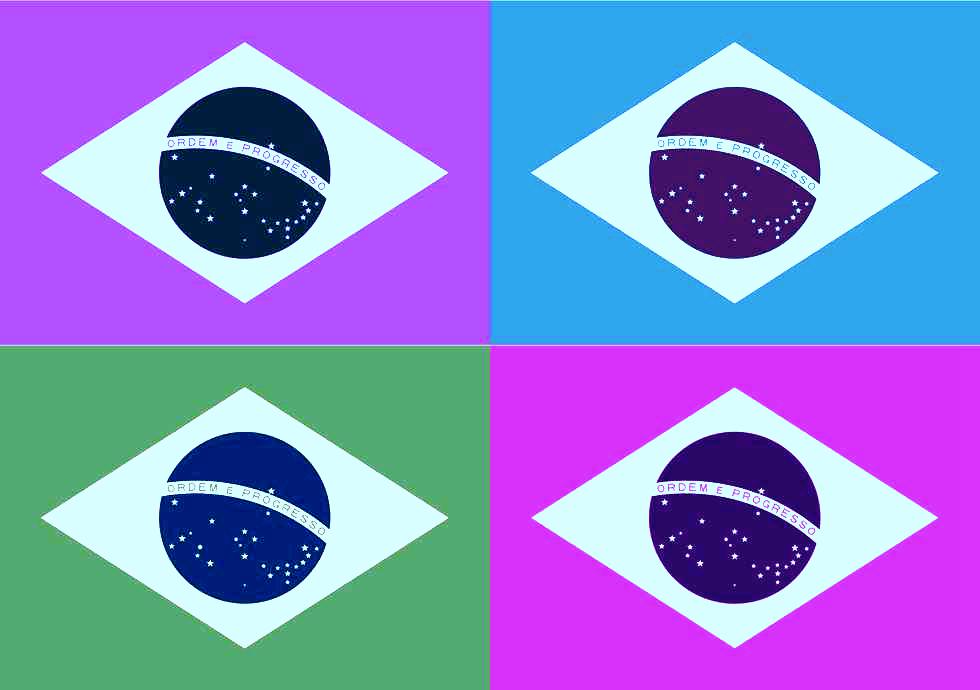
O futuro governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está sendo saudado como a retomada da política ambiental brasileira, alvo de desmonte generalizado pelo seu antecessor, Jair Bolsonaro. Mas além da herança maldita de Bolsonaro, Lula terá que encarar alguns pecados ambientais do seu passado e do PT à frente do país, evitando repetir erros e ceder a pressões que coloquem em risco o legado que pode deixar não só para o Brasil, mas para o mundo, na área.
Obras como a repavimentação (já em curso) da BR-319 no coração da Amazônia, entre Manaus e Porto Velho, arriscam ser ainda mais desastrosas do que a construção da Usina de Belo Monte, no Pará - apoiada por Lula em seu primeiro mandato e concluída no governo de sua sucessora, Dilma Rousseff -, enquanto projetos de legislação fundiária em tramitação no Congresso podem atrapalhar ou mesmo inviabilizar a promessa de desmatamento zero até 2030, ao manterem o ciclo vicioso de ocupação ilegal de terras, alerta Raoni Rajão, professor de Gestão Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e um dos mais respeitados especialistas brasileiros na área.
Rajão lembra que todo governo é um reflexo dos interesses e demandas da sociedade, e com o meio ambiente não é diferente. Se de um lado setores mais “desenvolvimentistas”, preocupados em aumentar o crescimento econômico e a produção, se juntam em torno de ministérios como Agricultura e Minas e Energia, de outro, setores mais conservacionistas contam com a atuação da pasta do Meio Ambiente para tentar salvaguardar a natureza, seus recursos e serviços ecológicos de forma a garantir o bem-estar da população no longo prazo.
“No primeiro governo Lula, com Marina Silva, pela primeira vez tínhamos uma pessoa no Meio Ambiente que, ao contrário dos ministros anteriores, geralmente técnicos de carreira ou cientistas, tinha mais centralidade no debate político”, destaca. “Uma pessoa histórica no Partido dos Trabalhadores (PT) e senadora, Marina conseguiu transferir para a agenda ambiental seu peso político, e foi muito importante na resolução de embates com uma visão mais desenvolvimentista do meio ambiente”.
Com o tempo, porém, Marina perdeu a batalha. Após seguidas divergências e conflitos com nomes no governo Lula como Dilma Rousseff - primeiro como ministra das Minas e Energia, e depois como ministra-chefe da Casa Civil – e Roberto Mangabeira Unger, então ministro-chefe da extinta Secretaria de Especial de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República, à qual foi dada a coordenação do recém-elaborado Plano Amazônia Sustentável (PAS), Marina pediu demissão em 13 de maio de 2008. Sua saída do cargo se deu apenas cinco dias após o lançamento oficial do PAS, que reunia uma série de ações a que ela se opunha na região. Entre essas ações, algumas das maiores obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) anunciado por Lula no ano anterior: a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, e de Belo Monte, no Rio Xingu.
“Tendo ali um embate muito direto entre a visão desenvolvimentista da Dilma e Marina, o PT ficou com Dilma. Houve uma dificuldade do próprio presidente Lula em entender que a força do legado de longo prazo de seu governo dependia também de uma parte ambiental mais forte”, avalia Rajão. “Isso explica a saída de Marina Silva e a aprovação de projetos como Belo Monte, que foi um desastre do ponto de vista ambiental e econômico”.
Segundo o professor da UFMG, as obras de Belo Monte foram em frente mesmo diante de estudos que indicavam que a usina seria um mau negócio em todos os sentidos. Em 2013, por exemplo, relatório da organização ambiental WWF acusava a usina de violar critérios fundamentais de sustentabilidade ao cometer cinco de sete “pecados capitais” na construção de barragens - rio errado, negligenciar a biodiversidade, cair na má economia, gerenciar mal riscos e impactos e cair cegamente na tentação ou tendência de “construir por construir”. Outro foi estudo encomendado pela própria SAE e sabotado e ignorado por Unger e seus sucessores na secretaria. Intitulado “Brasil 2040: cenários e alternativas de adaptação à mudança do clima”, seu inteiro teor se perdeu com a extinção da pasta (mas ainda é possível encontrar um sumário executivo aqui), e também já alertava que a expectativa de diminuição da vazão dos rios brasileiros tornaria usinas como a de Belo Monte – projetada para operar a fio d’água – inviáveis, dando à hidrelétrica de R$ 30 bilhões um fator de capacidade menor que o de usinas eólicas.
“Então, o primeiro desafio ambiental do novo governo Lula é aprender com o passado, reconhecer que foram cometidos erros, não só do ponto de vista ambiental, mas econômico, porque Belo Monte foi um desastre econômico”, diz Rajão. “Se à época fossem ouvidos os cientistas, os estudos de modelagem econômica com aspectos climáticos que mostravam que Belo Monte não só não ia dar o resultado de geração de energia esperado como isso ia piorar com o tempo, a gente teria um resultado melhor para o país, inclusive em termos de PIB”.
Preocupação com novo “PAC”
Diante disso, Rajão mostra-se preocupado com a sinalização de Lula de que pretende voltar a estimular a economia via grandes projetos de infraestrutura nos moldes do PAC. Segundo ele, o presidente eleito faria bem em resistir a pressões como as em torno do asfaltamento da BR-319, cujas obras acabam de ser retomadas sob Bolsonaro e deveriam ser interrompidas pelo novo governo. Atendendo a interesses de empresários e políticos do Amazonas, Acre e Rondônia, Rajão diz que as obras, por si sós, podem atrair para o futuro presidente a simpatia, e votos, dos nove senadores destes três estados, além de numerosos deputados, ao custo do meio ambiente.
“Acho que o Brasil precisa sim retomar os investimentos do setor público, pensar em infraestruturas críticas de longo prazo. O setor energético é um, a infraestrutura de transportes é outra delas, mas o ponto é onde e qual melhor opção para fazer isso”, avalia. “Não faz sentido, por exemplo, você asfaltar uma BR-319, que já tem uma hidrovia paralela e inclusive enfrenta problemas de navegabilidade na estação seca. Se você refizer a rodovia, vai aumentar o desmatamento e diminuir as chuvas na região, tornando a hidrovia ainda menos efetiva. Ou seja, você está praticamente construindo uma rodovia para destruir uma hidrovia, o que não faz nenhum sentido do ponto de vista logístico”.
E o mesmo vale para o setor de energia, como os estudos também retomados pelo governo Bolsonaro de construir uma série de hidrelétricas na bacia do Rio Tapajós tendo como “carro-chefe” a usina de São Luiz do Tapajós, acrescenta o professor da UFMG.
“Hidrelétrica está no nome, é energia que parte da água. Então, para ter energia você precisa ter água. E para ter água você precisa de floresta”, resume. “Nós já sabemos que estas grandes obras não só têm um impacto local mas impacto regional, com migração maciça, e também toda uma infraestrutura necessária para sua instalação, que é enorme. Então, o ‘x’ da questão é esse. Você acaba botando ali toda uma infraestrutura para poder aproveitar a previsão de um certo volume de água, e depois este fluxo de água não acontece porque a floresta foi destruída”.
Rajão ressalta ainda que estes projetos têm ligação direta com reformas na legislação de licenciamento ambiental em discussão no Congresso, que de acordo ele podem eximir empreendimentos do tipo dos impactos ambientais indiretos que venham a ter.
“Um dos aspectos principais da lei de licenciamento em debate agora é retirar dos empreendedores a responsabilidade sobre os danos indiretos. O que é basicamente um cheque em branco para a Eletronorte e outras empresas fazerem o que for e depois os danos ficam para a sociedade”, diz. “Não pode ser assim. O setor privado não pode ter autorização para fazer um projeto que vai trazer mais danos que benefícios para a sociedade. Não pode construir uma fábrica extremamente poluente e deixar as externalidades para a sociedade, que as crianças morram de câncer e pronto. Não. A função do governo é exatamente conseguir garantir que o bem-estar geral, coletivo, seja respeitado. Não dá para lavar as mãos como está se propondo com esta lei”.
Ciclo vicioso no campo
Outra preocupação de Rajão é com propostas de mudanças na legislação atualmente em tramitação no Congresso, especialmente no campo fundiário. Submetidas a fortes pressões do agronegócio, Lula precisará trabalhar “contra” elas se quiser realmente que seu novo governo seja reconhecido como um ponto de virada na política ambiental brasileira. E entre estas propostas está mais um exemplo de “herança maldita” deixada pelo atual presidente Jair Bolsonaro.
Em 2019, com a Medida Provisória 910, Bolsonaro tentou, na “canetada” e na surdina, praticamente anistiar todos que invadiram e desmataram ilegalmente terras públicas até 2018, ou seja, ocupações ilegais recentes, além de aumentar para até 1,5 mil hectares as áreas máximas que podem ser regularizadas sem fiscalização e com apenas uma autodeclaração, seguindo um padrão fundiário conhecido como “módulo fiscal”. Unidade de medida que teoricamente corresponde à área mínima que uma propriedade rural deve ter para que sua exploração seja economicamente viável, o módulo fiscal varia de município a município, dependendo do tipo de exploração e bioma que está inserido, entre outros parâmetros, e pode ir de 5 a 110 hectares.
“Caducada” sem ter sido votada pelo Congresso, a MP 910/2019 acabou se tornando o cerne do Projeto de Lei 2.633/2020, que ficou conhecido como a “Lei da Grilagem”. Acrescida de outros dispositivos – como aumentar para 2,5 mil hectares de forma linear, isto é, independente da localização e do bioma, as áreas máximas que podem ser regularizadas sem fiscalização e por autodeclaração - e com tramitação paralela ao Projeto de Lei 510/2021, que também mexe no tema fundiário, a “Lei da Grilagem” foi aprovada pela Câmara e agora está no Senado.
Segundo Rajão, embora o texto em apreciação tenha ao menos retrocedido para 2011 o marco temporal para a anistia às invasões e reduzido o tamanho das áreas que podem ser regularizadas, o projeto ainda representa um estímulo à ocupação irregular e o desmatamento ilegal de terras públicas no país. Não só por manter a expectativa de impunidade – antes o limite temporal era 2004 e foi jogado para 2011 em outra modificação recente da legislação, em 2017 – como nada impede que o marco temporal volte a 2018 e as áreas aumentadas na tramitação no Senado, alimentando um ciclo vicioso de especulação fundiária destrutiva no Brasil, explica o professor da UFMG.
“São propostas extremamente atrasadas, retrógradas, vergonhosamente danosas, que partem de uma lógica do tipo ‘vamos propor uma coisa bem horrível, absurda, que aí a gente negocia o que a gente quer’”, alerta. “O desmatamento continua, e continua acelerado, porque temos um processo de busca por terra barata, gente invadindo agora pensando que daqui a 10 anos vai ser anistiado e ainda lucrar com a venda daquela terra com a chegada da fronteira agrícola. Então, enquanto a gente não quebrar este ciclo de especulação de terra, vamos continuar autoalimentando a destruição”.
Diante disso, Rajão vê em a discussão fundiária uma oportunidade para o novo governo tentar requalificar o agronegócio brasileiro e romper este ciclo.
“O agronegócio no Brasil, no médio prazo, vai crescer principalmente para fora. Quem está comprando isso, nossa produção adicional é para exportação”, diz. “A Europa tem deixado muito claro, inclusive passando diversas legislações, que não vai mais comprar produtos ligados ao desmatamento, e a China também já tem feito declarações na direção de buscar o desmatamento ilegal zero. Existe este orgulho, esta arrogância do agronegócio brasileiro, que acho muito danosa, de achar que o mundo vai morrer de fome se o Brasil não produzir mais. Não, o mundo vai diminuir seu consumo de filé mignon se o Brasil não produzir mais soja e carne para exportação. O Brasil na verdade está subsidiando a mudança do padrão alimentar na China, que está comendo mais carne, e na Europa. Ele não está matando a fome do mundo. O mundo pode viver muito bem com uma quantidade de soja como a 10, 20 anos atrás, quando o Brasil não era um grande player na exportação. A diferença é que a 10, 20 anos atrás a carne era muito mais cara e o chinês, ao invés de comer carne duas, três, quatro vezes por semana, comia uma vez só”.
Assim, segundo Rajão, o novo governo deve atuar em três frentes. Primeiro, fiscalizar e cobrar os requisitos legais e ambientais para a regularização, titulação e manutenção da posse das terras, como os limites para o desmatamento do Código Florestal.
“Toda discussão da regularização fundiária fala sobre como facilitar o direito do acesso à terra, mas ela não fala e não enfatiza as consequências para aqueles que têm um acesso ilegal à terra ou não cumprem as condicionantes do acesso à terra”, diz. “Por exemplo, o Terra Legal, de 2009, que foi o grande programa do Lula de acesso à terra, tinha um aspecto muito claro: você recebe a terra, mas tem que seguir a legislação ambiental. Se não, o Incra vai lá e tira o título de você. Acontece que o Incra nunca retirou o título de alguém que estivesse desmatando ilegalmente”.
Segundo, dificultar o acesso a terras e a potencial regularização de sua ocupação ilegal no futuro designando-as desde já como áreas protegidas, em especial em regiões sensíveis como a Amazônia, onde, diz 50 milhões de hectares podem ser preservados desta maneira. E, por fim, aumentar a transparência e o rigor de todo sistema de controle de origem de produtos agropecuários.
“Quem está desmatando terra agora ou está comprando estas áreas já para agropecuária faz isso com base em duas hipóteses: ou que vai ter uma nova mudança na legislação e novas anistias, isto é, o ilegal hoje vai ser legal no futuro; ou que a situação agora, mesmo estando ilegal, ele consegue enganar o sistema e ‘lavar’ gado e soja para seu produto chegar no destino final. Ninguém produz se não for para vender. E ninguém desmata por paisagismo. Em última instância, se desmata para produzir. E a forma de você quebrar isso é apostar no controle de origem socioambiental da produção agropecuária”.
Neste sentido, ele e seu grupo de pesquisa na UFMG já estão apoiando o governo o Pará na implantação de um chamado “selo verde” do gado produzido no estado. Segundo Rajão, o sistema reúne dados ambientais com dados de rastreabilidade sanitária dos animais que não só diz se aquela fazenda de onde o gado está saindo desmata como se ela comprou gado de outros lugares com desmatamento.
“Ou seja, mesmo que a fazenda não desmate diretamente, o gado dela está contaminado com desmatamento”, explica. “O selo verde hoje já rastreia até cinco níveis de profundidade, podendo chegar até dez se necessário. Ele vai buscando o boi até o momento do nascimento. É um pouco como fazer identificação de lavagem de dinheiro. Você olha o dólar que é depositado nas Bahamas para a Suíça não tem lá o identificador, o número de série do dólar, mas monitorando os fluxos você consegue chegar à conclusão que aquele dinheiro está vinculado à corrupção em algum dado momento. Então hoje já tem solução técnica viável. O que está faltando, e faltou ao atual governo federal, e que se espera que agora mude, é vontade política para isso andar rápido para isso ser levado para o Brasil todo. Porque enquanto você não estiver dificultando o caminho do boi ilegal, da soja ilegal para o mercado, o dinheiro do desmatamento vai continuar chegando na ponta e alugando equipamento, alugando caminhão e pagando diária dos desmatadores”.
Esperança no jogo político
Embora considere que as negociações políticas em torno destes pontos não serão fáceis para o novo governo, Rajão acredita que Lula terá oportunidade de mudar a face da relação do agronegócio brasileiro com o meio ambiente, colocando o país no caminho de uma bioeconomia sustentável e lucrativa ao mesmo tempo.
“Temos um problema muito sério que quem hoje em grande parte pauta o debate da perspectiva do agronegócio são pessoas que estão exatamente defendendo o interesse dos especuladores de terras, e não a produção de longo prazo. Por isso a gente tem que partir de uma base factual mais robusta e única, e a partir dela aí sim ter um debate mais saudável no campo ambiental e do agronegócio”, considera.
“A pressão pró-ambiental está posta. O Brasil nunca foi tão exposto e pressionado nacionalmente e internacionalmente em questões ambientais assim desde a década de 1980", aponta. "E está se tornando cada vez mais inviável não só o acesso aos mercados internacionais mas também ao financiamento. Hoje os grandes frigoríficos do Brasil têm que pagar juros mais caros nas operações deles por causa do desmatamento na Amazônia, sendo que 80% do faturamento das grandes empresas do setor de proteína animal vem de fora do Brasil. E na COP-27 Lula colocou muito claro que o meio ambiente vai ser prioridade no Brasil. Então o Brasil está indo para um jogo de tudo ou nada. Eu acho que é momento de de fato conseguir virar o balanço de forças, e finalmente este agronegócio mais atrasado ser distanciado das políticas, colocando no ponto central um acordo em torno de um consenso agroambiental mais progressista. Acho que é isso que o Brasil está precisando e acho que Lula tem condições de fazer isso”.
Cesar Baima é jornalista e editor-assistente da Revista Questão de Ciência
