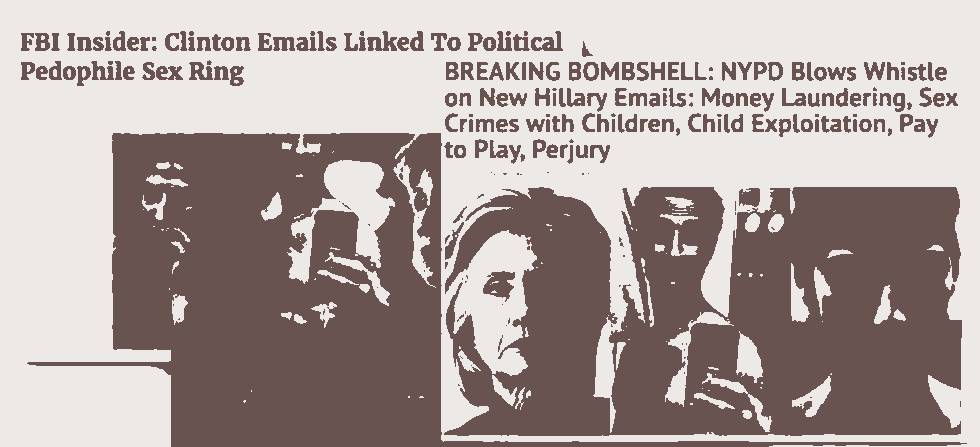
Durante as eleições presidenciais americanas de 2016, sites dedicados a publicar informações falsas disfarçadas de notícia – “fake news”, no sentido estrito – corresponderam a não mais do que 6% da “dieta noticiosa” dos cidadãos dos Estados Unidos. E a maior parte dos consumidores desse conteúdo distorcido provavelmente já estava radicalizada e polarizada antes de ter contato com as notícias falsas: apenas 20% do público respondeu por quase 60% do tráfego dos sites de desinformação.
Esses dados, obtidos a partir de pesquisas de opinião pública e do rastreamento – anônimo e consentido – do comportamento online de mais de 2 mil americanos entre outubro e novembro de 2016, foram apresentados no início de março em artigo publicado no periódico Nature Human Behaviour. O texto aponta que a amostra não é perfeitamente representativa, já que pessoas com nível educacional mais alto (ensino médio ou superior) estão sobrerrepresentadas.
“Estes resultados sugerem que a especulação disseminada de que existe uma prevalência de exposição a websites indignos de confiança é exagerada”, escrevem os autores, vinculados a instituições dos Estados Unidos e do Reino Unido. Eles também apontam que as chamadas “câmaras de eco” – comunidades que consomem apenas, ou majoritariamente, conteúdo que confirma e reafirma seus próprios preconceitos – parecem ser “profundas” (seus membros de fato consomem muito desse conteúdo) mas também “estreitas” (congregam uma fração pequena do público).
Se os dados apresentados contrariam o senso comum de que as notícias falsas têm moldado o pensamento de parcelas significativas da opinião pública, eles vêm a confirmar outras impressões intuitivas, como a de que redes sociais – com destaque especialíssimo para o Facebook – são a “porta de entrada” por excelência dos sites de conteúdo falso: análise estatística mostrou que, para um americano de inclinação conservadora, ser um “usuário pesado” do Facebook correlacionou-se a um aumento do consumo de “fake news”, no período eleitoral, de mais de 70%.
Outra intuição confirmada pelo estudo foi de que a leitura de “fake news” segue linhas de afinidade ideológica ou, nas palavras dos autores, “esses websites (...) foram consumidos por um subconjunto de americanos com forte preferência por informação pró-atitudinal”, isto é, que reforça as atitudes e opiniões prévias do usuário.
Esse apetite “pró-atitudinal” mostrou-se maior entre conservadores: 57% dos apoiadores de Donald Trump, na amostra, visitaram pelo menos um site de notícias falsas no período do estudo, ante 28% dos apoiadores de Hillary Clinton.
Em termos da composição da “dieta informativa”, “fake news” de caráter conservador perfizeram quase 5% do consumo online total de notícias da amostra, enquanto as de caráter “liberal” (no sentido americano), menos de 1%. Quando o público foi dividido por preferência política, apoiadores de Trump tinham 11% de notícias falsas de viés conservador na “dieta”; apoiadores de Hillary, por sua vez, consumiram 1,1% de notícias falsas “liberais”. Ambos os grupos também consumiram quantidades mínimas de “fake news” alinhadas ao campo oposto.
O trabalho não avaliou a credibilidade conferida às notícias falsas – se o público analisado leva a sério o que lê nos sites de baixa credibilidade, ou se os frequenta só “pela farra”. Estudo publicado em Cognition, no ano passado, sugeria que a dificuldade ou a pouca disposição para pensar de forma analítica é mais relevante para a aceitação de informações veiculadas via “fake news” do que o alinhamento político.
Outra conclusão sugerida pelo estudo é a de que, ao menos no contexto da política americana, o trabalho das agências de fact-checking não chega a quem realmente precisa. Na amostra analisada, apenas 3% das pessoas que leram uma notícia falsa tiveram acesso a um fact-checking específico sobre a mentira lida. No geral, menos da metade do público exposto a “fake news” acessa também sites de checagem de fatos.
Embora o estudo indique que o consumo de notícias falsas é um efeito, e não uma causa, da polarização política, os autores deixam em aberto a possibilidade de que indivíduos polarizados, ao compartilhar e replicar conteúdo falso, amplifiquem o impacto e a visibilidade desse material.
Essa hipótese é reforçada por um artigo publicado na Science em 2018, mostrando que os principais impulsionadores de notícias falsas no Twitter são seres humanos, não robôs.
Carlos Orsi é jornalista e editor-chefe da Revista Questão de Ciência
