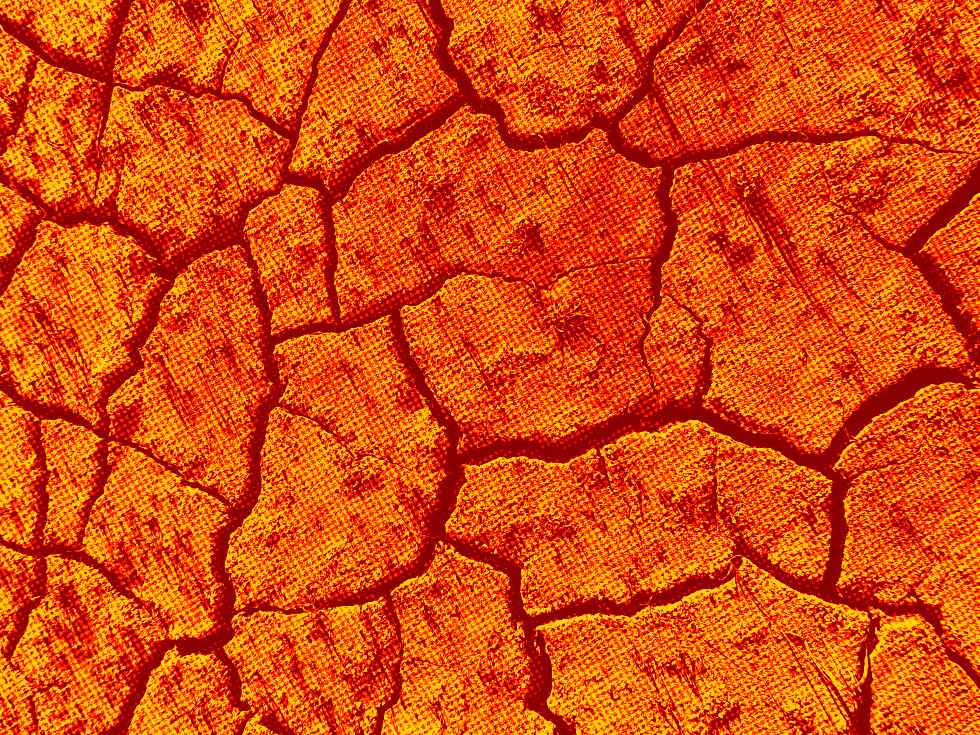
Enquanto o Brasil ainda luta para respirar em meio ao massacre de seus cidadãos pelo vírus SARS-CoV-2, recebido no país há mais de um ano com salvo-conduto e tapete vermelho estendidos pelo governo federal, o resto do planeta volta suas atenções para a ameaça que estava aqui antes da COVID-19, e que continuará entre nós muito depois de a doença ter sido reduzida – por obra e graça das campanhas de vacinação – a uma “gripezinha”: a mudança climática. Incêndios gigantescos no Canadá, mortes por enchente da Alemanha, na Índia e na China – no verão deste ano no Hemisfério Norte, tragédias climáticas acumulam-se mais rapidamente do que medalhas nos Jogos Olímpicos – ameaçados, no momento em que escrevo, por um tufão que atinge o arquipélago japonês.
A edição mais recente da revista The Economist traz na capa a chamada “Nenhum lugar é seguro num mundo 3º C mais quente”. O jornal The New Tork Times passou a manter, em sua edição online, um registro permanente de “extreme weather updates”, algo que poderíamos traduzir como “atualizações sobre eventos climáticos extremos” – grandes enchentes, ondas de calor descomunais, nevascas de proporções épicas. Não parece que a seção vá ter falta de material tão cedo. O texto principal da Economist lamenta que 2021 provavelmente será um dos anos mais frios do século.
A ciência básica por trás do mecanismo do aquecimento global – ou mudança climática – é bem simples, direta, nada controversa e está estabelecida desde o século 19: o dióxido de carbono (CO2) é um gás que aprisiona calor junto à superfície terrestre. E a atividade industrial humana, baseada na queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás) vem aumentando a concentração de CO2 na atmosfera nos últimos séculos. Esse excesso de CO2 limita o quanto da energia solar incidente a Terra é capaz de emitir de volta ao espaço. A energia não devolvida ao espaço fica presa aqui com a gente. O tempo passa, as coisas esquentam.
Por um certo período, há cerca de 50 anos, houve espaço para um debate legítimo sobre se esse processo não seria autolimitante: talvez o clima mais quente produzisse mais nuvens, e as nuvens, fazendo sombra na superfície, esfriariam o planeta de novo. Mas essa é uma questão superada pelo menos desde o segundo relatório do Painel Intergovernamental para Mudança Climática (IPCC) da ONU, publicado em 1995.
Quem quiser mais detalhes pode encontrar em artigos anteriores desta revista (aqui e aqui, por exemplo) ou neste site, que explica a questão de modo minucioso, e tem uma boa seção em português.
Negação
O negacionismo climático – operação ideológica e de marketing armada desde os anos 80 do século passado – o passou por diferentes fases.
Na primeira, aceitava-se que o “efeito estufa” (nome dado ao aprisionamento da energia solar na atmosfera) era real, mas que seria mais prático e barato ignorá-lo e realizar as adaptações pontuais que se fizessem necessárias para enfrentar os problemas que ele viesse a causar: melhor tratar os sintomas do que combater a doença, enfim. Também argumentava-se que os sintomas talvez jamais viessem a surgir, porque com a alta dos preços do petróleo, as forças de mercado iriam empurrar a economia rumo a fontes renováveis e alternativas “naturalmente”.
A segunda fase, a da negação descarada, veio nos anos 90, após a publicação do relatório do IPCC de 1995. Se os agentes da primeira eram principalmente economistas, os da segunda eram cientistas das áreas “duras”, como físicos – muitos deles, como mostra a historiadora Naomi Oreskes em seu livro “Mercadores da Dúvida”, recrutados entre as hostes dos negacionistas do vínculo entre tabaco e câncer.
Entre eles havia os mercenários, mas também os que agiam por afinidade ideológica: qualquer diagnóstico que sugira que o remédio é algum tipo de intervenção estatal (fosse proibindo o fumo, fosse interferindo no mercado de energia) teria de estar, por definição, errado. Com o viés de confirmação e o uso seletivo da evidência no comando, “provar” o erro era mera questão de tempo (e lábia).
Deflexão
Diante de um cenário onde negar os fatos, de que o clima terrestre está mudando para pior (“pior” do ponto de vista de nossa espécie e de algumas outras, como sapos e corais; “melhor” do de outras, como mosquitos e águas-vivas), e que essa mudança é causada pela matriz energética global, grupos econômicos e lobbies interessados em manter o status quo passaram a combinar a estratégia negacionista à da deflexão de culpa.
Os elencos de cada uma são diferentes: se a tarefa de empurrar o negacionismo bruto é delegada a uma minoria cada vez mais vista como lunática pelo restante da sociedade, a deflexão fica a cargo de gente “sofisticada”.
Nessa nova abordagem, o foco do ativismo climático não são mais as empresas e indústrias que extraem, processam e consomem petróleo em quantidades pantagruélicas, nem os políticos que se recusam a regulamentar emissões de carbono ou subsidiar energias alternativas. O foco passa a ser você, cidadão comum, que come dois bifes por semana, esquece de apagar a luz ao sair do quarto e embarca em avião quando tira férias.
Individual ou coletivo
O climatologista Michael Mann dedica parte importante de seu livro mais recente, “The New Climate War”, a expor a manobra. “O conceito de ‘pegada pessoal de carbono’ foi uma coisa que a companhia petrolífera BP promoveu em meados da década de 2000”, aponta ele. O truque mais uma vez bebe na fonte da indústria do cigarro, que durante muito tempo promoveu a divulgação de estudos sobre causas de câncer de pulmão que não fossem o tabaco.
Mann acusa a imprensa de “comprar um enquadramento [para a questão do clima] que põe ênfase exagerada na responsabilidade individual e menospreza o papel de mudanças sistemáticas”. Mann argumenta que, se a questão é evitar uma mudança climática catastrófica, tornar-se vegetariano tem muito menos impacto do que pressionar lideranças políticas.
O debate entre responsabilidade individual e transformação sistêmica é (mais um) reflexo da intensa tensão ideológica que hoje existe entre individualismo e coletivismo, escolha de mercado e ação política. Foi essa mesma tensão que fez com que a resposta à pandemia começasse (e, no caso do Brasil, prosseguisse) de forma tão irracional em tantas partes do mundo. Seria bom resolvê-la antes que o oceano, elevado pelas geleiras derretidas, venha bater à porta.
Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência, autor de "O Livro dos Milagres" (Editora da Unesp) e coautor de "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)
