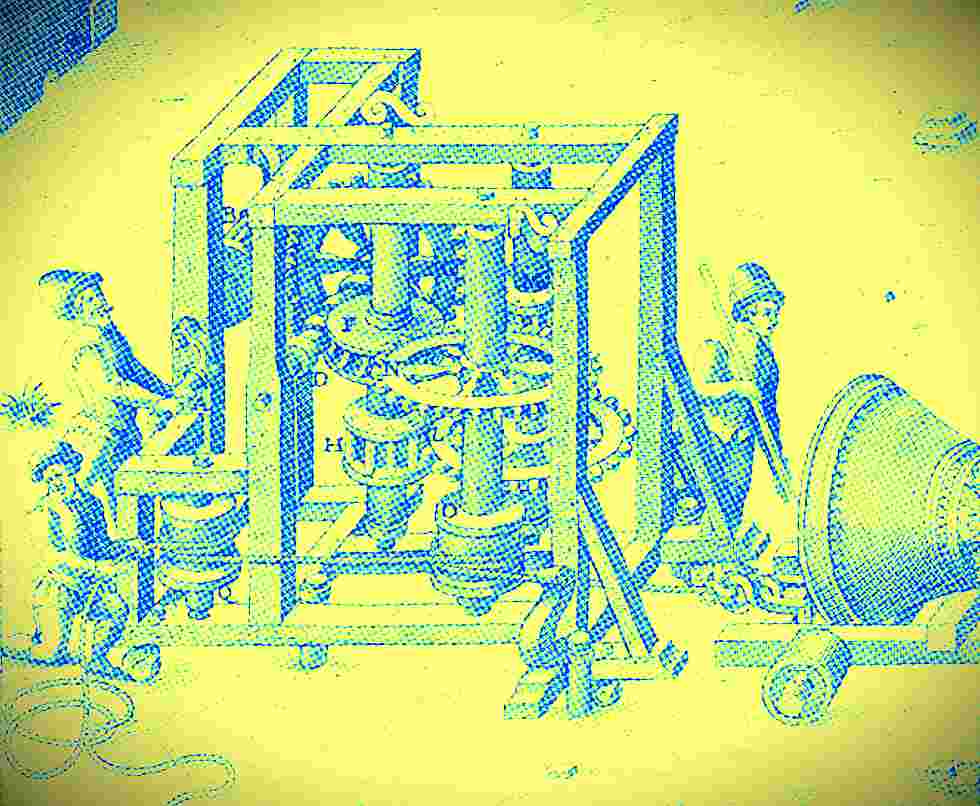
De repente, não mais que de repente, os Estados Unidos de Joe Biden deram uma guinada no seu tradicional posicionamento sobre patentes e se alinharam aos (poucos) países que defendem a suspensão para vacinas e medicamentos que combatam a COVID-19. A proposta vem sendo debatida na Organização Mundial do Comércio (OMC), onde o Brasil, contrariando não apenas sua posição tradicionalmente favorável, mas seus aliados do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), notadamente Índia e África do Sul, manifestou-se contra a proposta. Tudo porque Jair Bolsonaro, que nunca escondeu seu amor por Donald Trump, alinhou a política externa brasileira à dos americanos, no pior estilo “o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil”.
Na OMC, Brasil e outros países são favoráveis a uma terceira via, a do acordo entre governos e farmacêuticas. Mas, como boa Maria-Vai-Com-As-Outras, é até possível que Bolsonaro mude de ideia. A União Europeia já anunciou que analisará a proposta de Biden. A Alemanha marcou posição contra. Outra coisa importante: a votação na OMC tem de ser unânime. Ou seja, basta um país bater o pé e ser contra para que outros 163 fiquem a ver navios.
No cenário nacional, o assunto vinha quicando aqui e ali já há algum tempo, mas em 29 de abril o Senado aprovou projeto que autoriza o licenciamento compulsório temporário de patentes “para acelerar a produção nacional de vacinas" contra a COVID-19. O projeto ainda precisa ser analisado pela Câmara e, se aprovado, sancionado pelo presidente da República. O problema é que nenhuma das propostas – nem a da OMC, nem a tupiniquim – resolvem, a curto e médio prazos, o problemaço da escassez mundial de vacinas contra a doença do SARS-CoV-2, principalmente nos países emergentes e pobres.
Em várias entrevistas, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), relator da proposta de “quebra de patentes” de vacinas e medicamentos contra a COVID-19, comparou o processo a uma receita de bolo: você pega a receita e faz, provavelmente se esquecendo que a vacina da Moderna, de RNAm (assim como a da Pfizer), desde sempre teve a patente aberta, ou seja, em tese, é só pegar e fazer. Só que não.
Receita de bolo
Ninguém está pegando a receita da Moderna e fazendo vacina à vontade, pura e simplesmente porque a complexidade do processo é enorme e a produção em escala, mais complicada ainda. Além disso, países emergentes e pobres não produzem os insumos necessários e dependem de importações. É mais ou menos como imaginar que uma pessoa que só faz bolo de caixinha (caso do Brasil, que só finaliza e envasa vacinas), passe a produzir o clássico Opera francês, decorado com folhas de ouro, com perfeição e em escala industrial.
Só para produzir o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) da CoronaVac, uma vacina de tecnologia "clássica" e velha conhecida, de vírus inativado, o Butantan está construindo um novo laboratório, que ainda não está pronto: daí a dependência da China para fornecimento desses insumos. A Fiocruz também teve de adaptar suas instalações para poder produzir o IFA da AstraZeneca no Brasil, o que já se transformou numa novela. A Fundação firmou acordo de importação da vacina e de insumos para finalização e envase, com cláusula prevendo transferência de tecnologia, para que a vacina Oxford/AstraZeneca seja inteiramente produzida no Brasil.
Mas a assinatura do acordo para a transferência tecnológica transformou-se numa novela sem fim: o tanto não foi formalizado até agora e, sem ele, nada feito. A Fiocruz afirma, há semanas, que o acordo “está quase finalizado”, mas não explica qual o problema. As especulações vão desde questões financeiras até problemas técnicos. Oficialmente, a Fundação anunciou, com pompa e circunstância, que já domina parte do processo – sem dizer que parte é essa – e que, feita a assinatura do contrato, poderá produzir a vacina com IFA nacional depois de três meses. Poucos especialistas acreditam que isso aconteça no prazo dado. E temos ainda a União Química, laboratório apadrinhado pelo deputado federal Ricardo Barros, líder do governo e ex-ministro da Saúde no governo Temer, que nunca produziu vacinas, mas afirma estar produzindo a russa Sputnik V desde fevereiro. Apenas para exportação: a Anvisa exige documentação completa para liberação do produto para uso em brasileiros.
Exceção feita a China e Índia – a Rússia desenvolve vacinas, mas não tem a mesma capacidade de produção desses dois países –, poucos emergentes produzem vacinas e, mesmo assim, a maioria só domina o esquema bolo de caixinha, com insumos importados. Para eles, o licenciamento compulsório – o nome correto de “quebra de patentes”, na verdade uma negociação longa com o detentor da patente, e que sempre envolve pagamento pelo seu uso – ou mesmo a patente aberta não resolvem o problema imediato da escassez de vacinas na pandemia.
Jogo diplomático
“A decisão do presidente Joe Biden, de suspensão temporária de patentes, não passa da chamada diplomacia da vacina em meio a uma emergência planetária. A Índia também vinha fazendo isso, distribuindo vacinas entre os países vizinhos antes da explosão de casos no país, e a China também usa os imunizantes como parte de uma estratégia diplomática. Os americanos decidiram fazer o mesmo”, explica Gonçalo Vecina, médico sanitarista e fundador e presidente da Anvisa de 1999 a 2003. “No curto e médio prazo, essas iniciativas não vão ter efeito nenhum para a pandemia, porque são pouquíssimos os países emergentes em condições de absorver a tecnologia dessas vacinas feitas com vetores virais, como é o caso da AstraZeneca e Janssen. Imagine então para produzir as vacinas de RNAm como Pfizer, Moderna e outras que estão vindo por aí”, dispara.
Fabricar vacinas é zilhões de vezes mais complicado do que produzir genéricos de ácido acetilsalicílico, a popular aspirina. Não é uma receita de bolo, em que basta a receita, os ingredientes, misturar e colocar no forno (ou numa cápsula). E mesmo assim, grandes chefs sempre guardam para si um truquezinho, um segredo, para aquela receita espetacular. Patentes também são assim, mas seu truquezinho principal se chama capacidade tecnológica. O processo de produção da vacina da Pfizer, por exemplo, envolve quatro fábricas diferentes nos Estados Unidos, leva 60 dias e metade desse tempo é gasto em filtragens, purificações, testes e controle qualidade a cada etapa, como mostra o infográfico publicado recentemente por The New York Times.
“Não adianta nada quebrar patente se não tivermos fábricas com capacidade tecnológica para produzir vacinas e insumos localmente”, reforça o médico e virologista Maurício Lacerda Nogueira, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Recentemente, no programa online Diário da Peste #53, Nogueira disse que biólogos com um bom laboratório conseguem reproduzir o passo a passo para fabricar umas dez doses da vacina da Pfizer, desde que tenham algumas ferramentas biotecnológicas caríssimas, como enzimas de restrição (tesouras químicas que cortam o material genético em sequências precisas) e RNA polimerase (enzima que sintetiza RNA a partir de DNA, ou de outro RNA). “Isso, porém, não significa que cientistas brasileiros dominem o processo de produção em grande escala, ou que possam dominá-lo no curto prazo, simplesmente porque não temos infraestrutura”.
Faltam instalações em que vacinas modernas possam ser produzidas. A União Química adaptou suas instalações para produzir a russa Sputnik V, mas sua produção mensal não deve ir além das 8 milhões de doses mensais – pouco, quando se lembra que a empresa pretende fornecer a vacina para o Brasil e toda América Latina. E é por aí que começam os problemas: na necessidade de construir novos centros de produção e equipá-los. O custos não são pequenos.
Sem infraestrutura
Nas últimas décadas, toda indústria nacional de química fina simplesmente desapareceu, porque os governos decidiram ser mais vantajoso comprar insumos baratos no exterior do que incentivar e estimular o setor. Resultado: todos os insumos – e isso significa bem mais que o IFA – têm de ser importados.
De nada adianta “quebrar a patente” se não houver transferência de tecnologia, ou seja, se a empresa que desenvolveu a vacina, e detém sua patente, não ensinar como deve ser a fábrica, quais equipamentos e recursos precisa ter, e como usá-los. No exemplo do bolo, uma cozinha industrial totalmente equipada, com produção local de todos os ingredientes e um mâitre pâtissier que ensinasse em detalhes como fazer o clássico Opera. E esse também não é um processo simples mesmo entre as chamadas empresas da Big Pharma.
Mesmo entre grandes farmacêuticas, uma transferência de tecnologia pode levar mais de um ano. Para uma emergência como a da COVID-19, isso é muito tempo. No caso de “quebra de patente”, em que o fabricante entrega a receita, mas não o modo de fazer (e a infraestrutura necessária não existe fora dos grandes centros), o prazo para viabilizar produção local pode ser ainda maior.
Outro problema é a concentração da produção de matérias-primas para vacinas (fora os IFAs) em poucos países, o que manteria os “quebradores de patentes” não apenas na dependência de importações, mas também num quadro de fornecimento irregular de insumos, já que a demanda aumentaria enormemente – e os preços, também. No caso do Brasil, a produção desses insumos significaria um investimento pesado na reimplantação de todo um setor industrial, provavelmente uma tarefa que envolveria governo, iniciativa privada, agências internacionais, instituições como o BNDES e muitos, muitos anos.
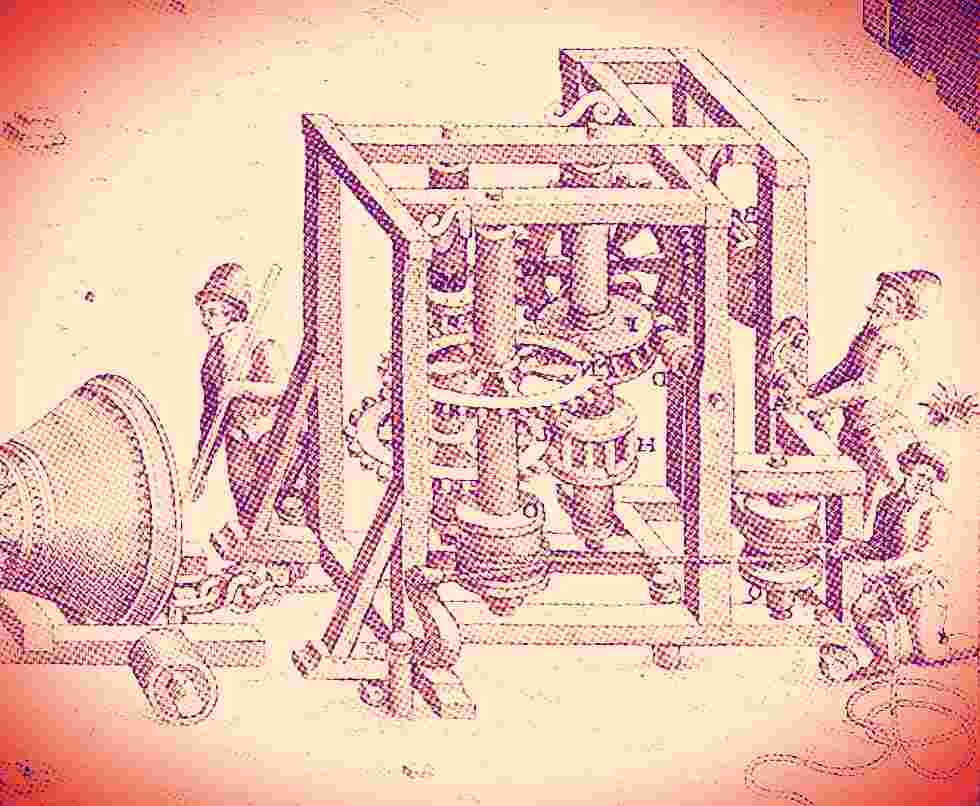
O próprio senador Trad reconhece que o projeto aprovado no Senado não deve ter efeitos práticos, mas funcionar como “pressão para que o governo recupere o setor”. Ou seja, é para “inglês ver”. Bolsonaro jamais demonstrou a intenção de levar a ciência nacional a sério. Tanto que, um mês depois de o ministro-astronauta Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações, ter anunciado recursos da ordem de R$ 200 milhões para o desenvolvimento da Versamune, a vacina que está sendo desenvolvida no campus da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto, o presidente vetou o repasse da verba.
Impacto global
A pandemia de COVID-19, com mais de 160 milhões de infectados e cerca de 3,4 milhões de mortos mundo afora, deixou à mostra o despreparo global para lidar com a situação. Países ricos compraram milhões de doses de vacina além do que realmente precisam, mas nem isso ajudou, já que os atrasos na entrega das doses contratadas são uma constante.
Enquanto os Estados Unidos vacinaram mais de 50% da população, e agora enfrentam o desafio de convencer o restante a se imunizar, o continente africano contabiliza apenas 1,14% de seus habitantes imunizados, a maioria no Marrocos, que vacinou 14% de seus cidadãos. O governo dos EUA investiu pesadamente no desenvolvimento de vacinas com tecnologia de ponta – talvez a única virtude da gestão de Donald Trump –, e garantiu assim a vacinação prioritária de sua população. Mas, num mundo globalizado às voltas com uma pandemia, ter a maior parte da população do planeta sem acesso a imunizantes significa correr o risco permanente de aparecimento de novas variantes que escapem das vacinas, e a volta da doença.
Fora isso, ninguém sabe ainda por quanto tempo dura a proteção conferida pelos atuais imunizantes e de quanto em quanto tempo as pessoas vão ter de tomar novas doses da vacina. Quanto maior o número de países capazes de produzir vacinas, melhor, seja para esta pandemia, ou para as que virão.
Por isso, se nos curto e médio prazos iniciativas de licenciamento de vacinas, com transferência de tecnologia, não farão diferença, no longo prazo podem ser essenciais, inclusive na vacinação contra doenças como febre amarela, sarampo e tuberculose, só para citar algumas.
Transferência de tecnologia e incentivo à pesquisa podem ajudar países emergentes a desenvolver imunizantes contra doenças que afetam especificamente algumas populações, como é o nosso caso com dengue, zika e chikungunha, por exemplo. Com algumas mudanças, as propostas em discussão nos fóruns internacionais poderiam ser o embrião de um novo sistema de produção de vacinas, menos concentrado, capaz de melhorar a capacidade do planeta de responder tanto a novos vírus, como a antigos agentes infecciosos.
Ruth Helena Bellinghini é jornalista, especializada em ciências e saúde e editora-assistente da Revista Questão de Ciência. Foi bolsista do Marine Biological Lab (Mass., EUA) na área de Embriologia e Knight Fellow (2002-2003) do Massachusetts Institute of Technology (MIT), onde seguiu programas nas áreas de Genética, Bioquímica e Câncer, entre outros
