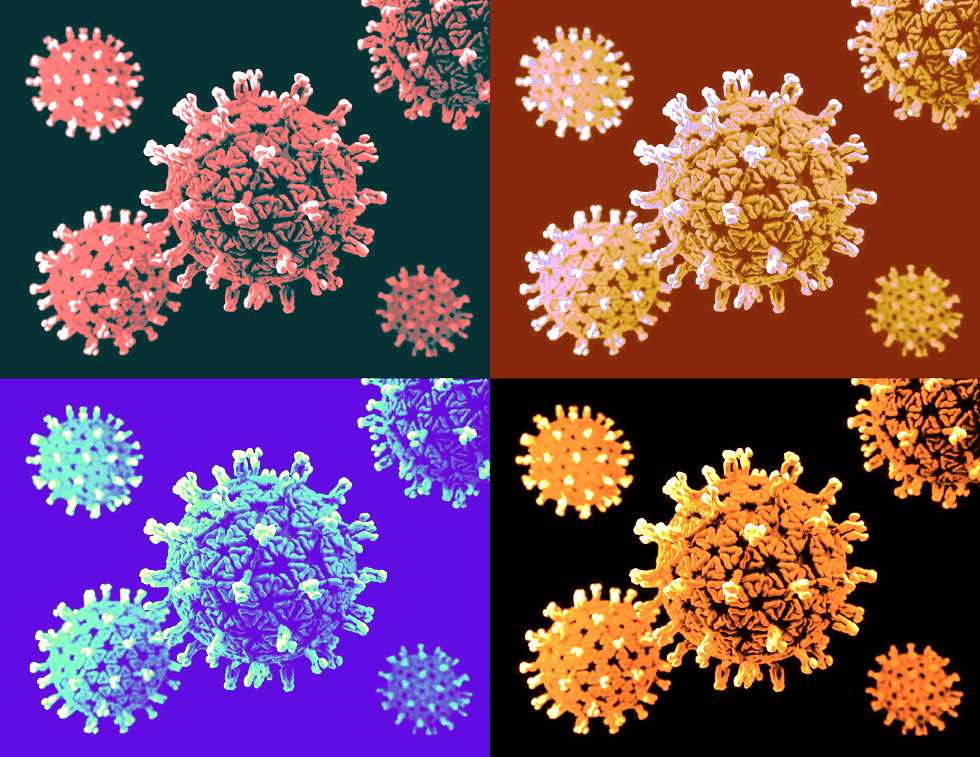
Nem todos os estudos científicos nascem iguais. O Ministério da Saúde usa uma “nota informativa” para promover o uso da cloroquina (CQ) e hidroxicloroquina (HCQ) para tratar a COVID-19 baseando-se em evidências fracas, de má qualidade ou inadequadas. De fato, num ambiente de políticas públicas de saúde mais racional e menos conflagrado, as autoridades já teriam reconhecido que a recomendação de CQ/HCQ no contexto do combate à COVID-19 tornou-se insustentável frente aos resultados científicos publicados nas últimas semanas.
Para nortear condutas médicas, as boas práticas da medicina baseada em evidências exigem testes clínicos randomizados e controlados, conhecidos pela sigla RCT. São ensaios prospectivos, preferencialmente duplo-cegos e com grupo placebo. Realizam-se dessa forma: os participantes são distribuídos ao acaso em grupos (são “randomizados”). Um dos grupos recebe o medicamento a ser testado. O outro, um placebo, tomando o cuidado de não deixar ninguém, nem pacientes nem experimentadores, saberem o que cada paciente está recebendo, se o remédio de verdade ou o placebo (por isso, o procedimento é “duplo-cego”).
Esses procedimentos todos não são luxos: existem para minimizar a interferência dos chamados “fatores de confusão”, elementos que poderiam influenciar o resultado do experimento para além do medicamento sendo testado. Entre esses fatores estão um eventual desequilíbrio entre os grupos (se um deles tiver mais pessoas jovens, ou em estágios iniciais da doença) e o próprio efeito placebo.
Há, claro, outros tipos de teste, mas que são anteriores ao RCT. Eles existem para sugerir candidatos que merecem passar pela prova mais rigorosa – em si, não provam nada e jamais deveriam ser usados para definir conduta clínica. São os estudos in vitro, isto é, em células de laboratório; os estudos pré-clínicos (em animais), e os estudos observacionais em humanos.
Estudos em células e animais são etapas mais preliminares, e não se pode extrapolar conclusões para humanos a partir deles. Nem tudo que funciona em células ou animais funciona em gente. Até aí, a maior parte das pessoas (mas nem todas) entende. A confusão real se instala quando começam a surgir os estudos observacionais, principalmente os chamados estudos observacionais retrospectivos.
Nesses estudos, os pesquisadores não têm controle, ou têm um controle apenas muito limitado, sobre os fatores de confusão que podem surgir. O tipo mais comum que tem aparecido nesta pandemia envolve análise retrospectiva dos resultados de pacientes que recebem diferentes tratamentos, comparando a evolução de cada um.
Estudos assim são ótimos para estabelecer correlações que podem ser, então, exploradas por RCTs. Mas eles geram, não comprovam, hipóteses. Um tratamento pode parecer extremamente promissor num estudo observacional e, ainda assim, ver seu suposto benefício desaparecer por completo quando submetido a um bom RCT. Para aprovação de um medicamento, é necessário haver ao menos dois RCTs completos, com o mesmo resultado positivo.
Pois bem, para a HCQ já temos RCTs que mostram que esse medicamento não funciona e não deve ser utilizado contra COVID-19, incluindo três que avaliaram justamente o uso “precoce”, ou nos primeiros sintomas, como tem sido promovido pelo Ministério da Saúde.
Os resultados
Boulware e colaboradores conduziram um estudo randomizado, duplo-cego e com grupo placebo nos EUA e Canadá. O trabalho mediu a incidência da doença após exposição ao vírus, no que chamamos de profilaxia pós-exposição. Pessoas que tiveram contato com pacientes de COVID-19 tomaram o remédio logo em seguida. O desfecho medido foi a incidência da doença, que não diferiu entre os dois grupos, mostrando que tanto faz tomar ou não a HCQ.
Mitjá e colaboradores testaram o uso precoce da HCQ em pacientes não hospitalizados em Barcelona, com infecção confirmada e menos de cinco dias de infecção. O grupo que recebeu HCQ foi comparado com tratamento padrão. Os desfechos medidos foram carga viral e progressão da doença. Não foram observadas diferenças, e a completa ausência de redução da carga viral demonstra claramente que a HCQ não tem efeito antiviral, como é proposto pelo Ministério da Saúde.
Finalmente, Skipper e colaboradores, em outro RCT completo, duplo-cego e com grupo placebo, conduzido nos EUA e Canadá, demonstraram não haver diferença na progressão da doença entre os grupos tratado e placebo. O estudo também foi realizado em pacientes não hospitalizados.
É importante notar que nenhum desses RCTs é perfeito: o de Boulware não testou os pacientes para a presença do vírus SARS-CoV-2, mas avaliou apenas a evolução de “sintomas compatíveis” com COVID-19 (que é, diga-se de passagem, consistente com o critério de “uso precoce” do Ministério da Saúde). O de Mitjá não usou grupo placebo e pode-se argumentar que a amostra, de menos de 300 pacientes, era pequena. Já o de Skipper testou apenas pouco mais da metade dos voluntários para a presença do vírus. Essas limitações têm sido exploradas por “cloroquiners” convictos para minar a conclusão óbvia – de que o uso de CQ/HCQ como profilático ou preventivo para a COVID-9 não passa de quimera populista e jogada política.
O que quem faz esse tipo de alegação ignora, no entanto, é que, com todos os problemas que têm, esses estudos produzem evidência muito mais robusta do que toda a literatura a favor do uso de cloroquina ou hidroxicloroquina contra COVID-19.
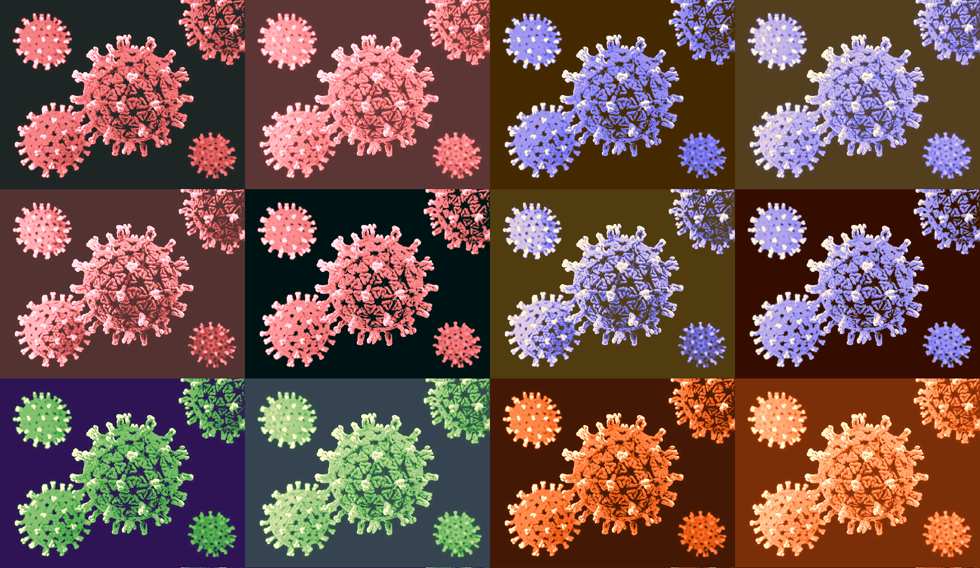
Telepatia
Vamos à lista. A evidência positiva é composta por um “protocolo de tratamento” proposto por um médico americano e que nunca foi publicado num periódico científico ou testado; por pseudo-RCTs conduzidos sem grupos de controle válidos e sob forte suspeita de fraude (fundamentalmente, toda a produção sobre HCQ do grupo de Marselha, de Didier Raoult); estudos observacionais marcados por fatores de confusão absurdos – incluindo diferenças gritantes nas idades e na medicação auxiliar dos grupos de tratamento e controle (como no infame paper da “Força Tarefa Henry Ford”); na suposição, insustentável porque também emaranhada em inúmeros fatores de confusão, de que certos países reduziram suas curvas de mortes porque, supostamente, usam cloroquina - alegação, aliás, jamais confirmada por documentação oficial dos países citados; e, por último, mas talvez não menos importante na cabeça dos áulicos do medicamento milagroso, por notas de tabloides digitais de baixíssima reputação.
O fato é que nenhum resultado de pesquisa existe num vácuo. Todo estudo precisa ser avaliado no contexto do conhecimento científico existente no momento em que é publicado. Quando a revista Nature soltou, nos anos 70, artigo sugerindo que o ilusionista israelense Uri Geller era mesmo capaz de ler mentes e depois, nos anos 80, que a água poderia ter memória, esses resultados foram recebidos com doses salutares de ceticismo, por terem baixíssima plausibilidade prévia. O tempo tratou de demonstrar que, realmente, ambos eram inválidos.
O princípio é tão óbvio que fica difícil não ver má-fé em quem o ignora: o ônus da prova cabe a quem afirma a existência de um efeito – seja a eficácia da HCQ contra COVID-19, a telepatia de Geller ou a memória da água – e é tão mais pesado quanto menos plausível for a afirmativa em questão.
Circo
A plausibilidade de haver algum efeito benéfico de CQ/HCQ como medicação antiviral já era baixa antes do início da pandemia: a despeito de resultados promissores in vitro, esses fármacos já haviam sido testados, em animais ou seres humanos, contra outas doenças virais, incluindo zika, gripe e aids, e fracassado em todas as oportunidades.
Depois, quando finalmente os fármacos foram testados em células específicas do trato respiratório – que são o alvo básico do SARS-CoV-2 – os testes mostraram total ausência de benefício: CQ/HCQ são incapazes de evitar que o vírus ataque células desse tipo.
A plausibilidade, aí, foi para o espaço de vez, mas esse resultado só veio depois que o circo já estava armado. Dasarmá-lo é essencial: nota recente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), emitida à luz dos novos RCTs, afirma que “é urgente e necessário que a hidroxicloroquina seja abandonada no tratamento de qualquer fase da COVID-19”. A nota chama atenção, entre outros pontos, para o risco de efeitos colaterais.
Infelizmente, muitas vaidades, reputações e carreiras – científicas, médicas e políticas – foram investidas nesse espetáculo, e há quem prefira preservá-las a salvar vidas.
Natalia Pasternak é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP, presidente do Instituto Questão de Ciência e coautora do livro "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)
Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência e coautor do livro "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto)
