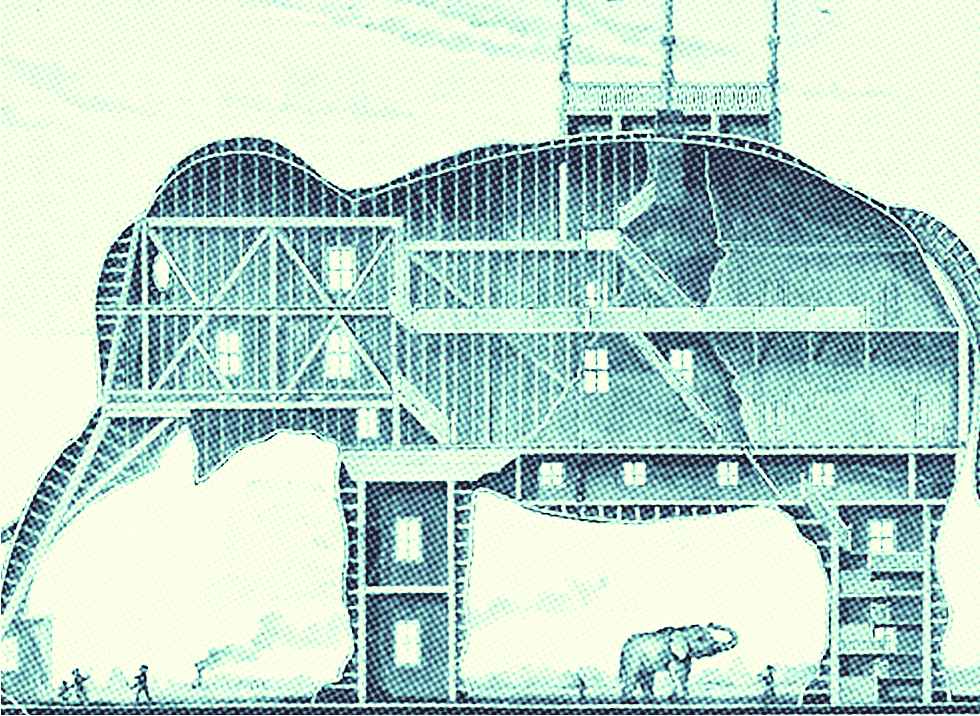
Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias, já dizia o aforismo popularizado por Carl Sagan. Não mais. Em tempos de redes e mídias sociais, em que veículos e pessoas vendem a alma por cliques e audiência, vale qualquer afirmação, mesmo com poucas ou, até mesmo, nenhuma prova. Como o que se viu durante a pandemia de COVID-19, quando se divulgou aos quatro ventos que a doença poderia ser tratada com cloroquina, ivermectina ou bebendo desinfetantes.
Para muita gente, esse excesso de desinformação científica é culpa das mídias sociais e das notícias divulgadas pelos meios de comunicação. Para a escritora americana Joelle Renstrom, que dá cursos na Universidade de Boston sobre redação e pesquisa, e criou um blog no qual explora a relação entre ciência e ficção científica, não é bem assim.
Em um artigo na OpenMind, uma revista digital que cobre desinformação, controvérsia, manipulação cognitiva e teoria da conspiração na ciência, ela reconhece que o Facebook, o Twitter, o TikTok e outras plataformas de fato propagaram desinformação perigosa. Ressalva, entretanto, que a mídia social é mais um sintoma do problema do que a causa. “A desinformação geralmente começa com os próprios cientistas”.
Em seu artigo, a autora lembra que, a partir de 2010, a maioria das revistas científicas tradicionais também passou a ter contrapartes digitais. Em paralelo, a maioria das instituições acadêmicas começou a usar mídias sociais para ajudar a divulgar o trabalho de seus pesquisadores. Nesse novo mundo, diz Renstrom, revistas científicas e cientistas competem por cliques, do mesmo modo que as publicações convencionais. Os artigos mais baixados, lidos e compartilhados recebem um alto “fator de impacto” no Altmetric Attention Score.
Some-se a isso o fato de alguns estudos mostrarem que as pessoas são mais propensas a ler e compartilhar artigos com títulos curtos, com palavras positivas ou que evocam emoções, e tem-se o ambiente perfeito para a divulgação de pesquisas iniciais ou incompletas com sensacionalismo, como se fossem a descoberta da cura câncer ou da existência de alguma divindade.
Em outro artigo, a respeito da “pandemia” de desinformação sobre a COVID-19, três pesquisadores italianos analisaram o papel da mídia de massa como um elemento crítico durante o surto de SARS-CoV-2, que influenciou a percepção pública de risco. De acordo com eles, no início do surto, a comunidade médica também ajudou a tornar a situação ainda mais confusa ao dar, em alguns casos, indicações imprecisas e por vezes contraditórias sobre a doença.
Eles dizem que houve inúmeros debates na mídia envolvendo posições conflitantes e distintas. Dois campos opostos puderam ser reconhecidos, a partir das inúmeras entrevistas de membros da comunidade médica. De um lado, aqueles que estavam inclinados a divulgar notícias alarmantes e, de outro, os que tinham ideias otimistas, que viam a COVID-19 como uma doença que não oferecia perigo.
Os autores acrescentam que, poucas semanas depois do início da pandemia, comentários de não especialistas em problemas infecciosos ou respiratórios podiam ser vistos na grande mídia. De acordo com eles, parecia que toda a comunidade médica (gastroenterologistas, nefrologistas, cirurgiões, neurologistas) estava divulgando declarações e escrevendo artigos como se fossem os principais especialistas em COVID-19.
Redes
O químico Luiz Carlos Dias, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), concorda que as redes sociais não são a causa da difusão de fake news e mentiras. “Outros atores, como políticos, líderes religiosos, blogueiros e jornalistas são fontes delas” diz. “E para piorar, sim, cientistas e médicos também são excelentes fontes de desinformação”.
Ele diz ainda que, enquanto as instituições e as agências de fomento à pesquisa incentivarem os cientistas a se concentrarem na quantidade ao invés da qualidade dos artigos publicados, vão existir resultados exagerados e conclusões precipitadas. “As revistas científicas, por sua vez, devem tomar cuidado com a divulgação de artigos com títulos muito atraentes, que não refletem as principais conclusões de um trabalho”, acrescenta.
O biólogo Elidiomar Ribeiro da Silva, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), vê com certa naturalidade a busca por cliques e visualizações para trabalhos e publicações científicas. “Para se ganhar visibilidade, é normal aumentar mesmo a intensidade das tintas”, diz. “Até onde, depende do bom senso. Entomólogos australianos, por exemplo, descreveram uma mutuca (tipo de mosca) nova. Nada diferente de qualquer outra. Só que eles batizaram a espécie em homenagem à cantora Beyoncé. E isso virou matéria na imprensa do mundo inteiro”.
Ou seja, graças a isso a descrição de uma espécie de inseto ganhou holofotes que de outra maneira não teria. “Vejo isso de forma bem positiva, até porque a prerrogativa de nomear uma espécie nova é dos autores, desde que respeitem as regras do código de nomenclatura”, explica. “Porém, em pesquisas de outra natureza, uma postura tipo ‘sensacionalista’ na comunicação pública pode ter consequências perigosas”.
Nessa linha, a antropóloga Letícia Maria Cesarino observa que muitos artigos são escritos já pensando no potencial de citação – novos conceitos chamativos são criados para atrair atenção e downloads, sem que necessariamente descrevam algo novo ou mesmo relevante do ponto de vista da pesquisa. “Algumas revistas trazem orientações explícitas, por exemplo, sobre como escrever abstracts mais ‘clicáveis’, ou seja, para que tenham uma probabilidade maior de aparecer no topo de buscas na internet”, explica.
Distorções
O médico epidemiologista Fredi Alexander Diaz-Quijano, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP), observa que a ciência, por definição, se refere ao conhecimento, e os que a fazem estão numa procura permanente pela verdade. “A desinformação, por outra parte, está baseada em falsidades ou distorções na geração ou interpretação de dados”, afirma. “Uma outra coisa, muito diferente, é a questão sobre quem é o responsável por essas falsidades ou distorções”.
Nesses sentido, Diaz-Quijano diz que diversos atores envolvidos na geração, socialização e aplicação do conhecimento podem errar, seja de forma deliberada ou inconsciente. Ou seja, cientistas, revistas, divulgadores, jornalistas e até os usuários finais podem ser causadores de desinformação. “Mas, em nenhum momento, um ato que leve a desinformação deve ser considerado como ciência, mesmo que seja feito por ‘cientistas’”, ressalva. “A ciência é feita por cientistas, mas nem tudo o que eles fazem é ciência”.
No caso das plataformas de mídia social, o médico da USP diz que elas viraram a principal vitrine para a divulgação de resultados de pesquisas. Isso trouxe alguns benefícios, pois facilitou a socialização do conhecimento, mas não está livre de vícios, incluindo o sensacionalismo e o fanatismo. “Infelizmente, esses mecanismos que desviam a atenção das pessoas também promovem visualizações, e estas últimas favorecem as citações dos trabalhos”, explica.
Para as revistas, continua ele, o fator de impacto virou documento, isso é, o seu cartão de apresentação. Por isso, muitas delas se preocupam em apresentar de forma chamativa os artigos. “Não é raro encontrar alguns extremamente citados, mesmo sem ter grandes novidades, apenas pelo sensacionalismo do seu título”, diz. “Eu considero que um exemplo disso é o paper Why Most Published Research Findings Are False, que tem mais de 2,8 milhões de visualizações e mais de 6.500 citações”.
Segundo Diaz-Quijano, o título desse artigo já induz o leitor a acreditar que a maioria dos resultados das pesquisas são falsas. Mas quando se revisa detalhadamente o trabalho, percebe-se que ele expõe uma reflexão baseada em simulações dificilmente verificáveis e suposições arbitrárias. “Em outras palavras, o artigo traz um exercício interessante que motiva a reflexão mas, na minha opinião, não pode ser considerado evidência de que a maioria dos resultados publicados são falsos”, avalia.
Nesse caso, para ele o problema não é o conhecimento gerado pela pesquisa, mas a forma como foi apresentado, incluindo um título que promove o sensacionalismo. “Por isso mesmo, considero que o título do artigo de Renstrom (‘How Science Fuels a Culture of Misinformation’) está errado do ponto de vista semântico, e é mais um exemplo de título sensacionalista que promove a desinformação”, critica.
No artigo citado, Renstrom também aborda o papel das assessorias de imprensa das universidades e instituições de pesquisa no aumento da desinformação. Ela cita o cientista de dados da Universidade de Washington Jevin West, que estuda a disseminação de informações falsas. Segundo a autora, ele diz que os escritórios de relações públicas da universidade responsáveis por comunicados à imprensa e outras interações com a mídia também desempenham um papel na busca por visualizações cliques.
As universidades querem que seus cientistas ganhem bolsas e financiamentos de prestígio e, para isso, “a pesquisa precisa ser chamativa”. Os escritórios de relações públicas ou assessorias de imprensa podem exagerar a certeza ou as implicações das descobertas nos comunicados à imprensa, que são rotineiramente publicados quase que sem alterações nos meios de comunicação. Do outro lado, muitos jornalistas não fazem distinção entre preprints (artigos ainda não revisados e aprovados por pares) e artigos formalmente publicados. Para leigos usuários da internet, os dois tipos de disseminação parecem iguais.
Dias-Quijano lembra que os jornalistas de ciência dos veículos de comunicação e as assessorias de imprensa da universidades são responsáveis por construir uma ponte entre o cientista e a sociedade. “Por isso, esses atores precisam estar preparados para evitar divulgar notícias sensacionalistas, estudos iniciais, mesmo que promissores, evitando amplificar potenciais benefícios, para evitar difundir notícias que transmitem falsas esperanças”, recomenda.
Exagero
Além disso, devem deixar sempre claro que são estudos ainda em andamento e que uma possível aplicação pode levar anos. “É fundamental evitar informações com títulos atraentes apenas para despertar a atenção da população”, avalia Dias-Quijano. “A assessoria de imprensa também deve estar preparada para rapidamente esclarecer a população no caso de uma informação exagerada, que gera muitas expectativas, para evitar a disseminação de inverdades que possam afetar a reputação dos pesquisadores”.
O engenheiro químico Galo Carrillo Le Roux, da Escola Politécnica da USP, diretor presidente da Associação Brasileira de Engenharia Química (ABEQ), por sua vez, minimiza o papel das assessorias de comunicação das instituições de pesquisa e dos jornalistas dos veículos de comunicações na propagação da desinformação. “Eu acho que não é grande ou, ao menos, não é intencional.”, diz. “Eu vejo comunicações na imprensa anunciando este ou aquele trabalho como sendo revolucionário, mesmo que tenha sido inspirado em algo que se faz há 20 anos. O culpado é o cientista”.
Ele diz que não se sentiria bem saindo na imprensa como sendo responsável de um processo que já data de muitos anos, muito conhecido no mundo científico. “Isto porque eu tenho escrúpulos”, justifica. “Mas tem gente para a qual os 15 minutos de fama são a coisa mais importante do mundo. E, de fato, o jornalista não é culpado por não saber, e a população, à procura ídolos, também não. Mas assim vamos colecionando casos de heróis cientistas que fazem pele artificial, plástico biodegradável ou embalagens inteligentes com técnicas do arco da velha, mas que aparecem na imprensa de maneira muito positiva”.
Evanildo da Silveira é jornalista
