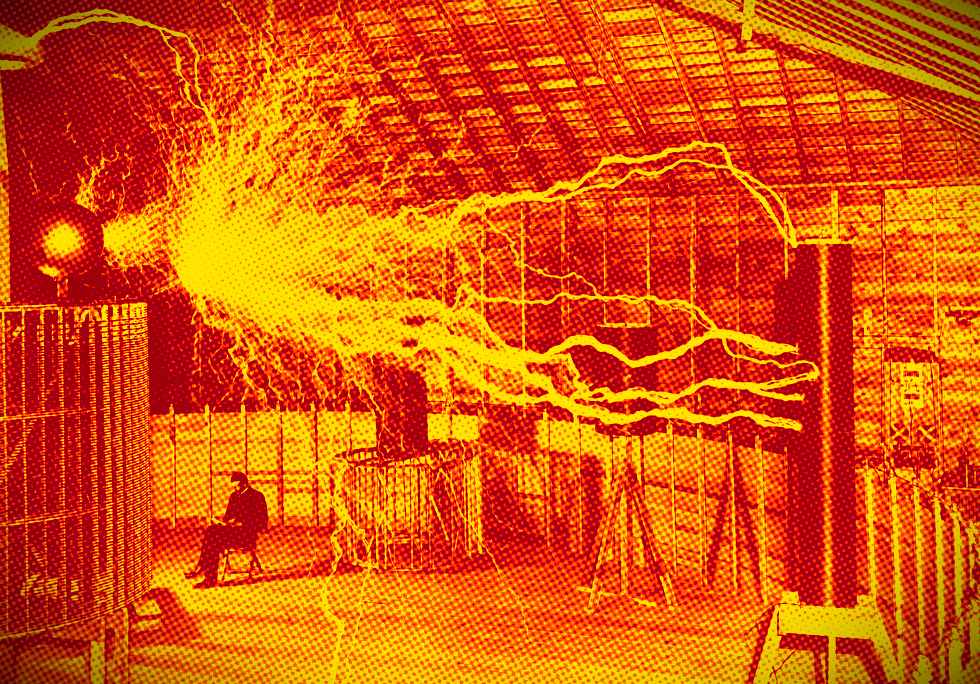
“Abençoado por Deus”, e “bonito por natureza”, o Brasil dispõe de uma ampla gama de recursos naturais para a geração de eletricidade. Lar de algumas das maiores bacias hidrográficas do planeta, aproveitou o enorme potencial hidráulico de seus muitos rios construindo mais de mil hidrelétricas, desde gigantes como Itaipu e Tucuruí a centenas de pequenas centrais espalhadas pelo país. Tanto que, até o início deste século, este tipo de usinas respondia por cerca de 90% da potência instalada no país, formando a base da matriz elétrica brasileira.
Com ventos constantes em seu extenso litoral, o Brasil também viu a capacidade de geração eólica saltar de praticamente zero para quase 20 gigawatts (GW), ou uma Itaipu e meia, apenas nas últimas duas décadas. Já o Sol forte tropical alimenta cada vez mais células fotovoltaicas em centrais geradoras e telhados país afora, promovendo uma mudança de paradigma no sistema, introduzindo conceitos como microgeração e geração distribuída.
Mas não podemos ficar deitados neste berço esplêndido. A urgência da crise climática e a expectativa de aumento da demanda de energia nas próximas décadas exigem uma política sustentável para manter e ampliar da oferta de eletricidade, o que só será possível se vier de fontes renováveis e mais limpas. Além disso, as próprias mudanças climáticas já começam a cobrar seu preço sobre o sistema. A atual crise hídrica – espelho da de 2001, com novas ameaças de racionamento e apagão – reforça a necessidade de diversificação da matriz nacional, para aumentar tanto a disponibilidade quanto a segurança no abastecimento de energia.
Assim, ao maior aproveitamento de seus ventos e da iluminação solar, o Brasil deve unir cada vez mais a biomassa gerada pelo agronegócio, além de agregar novas tecnologias, como a produção de hidrogênio para células de combustível, apontam especialistas. Tudo para evitar recorrer a novas usinas térmicas a gás – solução “rápida” encontrada para a crise de 2001 – enquanto também atende à necessidade de revisar projetos de grandes hidrelétricas, em especial na Amazônia, à luz do crescente conhecimento e conscientização de seus também grandes impactos ambientais e sociais.
“O Brasil foi abençoado em termos de recursos naturais e não tem sentido não se aproveitar desta diversidade de fontes que se complementam e são de boa qualidade”, destaca Maurício Tolmasquim, professor do Programa de Planejamento Energético da Coppe/UFRJ (PPE/Coppe) e ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). “Temos bons ventos, a radiação solar é forte, abundância de água, potencial de biomassa. O Brasil tem as condições ideais para ser um país de matriz elétrica praticamente 100% renovável, ainda mais dada a atual situação climática”.
Em agosto, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC) publicou novo relatório em que alerta para a realidade da crise climática no planeta. Abandonando de vez o discurso de que essa crise seria uma preocupação para gerações futuras, o IPCC destacou que as consequências do atual aquecimento global – com a temperatura média da superfície da Terra registrando hoje 1,1º Celsius acima da registrada no período 1850-1900 – já se mostram claras no aumento na frequência e magnitude de eventos extremos como ondas de calor, secas, tempestades e furacões.
Situação que deverá piorar com o aumento da temperatura média da Terra em pelo menos 1,5ºC na mesma base de comparação até meados deste século, já considerado praticamente inevitável pelos especialistas do painel sob qualquer cenário de emissões de gases do efeito estufa pela Humanidade.
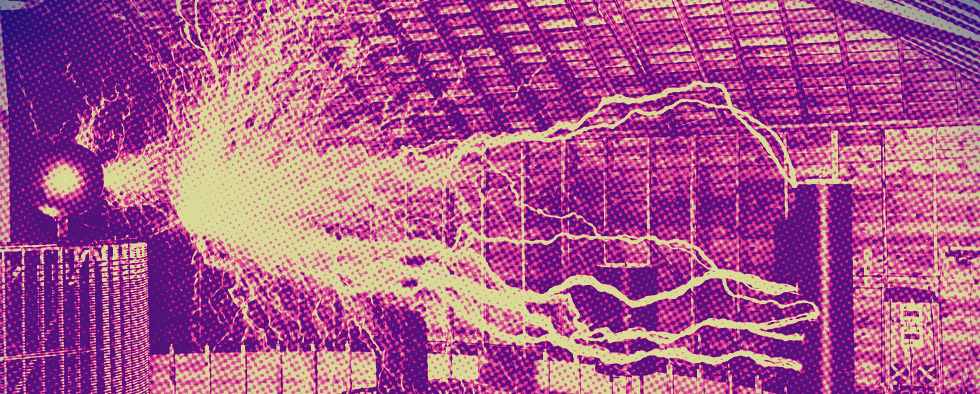
Ou seja: mesmo que de repente todos os carros, ônibus, caminhões, aviões e usinas elétricas a carvão e gás do mundo parassem, e as emissões humanas globais fossem “magicamente” a zero de uma hora para outra, o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e outros gases-estufa que já lançamos na atmosfera continuarão a agir, elevando a temperatura do planeta nas próximas décadas, levando a “um aumento na ocorrência de alguns eventos extremos sem precedentes nos registros observacionais”, diz o documento do IPCC, ressaltando que os efeitos serão piores e mais intensos a cada 0,5ºC extra de aquecimento global.
“É claro que um país só não vai resolver o problema do clima, que é global, mas o Brasil pode contribuir não só na questão das emissões antrópicas de carbono”, acrescenta Tolmasquim. “É uma questão que também é geopolítica, e o Brasil pode se destacar em termos de imagem do mundo. É o ‘soft power’, é ser uma potência verde, e não o contrário como estamos sendo vistos agora, uma escória do mundo em termos ambientais. Um país continental com uma matriz elétrica quase 100% renovável é um baita cartão de visita de todas estas fontes no mundo”.
Renováveis, sim. Limpas?
Acontece que ser uma fonte de energia renovável não quer dizer totalmente limpa em termos de emissões de carbono. Mesmo as usinas eólicas e solares, cujas formas de geração de eletricidade não produzem gases do efeito estufa diretamente, têm seu custo em emissões, que cobrem desde a produção do aço das pás das turbinas à fabricação das placas de silício das células fotovoltaicas, sem contar transporte, construção, instalação e operação das centrais geradoras. Estima-se que este custo fique em cerca de 46 quilos de CO2 equivalente por megawatt-hora (MWh) para as usinas eólicas, e 12 quilos, nas solares.
O mesmo vale para as hidrelétricas, que compõem a base da matriz brasileira. Historicamente propagandeadas como fontes de energia limpa, algumas delas, no entanto, podem ser mais “sujas” do que usinas a carvão, com emissões superando 1 tonelada de CO2 equivalente por megawatt-hora de eletricidade gerada. É o caso, por exemplo, da hidrelétrica de Balbina. Inaugurada no fim da década de 1980, a usina projetada para atender Manaus – e sua Zona Franca – inundou uma área de 2.360 quilômetros quadrados, a maior parte de floresta, na região de Presidente Figueiredo, ao Norte da capital do Amazonas, para uma potência instalada de 250 megawatts (MW), sendo unanimemente apontada pelos especialistas como um exemplo de mau planejamento e mau aproveitamento de potencial hidráulico. Um verdadeiro desastre ambiental.
Balbina serviu de alerta para o problema das emissões de gases do efeito estufa por grandes reservatórios de água, especialmente em regiões tropicais, e principalmente os associados a hidrelétricas. No Brasil e no exterior, cientistas começaram a procurar maneiras de medir ou estimar estas emissões, identificar e entender os processos envolvidos e formas de reduzi-las, ou ao menos mitigá-las.
Entre as iniciativas neste sentido, destacou-se o Projeto Balcar - Emissões de Gases de Efeito Estufa em Reservatórios de Centrais Hidrelétricas. Bancado pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel), vinculado à Eletrobras, o estudo envolveu uma série de campanhas em campo entre 2011 e 2012 para medições e análises de oito hidrelétricas então em operação (entre elas Balbina) e nas áreas de outras três em construção – incluindo outro projeto polêmico, a usina de Belo Monte – que seriam representativas do setor no país, e teve seus resultados publicados em livro em 2014.
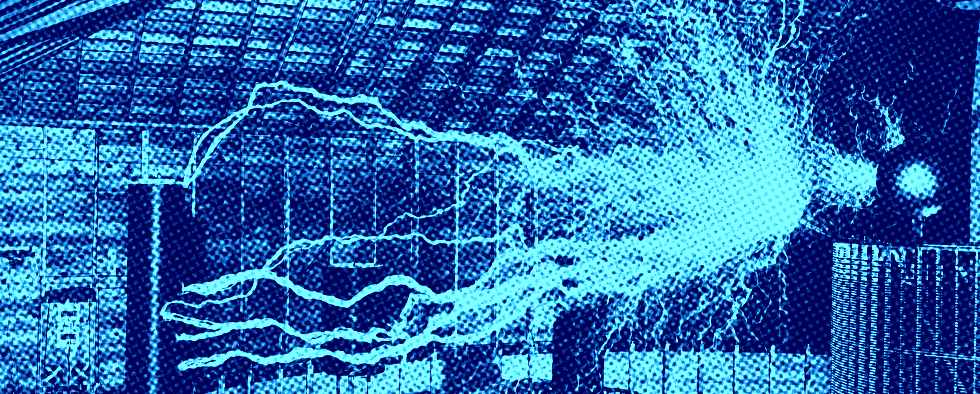
Como esperado, Balbina teve um desempenho desastroso. Mesmo passados mais de 20 anos desde o enchimento de seu reservatório, período que concentra a maior parte de emissões de gases do efeito estufa em projetos de hidrelétricas, no pior dos cenários, que considera a floresta inundada um sistema de captura líquida de carbono, a usina tem emissões líquidas calculadas em quase 7,2 mil toneladas de carbono por dia, com uma intensidade de emissões por energia gerada de mais de 2,1 toneladas de CO2 equivalente por MWh, ou o dobro do esperado para uma usina a carvão.
Já Tucuruí, maior hidrelétrica com reservatório da Amazônia, também avaliada pelo Balcar, teve esta a intensidade calculada em apenas 52,4 quilos de CO2 equivalente por MWh gerado. Isto porque, apesar de ter um lago que cobre mais de 3 mil quilômetros quadrados do que antes era floresta, na bacia dos rios Araguaia e Tocantins, a cerca de 300 km ao Sul de Belém, Pará, a usina tem uma potência instalada de 8.370 MW, mais de 33 vezes a de Balbina e a terceira maior do país, atrás apenas de Itaipu (14 mil MW) e Belo Monte (11,2 mil MW).
Para estas duas, por sua vez, os números levantados pelo projeto são ainda melhores, com 4 quilos de CO2 equivalente por MWh no caso de Itaipu e estimados 9,46 quilos de CO2 equivalente por MWh, antes da conclusão das obras de Belo Monte.
“Não podemos generalizar o problema das emissões de hidrelétricas a partir de casos fora da curva encontrados em nosso parque”, defende Marco Aurélio dos Santos, também professor do PPE/Coppe que coordenou a equipe da instituição que participou do Projeto Balcar. “Balbina não é Tucuruí, não é Belo Monte. Cada hidrelétrica tem um perfil de emissões distinto. Os dados e modelagens comprovam isso. São eles que dão substrato para nosso conhecimento e devem dar subsídios para a tomada de decisões com relação a estes aproveitamentos, e não achismos”.
Planejamento
Não é, porém, o que acontece na prática. Responsável pelo planejamento do futuro da matriz energética brasileira, o que inclui a matriz elétrica, a EPE não leva diretamente em conta a questão das emissões nas suas avaliações de possíveis aproveitamentos dos potenciais hidráulicos do país, focando apenas nas emissões do setor como um todo, e como ele pode contribuir para que o Brasil cumpra suas metas de redução, como nos compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris.
“O IPCC considera as hidrelétricas como de baixa emissão de gases do efeito estufa, e no planejamento temos que escolher o que é bom para o país, levando em conta parâmetros como custos de geração e segurança no fornecimento, garantir para a sociedade que ela vai ter aquela energia que vai precisar”, diz Elisângela Medeiros de Almeida, superintendente de Meio Ambiente da EPE.
“Temos que considerar que estamos olhando para isso do ponto de vista do planejamento, que nossos planos decenais de energia (PDEs) e o Plano Nacional de Energia são indicativos. Fazemos estimativas de emissões para o setor, não por projeto. Então, dentro da diversidade de fontes disponíveis no Brasil, temos que ver o que seria indicado para a diminuição das emissões de gases-estufa tendo em vista que a geração elétrica responde por apenas 4% das emissões totais do país, muito menos que outros setores da economia”.
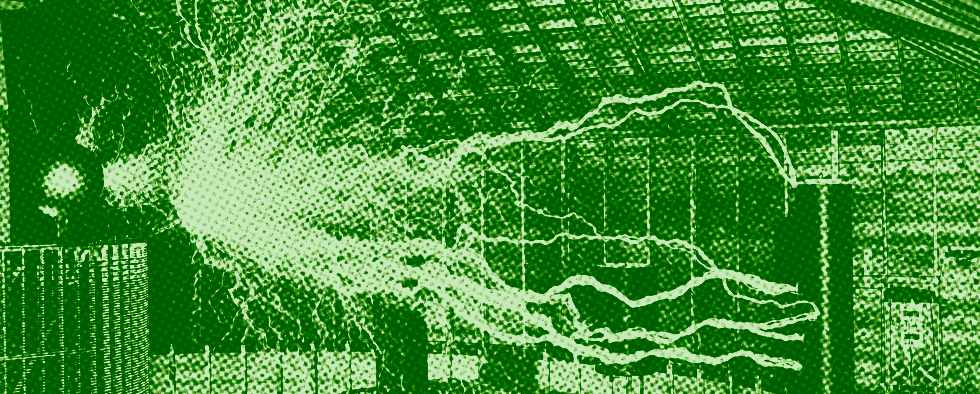
Segundo Elisângela, atualmente estas estimativas têm sido solicitadas pelos órgãos responsáveis dentro dos processos de licenciamento ambiental dos projetos. Melhor, no entanto, seria que tais dados já servissem de parâmetro na hora de projetar a expansão do parque hidrelétrico brasileiro, reconhece a superintendente da EPE. Em seu Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050), por exemplo, a empresa pública federal criada para prestar serviços para o Ministério das Minas e Energia (MME) calcula o potencial hidrelétrico do Brasil em 176 GW, com 108 GW já aproveitados por usinas em operação e construção até 2019 e outros 68 GW inventariados, isto é, identificados e com estudos básicos de caracterização já realizados, sendo 52 GW em grandes hidrelétricas e 16 GW em pequenas centrais com potência instalada inferior a 30 MW.
Grande parte deste potencial hidrelétrico ainda não aproveitado no Brasil, porém, está na Amazônia e na bacia dos rios Tocantins e Araguaia. Isso faz com que 77% dos 52 GW inventariados de grandes projetos tenham algum tipo de sobreposição com áreas legalmente protegidas, como unidades de conservação ambiental, terras indígenas ou territórios quilombolas.
Além disso, muitos destes inventários foram feitos há dez anos ou mais, estando defasados tanto em termos técnicos e tecnológicos quanto socioambientais, o que abre a oportunidade para que sejam refeitos, incluindo novos parâmetros como estimativas de emissões, diz Elisângela.
“As emissões podem ser mais um dos fatores dos inventários, que já fazem uma avaliação ambiental básica”, defende a superintendente de Meio Ambiente da EPE, ressaltando que para isso seria necessário uma revisão e atualização do manual de inventários do MME, que devem ser solicitadas pelo ministério e implicam custos. “Mas existe vontade dentro da EPE de, no futuro, colocar as emissões dentro dos modelos de avaliação dos projetos”.
Para isso, no entanto, também são necessários mais conhecimentos e dados sobre as emissões de hidrelétricas, frisa Elisângela, lembrando que o Projeto Balcar analisou apenas 11 das mais de 200 hidrelétricas em operação no país.
“Não temos bases de dados confiáveis disponíveis”, lamenta. “Com projetos de hidrelétricas, cada caso é um caso. Para tomar decisões desta natureza, temos que colocar várias questões na balança, e não podemos fazer isso sem conhecer as respostas a estas questões. Mas duvido que se repitam erros como Balbina”.
Construção de conhecimento
E é justamente em busca de algumas destas respostas que a ciência tem trabalhado nas últimas três décadas. Muitos dos processos e fatores quem afetam as emissões por reservatórios de água e hidrelétricas já foram identificados e são cada vez melhor compreendidos, o que está permitindo rever projetos passados e futuros à luz de novos conhecimentos.
“Hoje sabemos que essas emissões existem e não podem ser negligenciadas”, diz Nathan Oliveira Barros, professor do Laboratório de Ecologia Aquática do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e autor de diversos estudos na área. “Essas emissões acontecem devido à disponibilidade de matéria orgânica acima – biomassa vegetal das florestas – e abaixo do solo – matéria orgânica presente no solo. Essa matéria orgânica ao ser decomposta pode gerar CO2, na presença de oxigênio, ou metano, na ausência de oxigênio. E o represamento cria um ambiente propício para a decomposição, principalmente devido à diminuição do fluxo da água e ao alagamento”.
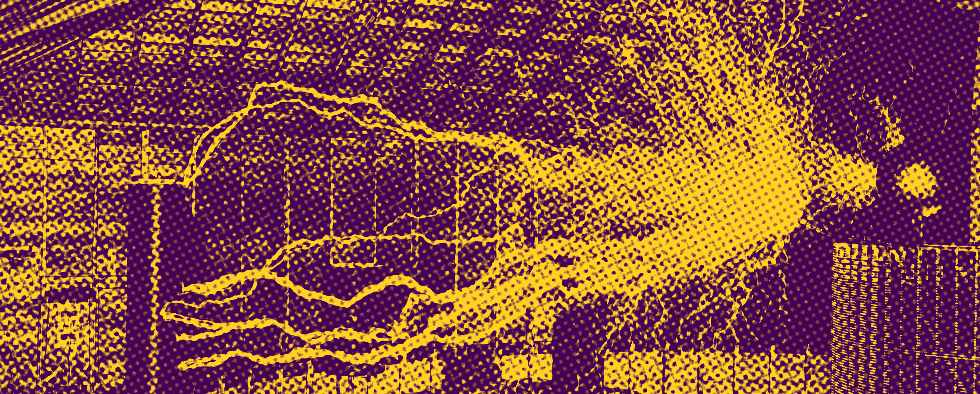
Barros conta que o pico destas emissões acontece nos primeiros 15 a 20 anos após o represamento, justamente devido à decomposição do carbono que estava disponível acima e abaixo do solo, continuando após este período com a entrada de matéria orgânica nos reservatórios trazida pelo rio principal e seus afluentes (bacia de drenagem) ou aquela produzida no próprio reservatório, via fotossíntese das algas, por exemplo.
Tal noção torna fácil entender o maior impacto em emissões de hidrelétricas em áreas de floresta, como a Amazônia. Principalmente se não é feita a limpeza da área que será inundada antes do enchimento do reservatório, que, apesar de mandatória, foi e ainda é negligenciada por muitos grandes projetos, como em Balbina e, mais recentemente, na hidrelétrica de Sinop, instalada no Rio Teles Pires, Mato Grosso, e parte do sistema do Rio Tapajós. Lá, apenas 30% da vegetação teria sido removida antes da conclusão do preenchimento do reservatório, em abril de 2019, contribuindo também para a ocorrência de seguidas mortandades de peixes rio abaixo desde então.
“As emissões de gases do efeito estufa por reservatórios situados na região amazônica são significativamente maiores do que aquelas oriundas de reservatórios em outros locais do planeta porque na Amazônia existe maior quantidade de matéria orgânica para ser decomposta, e porque a temperatura é maior. Ambos os fatores colaboram para maiores emissões”, resume.
Daí também a importância da estrutura dos reservatórios. Barros explica que, em sistemas profundos, há a formação de uma massa de água mais fria no fundo e uma mais quente na superfície, fenômeno conhecido como estratificação térmica. Na parte mais profunda, na maioria das vezes, não há oxigênio, o que faz com que o produto final da decomposição da matéria orgânica seja o metano (CH4), gás com o chamado “poder de aquecimento global” (GWP, na sigla em inglês usada pelo IPCC) dezenas de vezes superior ao do dióxido de carbono (CO2). O que também torna as hidrelétricas na Amazônia especialmente problemáticas, sendo apontadas por especialistas como verdadeiras “fábricas de metano”.
“Outro grande problema dos reservatórios amazônicos é que eles emitem muito CH4”, conta Barros. “Isto porque esta emissão pode acontecer por difusão, por bolhas ou pela passagem da água pela turbina, o chamado ‘degassing’. E o ‘degassing’ é muito forte nos reservatórios estratificados da Amazônia, em que o metano é produzido e armazenado no fundo. A tomada d’água para geração de energia puxa água dessa profundidade, e por isso a água que movimenta a turbina é rica em CH4. Ao passar pela turbina, ela chega em um ambiente a jusante do reservatório, onde a temperatura é maior e a pressão é menor, dois fatores que fazem com que o gás saia imediatamente da água e vá para a atmosfera”.
Piores que fósseis
Tudo isso somado e erros como Balbina não só podem, como voltam a acontecer. É o caso, por exemplo, da já citada hidrelétrica de Sinop, no Mato Grosso. Em estudo publicado em 2015 no periódico Environmental Research Letters, Barros e colegas calculam que esta usina e outras cinco projetadas ou em construção na região amazônica (Cachoeira do Caí, Cachoeira dos Patos, Bem Querer, Colíder e Marabá) teriam emissões comparáveis ou muito superiores à de usinas térmicas a combustíveis fósseis de potencial equivalente.

E o pior resultado foi justamente o de Sinop, com as simulações apontando a liberação de até 5 toneladas de CO2 equivalente por MWh nos primeiros 20 anos de operação, e pelo menos 1 tonelada por MWh, nos cálculos mais otimistas para este período de maior intensidade das emissões, que depois seriam “diluídas” para 3 toneladas de CO2 equivalente por MWh num horizonte de 100 anos do ciclo de vida da represa no pior dos cenários, e cerca de 500 quilos por MWh no melhor deles, ainda assim acima dos 470 quilos de CO2 equivalente por MWh esperados de uma térmica a gás de ciclo combinado.
Previsões que o Brasil terá a rara oportunidade de verificar no mundo real pelas mãos de Marco Aurélio dos Santos, o professor do PPE/Coppe que coordenou a equipe da instituição no Balcar.
Apesar do cancelamento da segunda fase do projeto pela Eletrobras, Santos e colegas foram contratados pela EDF Brasil, uma das sócias da usina de Sinop, para medir as emissões da área e do empreendimento antes e depois de sua construção num total de seis campanhas de campo. Até agora, quatro delas já foram realizadas, com a quinta prevista para novembro próximo e a sexta e última em fevereiro, alternando períodos de seca e cheia do rio, com o resultado devendo ser divulgado em algum momento ao longo de 2022. Além disso, ele conduz estudo avaliando as emissões de Belo Monte, agora que a usina está em pleno funcionamento, e que poderá comparar com as projeções que realizou no âmbito do Balcar, na década passada.
“Com isso, vamos medir emissões não só no momento, mas também, na medida do possível, comparar com quais seriam as emissões se não existisse uma hidrelétrica naquele lugar”, conta.
Estes levantamentos, no entanto, são insuficientes e estariam subestimando a real dimensão das emissões e outros impactos ambientais e sociais de grandes barragens na Amazônia, alerta o biólogo Philip Fearnside. Um dos pioneiros nos estudos sobre emissões de gases do efeito estufa por reservatórios de água e hidrelétricas, área em que atua desde os anos 1990, o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) é um dos mais ferrenhos críticos dos projetos de aproveitamento do potencial hidráulico na região.
“Estes números têm sido subestimados”, afirma. “Muitos destes estudos, por exemplo, não contam as árvores mortas acima da linha d’água nas áreas inundadas, nem o que acontece rio abaixo, depois da barragem, que em muitas delas é a principal fonte de emissão (via o ‘degassing’)”.
Mais que isso, aponta Fearnside, os cálculos destes estudos têm minimizado o impacto do metano, usando valores defasados para o “poder de aquecimento global” (GWP) do gás que constitui grande parte das emissões das usinas na Amazônia. Segundo ele, o fator de conversão de metano em CO2 equivalente que começou em 21 vezes para um horizonte de 100 anos, na época do Protocolo de Kyoto, no fim dos anos 1990, foi sendo redefinido e hoje está em 27 vezes pelo mais recente relatório do IPCC, de agosto passado. Pior, o mesmo documento aponta um GWP de 80,5 vezes para o metano para um horizonte de 20 anos, que é justo o período que concentra a maior taxa de emissões da maioria das hidrelétricas.
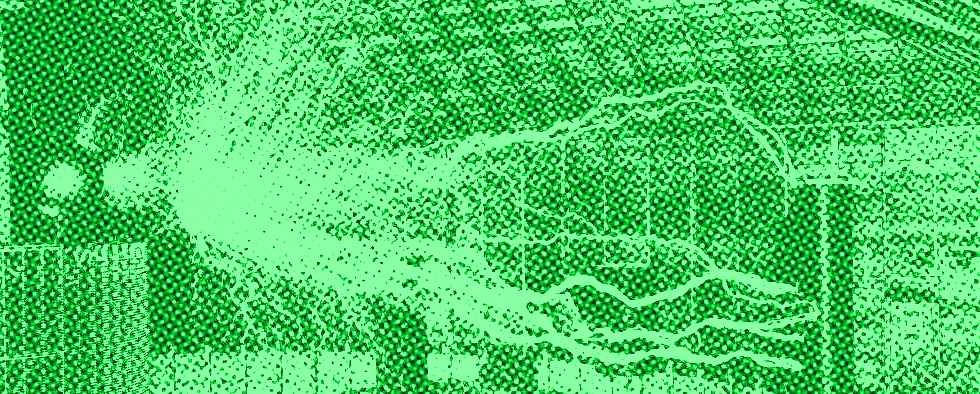
“Se vamos cumprir o Acordo de Paris e não ultrapassar os limiares de 1,5º C e 2º C de aquecimento global, que correspondem aos pontos de não retorno do clima, o que realmente conta é o que acontece nos próximos 20 anos”, argumenta. “Não temos 100 anos para fazer alguma coisa sobre o aquecimento global, e este é o caso contra as hidrelétricas, que têm enorme impacto inicial, justamente na janela de tempo que precisamos controlar e reduzir nossas emissões ao máximo. Assim, mesmo que uma hidrelétrica venha a compensar estas grandes emissões iniciais no longo prazo, o dano já está feito, porque se não limitarmos nossas emissões dentro dos próximos 20 anos, vai ficar muito difícil controlar o aquecimento global”.
Em busca de soluções
Qual então deve ser o caminho para aumentar a sustentabilidade da matriz elétrica brasileira? A resposta óbvia, e que está na ponta da língua de todos os especialistas, é continuar a elevar a participação de fontes renováveis mais limpas e com tecnologias mais maduras, notadamente eólica e solar. Mas estas, destacam, também trazem diversas limitações, sendo a principal seu caráter intermitente, o que faz com que tenham um papel complementar, e não de base, no sistema de geração de energia do país, exigindo algum tipo de “seguro” no fornecimento vindo de fontes tradicionais, como hidrelétricas e térmicas. E aí as opiniões começam a divergir.
“Energia elétrica é fluxo, e não estoque”, lembra Santos, do PPE/Coppe. “Ela tem que ser gerada no momento que tem o consumo, nunca pode ser descontinuada e o sistema deve trabalhar sempre com folga. A segurança de um parque gerador depende de que ele funcione de forma ininterrupta, e o que pode fazer melhor isso são as hidrelétricas, campeãs em eficiência ao transformar energia potencial gravitacional em eletricidade”.
Assim, Santos defende foco na implantação de hidrelétricas com maior densidade energética e menor impacto ambiental possível, procurando envolver, negociar com e compensar devidamente e de modo justo populações locais e povos indígenas que venham a ser afetados pelos projetos.
“Sou defensor não porque acho bonitas as hidrelétricas, mas porque temos oportunidades que outros países não têm”, diz. “Mas também não adianta tentar fazer hidrelétricas onde não pode ou não vale a pena. O que não é negociável, por exemplo, é a questão indígena, e nisso podemos nos espelhar no exemplo do Canadá, onde projetos estão sendo desenvolvidos em parceria com estas populações. Mesmo que isso traga custos extras e esta energia fique um pouco mais cara, ela ainda ficará muito longe dos custos de outras fontes que gastam com combustíveis fósseis”.
Outras opções à mão, e com impacto quase nulo ou pequeno do ponto de vista das emissões de carbono, são modernizar e repotenciar hidrelétricas existentes, bem como elevar o nível da cota máxima (altura do nível da água) dos lagos de algumas usinas, o que aumentaria a reserva para geração e, consequentemente, a margem de segurança do sistema para enfrentar momentos de crise hídrica como o atual, lembra Santos. No PNE 2050, a EPE estima que só a repotenciação pode aumentar em 5% a 20% a capacidade de geração de energia de hidrelétricas selecionadas no país, hoje em cerca de 110 GW no total.
Opinião parecida tem Tolmasquim, colega de Santos no corpo docente do PPE/Coppe e ex-presidente da EPE, para quem o atual parque gerador hidrelétrico brasileiro pode servir de eixo em torno do qual o Brasil seguiria expandindo a capacidade e oferta de energia de fontes renováveis mais limpas, aproveitando a complementariedade sazonal que têm no país.
“O que já foi construído em hidrelétricas é um ativo enorme para o Brasil, então, para o futuro, é importante não menosprezar o que já temos”, considera. “Mas, dada a queda de preço das energias solar, eólica e de biomassa, devemos continuar a investir na expansão destas fontes. O Brasil tem condições de, se bem gerenciado, complementar a geração hídrica só com renováveis mais limpas. A safra de cana, por exemplo, vai de maio a novembro, quando a biomassa pode reforçar enormemente o sistema. A ‘safra’ de vento no país também é de maio a novembro, período que coincide com a época mais úmida no Sudeste e Centro-Oeste, onde as hidrelétricas vão aproveitando para acumular reserva de geração para a estação mais seca, que também é verão em grande parte do país, incrementando a geração solar”.
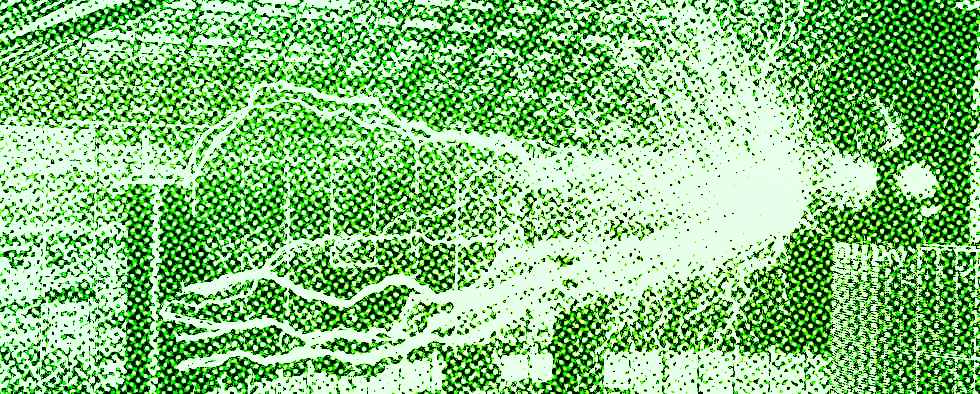
Para Tolmasquim, é um grande erro usar a atual crise hídrica como justificativa para construir mais usinas térmicas a gás, repetindo a solução encontrada em 2001, válida no contexto da diversificação da matriz elétrica brasileira e na ausência de outras fontes renováveis acessíveis naquela época. Pior ainda se forem termelétricas que funcionem de maneira contínua, conforme previsto em dispositivo incluído na Medida Provisória (MP) 1.031/2021, a da privatização da Eletrobras, com a contratação garantida de até 8 GW escalonados entre 2026 e 2030. Em nota técnica publicada em junho passado, quando a MP – hoje aprovada e transformada na lei 14.182, de 2021 – ainda tramitava na Câmara, o Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) calcula que a inclusão destas usinas na base da matriz elétrica brasileira sozinha elevará em no mínimo quase 25% o total de emissões do setor elétrico frente aos níveis registrados em 2019, além de reduzir a entrada de fontes renováveis e limpas no sistema, com impactos de -12 GW em geração eólica e -3,5 GW em geração solar até 2030.
“Este é um dos piores ‘jabutis’ da MP da Eletrobras”, diz Tolmasquim, com referência a termo usado para designar dispositivos legais aprovados mesmo sem ter ligação direta com a matéria central da lei na qual são incluídos. “Isto vai no sentido contrário do que é preciso fazer para enfrentar a crise climática. Usinas térmicas têm que ser flexíveis, e só ligadas em caso de necessidade. Elas devem ser encaradas como se fossem a apólice de seguro do sistema, que torcemos para não precisar usar, mas que, se precisarmos, elas vão estar lá”.
Erro agravado pelo fato de a nova lei também prever que boa parte destas novas usinas seja construída nas regiões Norte e Nordeste, longe das atuais áreas de produção de gás natural no país e centos de consumo de carga, o que também vai exigir a construção de infraestrutura como grandes e longos gasodutos e linhas de transmissão, com seus próprios riscos e impactos ambientais, sem contar o alto custo financeiro, frisa Tolmasquim.
“O Brasil tem como enfrentar a variabilidade e intermitência das fontes renováveis com a complementariedade sazonal e aproveitando os reservatórios das hidrelétricas como ‘baterias’ do sistema, deixando apenas algumas térmicas de reserva para segurança do sistema”, avalia o ex-presidente da EPE. “Temos condições de nos próximos 20 anos acelerar ainda mais o ritmo de expansão no uso de fontes renováveis que vimos nos últimos 20 anos”.
O que também não quer dizer abandonar por completo aproveitamentos hidrelétricos, desde que com critérios estritos e visão mais ampla, como investir em projetos nos cursos altos de rios da Bacia Amazônica em países vizinhos, onde o potencial hidráulico é maior e as áreas de alagamento menores, tendo como consequência uma maior densidade energética por emissões, apontam Barros, da UFJF, e colegas no estudo “Reducing greenhouse gas emissions of Amazon hydropower with strategic dam planning”, publicado em 2019 na revista Nature Communications.
Isto, e a interligação dos sistemas de distribuição de energia da América do Sul, permitiriam a todos países da região usufruírem da descarbonização proporcionada por estes projetos, além de fazer com que possam servir de reserva de potencial para garantir a alimentação de eventuais hidrelétricas a fio d’água que venham a ser construídas rio abaixo, como Belo Monte, e que em geral têm impacto de emissões menor que barragens de reservatório como Balbina.
“A seleção de projetos de hidrelétricas na Amazônia pode aumentar a produção de energia sem aumentar proporcionalmente as emissões. Podemos produzir mais energia emitindo menos gases do efeito estufa, se a escolha dos projetos levar em consideração a bacia, e não o critério geopolítico”, resume Barros. “Investir em projetos de usinas a fio d’água também pode parecer uma excelente ideia em relação às emissões. Entretanto, mesmo esses sistemas, que tendem a emitir bem menos gases do efeito estufa por inundarem uma área relativamente menor, precisam ser balanceados em relação a vários outros impactos na Amazônia. A hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, é um reservatório a fio d’água que se forem analisados os múltiplos impactos provocados - diminuição do fluxo da água a jusante, local da construção conflitante com terras indígenas, problemas sociais, perda de conectividade do rio, baixa capacidade efetiva de geração de energia e a energia que efetivamente entrega, etc - não deveria ter sido construída”.
E é justamente também por estes múltiplos outros impactos ambientais e sociais dos projetos que Fearnside, do Inpa, se opõe completamente à instalação que qualquer nova hidrelétrica na Amazônia. Para além de considerá-las inúteis na luta contra a emergência climática, também por suas altas taxas de emissões nas primeiras décadas de operação.

“Mas tem muita pressão da indústria da energia não só para fazer usinas a fio d’água como com grandes reservatórios na Amazônia”, lamenta. “O lugar mais visível deste plano é no Xingu, rio acima de Belo Monte, com impactos catastróficos, sociais e no efeito estufa”.
O pesquisador do Inpa cita como exemplo a planejada hidrelétrica de Babaquara (Altamira), cujo reservatório, na cota máxima, cobriria mais de 6 mil quilômetros quadrados e ajudaria a regular a vazão do Xingu, colaborando para aumentar a geração efetiva em Belo Monte. Neste processo, o nível da água do reservatório sofreria uma variação vertical anual de 23 metros, repetidamente expondo e cobrindo uma área de mais de 3,5 mil quilômetros em que na época de baixa cresceria rapidamente uma vegetação herbácea de fácil decomposição, transformando a usina numa das verdadeiras “fábricas de metano” contra as quais tanto alerta.
“Babaquara geraria uma quantidade enorme de gases do efeito estufa e, transformada em uma fábrica de metano, é uma coisa que vai para sempre”, diz.
Outro problema destes projetos, na visão de Fearnside, é que, apesar de ficar cada vez mais demonstrado que hidrelétricas podem ser fontes significativas de gases do efeito estufa, em geral elas continuam sendo todas equivocadamente vistas como fornecedoras de energia “limpa”, e, portanto, elegíveis para alimentar programas de crédito de carbono, como diz ter acontecido nos casos das usinas de Santo Antônio e Jirau, ambas no Rio Madeira, nas cercanias de Porto Velho, capital de Rondônia.
Isto acontece, entre outros motivos, porque só em 2019 o IPCC aprovou na sua plenária a inclusão das emissões por áreas alagadas (incluindo reservatórios de hidrelétricas) nos inventários nacionais de emissões de gases do efeito estufa, o que efetivamente só vai acontecer de 2023 em diante, quando os países terão que contabilizar essas emissões e incluí-las nos seus relatórios bianuais de emissões antropogênicas.
“Isso significa que todos os gases em excesso que quem comprou estes créditos emitiu se tornaram um impacto a mais no aquecimento global, além de ter usado um chamado ‘dinheiro verde’ em um projeto que não é verde, consumindo recursos que poderiam ter apoiado projetos que realmente ajudassem a reduzir emissões”, explica Fearnside. “O problema é que, para realmente controlar o aquecimento global, temos que contar e controlar todas as emissões. Se algo fica de fora, como as emissões de hidrelétricas, ou de incêndios florestais, que também ainda não são contabilizadas, o mundo vai continuar esquentando de qualquer jeito”.

Sem contar os muitos impactos ambientais das hidrelétricas na Amazônia que vão além do aquecimento global, reforça o pesquisador do Inpa, como processos de especiação do tipo visto com uma lagartixa, Gymnodactylus amarali, na área da usina de Serra da Mesa, na Bacia do Alto Tocantins, Goiás; e prejuízos à variabilidade genética de populações animais, como no caso do isolamento definitivo de espécies de botos que se entrecruzavam no Rio Madeira antes da construção das barragens de Jirau e Santo Antônio no Rio Madeira.
“Para mim está claro que continuamos a repetir erros do passado. As pessoas falam que aprenderam as lições, mas de fato as coisas seguem sendo feitas sendo muitas mudanças”, afirma.
Potencial “infinito”
Diante disso, é preciso dar a conhecer e conscientizar governantes e população em geral da real dimensão do potencial das principais fontes de energia renovável e limpa no Brasil, como a eólica e a solar, lembra Fearnside. Segundo ele, enquanto os aproveitamentos hidrelétricos disponíveis na Amazônia somam 54 GW, a geração eólica no país pode passar de 300 GW, ou seis vezes mais, enquanto o potencial solar é estimado em mais 200 GW, quatro vezes superior, diz ele.
Números que Elbia Gannoum, presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), brinca serem “infinitos”, dados em muito superarem toda capacidade instalada da matriz elétrica brasileira atual, de cerca de 180 GW, e sua constante atualização com o desenvolvimento tecnológico do maquinário de geração, que hoje envolve turbinas com 130 metros de altura e 6 MW de potência cada, frente às torres de cerca de 70 metros e 1,5 MW de potência usadas na primeira década deste século. Assim, segundo ela, levando em consideração o estado atual da tecnologia e engenharia, o potencial eólico do país já está na faixa de 800 GW em terra, tanto no litoral quanto no interior do país, e outros 800 GW na nova fronteira das usinas off-shore.
“A gente refaz a conta para aquelas regiões que a gente já conhece o potencial, mas também em regiões que ainda não conhecemos, porque com estas máquinas novas podemos instalar usinas em lugares onde antes este potencial era considerado zero”, explica. “É uma expansão não só na eficiência das turbinas, mas também geográfica. À medida que elas vão ficando mais altas e maiores, elas vão encontrar ventos mais fortes, mais constantes e mais direcionados, mesmo em locais de maior relevo, que atrapalha a captação do vento, como em Minas Gerais e São Paulo”.
Assim, opções não faltam para o Brasil para diversificar sua matriz elétrica com mais sustentabilidade, sem sacrificar a segurança e disponibilidade no fornecimento de energia a custos acessíveis. Como em muitas das decisões sobre o futuro do país, seguir o melhor caminho para a sociedade e o ambiente é mais uma questão de vontade política.
Cesar Baima é jornalista e editor-assistente da Revista Questão de Ciência
