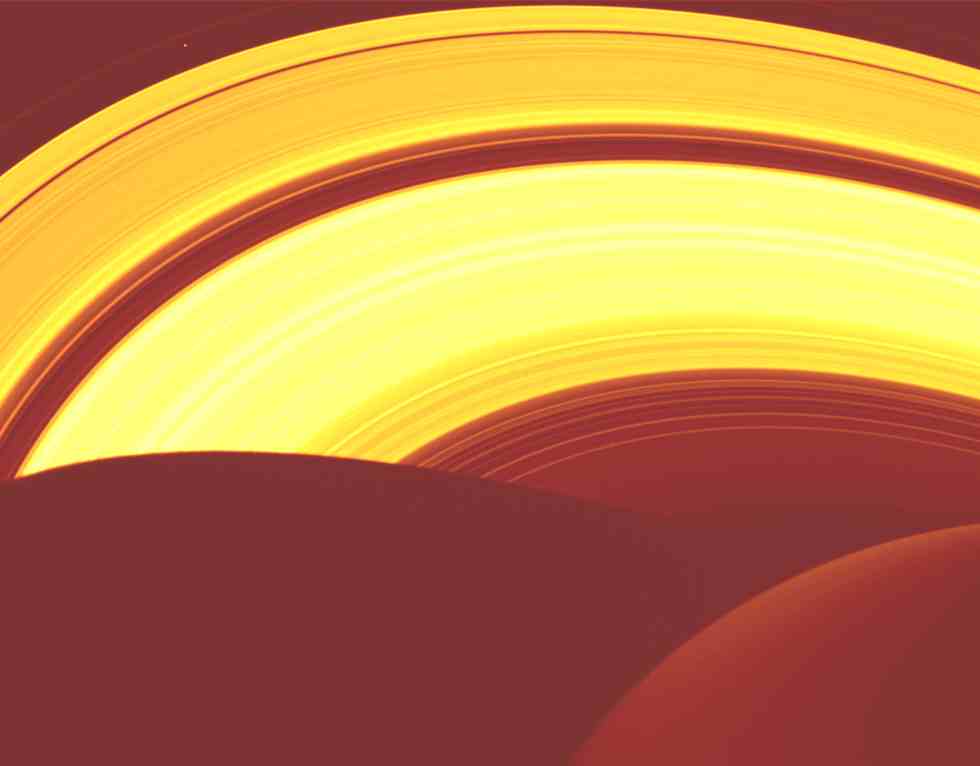
Os britânicos que ligaram a TV no Good Morning Britain, em 15 de setembro de 2020, não receberam notícias bombásticas de nosso tumultuado planeta, mas do vizinho Vênus. Piers Morgan, um dos âncoras, falava sobre uma sensacional história científica que tinha aparecido no dia anterior, informando seus telespectadores de que “pode haver alguma forma de vida em Vênus”.
De acordo com ele, astrônomos estavam considerando a possibilidade de “organismos vivos flutuarem nas nuvens do planeta Vênus”. Em seguida, entra em cena Sheila Kanani, astrônoma planetária e oficial de comunicação da Royal Astronomical Society (RAS), e Morgan vai direto ao ponto: “Existe vida em Vênus?” Kanani respondeu diplomática, mas entusiasticamente: “Ainda não podemos dizer definitivamente que sim, mas seja lá o que que esteja acontecendo em Vênus, é fantástico”.
A pesquisa, que tinha sido publicada no dia anterior na Nature Astronomy por um grupo internacional de cientistas, afirmava que observações feitas com o Telescópio James Clerk Maxwell, no Havaí, e pelo Atacama Large Millimeter Array (ALMA), no Chile, haviam identificado a presença de fosfina na atmosfera venusiana, por meio de assinatura de espectro, e que isso poderia ser interpretado como um indício de presença de vida no planeta. Mundo afora, a mídia deu destaque à descoberta – que foi primeira página em The New York Times — e dezenas de milhares sintonizaram a coletiva de imprensa da RAS para ouvir os próprios cientistas discutindo a descoberta (o vídeo desse evento teve, até agora, mais de 250 mil visualizações no YouTube).
Para resumir, foi a maior história da astronomia em 2020 – ou pelo menos tinha tudo para ser, se os resultados se sustentassem. Semanas após a publicação inicial, porém, as dúvidas surgiram. Alguns astrônomos questionaram a metodologia por trás da análise de dados, afirmando ser possível que o sinal não se devesse à fosfina, mas a fontes presentes na atmosfera terrestre ou, possivelmente, no próprio telescópio. Outra equipe de astrônomos analisou novamente parte dos dados e conclui que não havia “detecção de fosfina estatisticamente significativa”.
No dia 20 de novembro, os editores da revista acrescentaram um aviso ai artigo: “Os autores informaram os editores da Nature Astronomy sobre um erro no processamento original dos dados do Observatório ALMA apresentados neste artigo que tem impacto nas conclusões possíveis”.
Além disso, mesmo se a equipe tivesse realmente detectado fosfina em Vênus, não há meios de garantir sua origem biológica: os autores do estudo reconhecem esse fato, observando que, na Terra, a substância está associada a microrganismos, mas que no caso poderia ser resultado de algum processo químico desconhecido. Para muitos que ouviram as notícias, foi muito fácil saltar de linhas espectrais ambíguas para pequenas criaturas flutuando na atmosfera venusiana.
Essas “grandes descobertas” da física e da astronomia que agitam a mídia, como essa da fosfina em Vênus, aparecem de tempos em tempos, a intervalos regulares. Muita gente deve se lembrar da suposta detecção de sinais de ondas gravitacionais primordiais do universo inicial, em 2014; de neutrinos que se moviam mais depressa que a luz, em 2011; ou a hipotética descoberta de bactérias num lago da Califórnia que podem usar arsênio em vez de uma substância essencial à vida, em 2010; ou a maior dessas histórias em 25 anos, a também suposta descoberta, em 1996, de microrganismos fossilizados num meteorito de Marte recuperado na Antártica. (Esse anúncio foi tão bombástico que motivou um discurso do então presidente dos Estados Unidos Bill Clinton). No fim das contas, nenhuma dessas “descobertas” se confirmou.
Mas outras grandes histórias se sustentaram: em 2012, o Grande colisor de Hádrons do CERN confirmou a existência do bóson de Higgs; e, menos de dois anos depois do anúncio do suposto registro de ondas gravitacionais primordiais, físicos usaram o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria Laser (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - LIGO) para registrar ondas gravitacionais emitidas por buracos negros em fusão.
Não há do que reclamar no destaque e na atenção dispensadas a essas duas descobertas, ambas reconhecidas com o Prêmio Nobel. E exageros também são encontrados em outras áreas da ciência: o projeto genoma, justificadamente, atraiu imenso interesse da mídia, da mesma forma que as controvérsias sobre clonagem. Mas astronomia e física, que oferecem vislumbres do Universo mais distante e lançam luz sobre antigas dúvidas sobre nosso lugar no Cosmo, parecem disparar uma lista infindável de anúncios bombásticos que muitas vezes se estatelam no chão.
Em ciência, novas descobertas enfrentam escrutínio intenso. Afinal, é assim que a ciência funciona, e não é de surpreender que muitas dessas alegações sejam falsas. Mas se anúncio atrás de anúncio não consegue sobreviver ao impacto midiático inicial, cientistas preocupam-se com a decepção do público, que pode pôr em dúvida não apenas a credibilidade dos cientistas, mas se merecem ter seus trabalhos financiados. Em outras palavras, esses "hypes" têm consequências, e a confiança do público na ciência está em jogo.
Mesmo assim, cientistas e jornalistas com quem conversei para escrever este artigo hesitam em culpar qualquer das partes envolvidas no processo. Ao contrário, a maquinaria do hype depende igualmente dos que fazem ciência, aqueles que os empregam, aqueles que os financiam e os que divulgam suas descobertas.
“Há uma coisa que chamo de complexo imprensa-acadêmico”, diz Brian Keating, físico da Universidade da Califórnia, em San Diego. “Você tem um círculo virtuoso em que acadêmicos e cientistas fazem pesquisas fundamentalmente importantes e, em determinado ponto, alguém decide que é hora de acionar a assessoria de imprensa da instituição. Os jornais locais ficam sabendo da história e, logo depois, a notícia está na imprensa nacional. Em determinado ponto, o cientista perde o controle da narrativa”, diz.
Charles Seife, veterano jornalista de ciência e professor da New York University, viu a escalada da máquina do hype ao longo de sua carreira. “Nos últimos 20 ou 30 anos, os cientistas passaram a se sentir mais confortáveis – tanto nas mídias sociais ou mesmo antes disso, compelidos por gestores loucos por publicidade – em exagerar seus resultados bem além do eu seria aceitável para seus pares”, afirma. A pressão não é exercida apenas sobre os cientistas, mas sobre jornalistas e todos os intermediários do processo; da mesma forma que cientistas competem por recursos, jornalistas competem por cliques e visualizações de suas páginas. “Quando você tenta publicar uma história, há uma enorme pressão para que ela pareça muito importante”, conta Natalie Wolchover, jornalista de ciência e editora da Quanta Magazine.
Agências de fomento também recebem a sua parte quando um projeto financiado por elas fazem uma descoberta importante; o mesmo vale para as instituições que empregam esses cientistas, sejam ela universidades ou uma agência governamental como a Nasa. “Todo mundo tem interesse nesse jogo”, afirma Seife. “Todo mundo se beneficia quando alguma coisa ganha muita publicidade e muita atenção, desde que a descoberta se sustente”.
Keating conhece a máquina de hyper por dentro. Ele foi um dos desenvolvedores do telescópio conhecido como BICEP (Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization), predecessor do BICEP2, que virou notícia em 2014, revelando o que se anunciou como evidência de ondulações no espaço-tempo conhecidas como ondas gravitacionais, ou melhor, a marca que essas ondas deixaram na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um brilho deixado em todo céu pelo Universo inicial. Se essas ondas gravitacionais fossem realmente encontradas, dariam respaldo a uma teoria chamada de Universo Inflacionário, um elemento do modelo do Big Bang.
Poderia ser uma daquelas descobertas que valem um Nobel. Na verdade, o livro de Keating sobre suas experiências como cosmologista, incluindo o projeto BICEP2, se chama “Losing the Nobel Prize”. Na verdade, o sinal medido pelo BICEP2 era em grande parte resultado da poeira da nossa galáxia, a Via Láctea, e não uma assinatura do Universo inicial. (As ondas detectadas com sucesso, dois anos depois, pelo LIGO foram registradas diretamente, e não como efeito da radiação de fundo em micro-ondas)
Nos seis anos que se passaram desde a suposta descoberta do BICEP2, Keating deu-se conta de que a publicidade é parte de sua área de trabalho como telescópios e pedidos de financiamento de pesquisa. Grandes descobertas na astronomia e na física agora incluem a rotina de coletivas de imprensa. À primeira vista, coletivas fazem todo sentido: reúnem cientistas e jornalistas numa sala (ou num webinar ou numa tela de Zoom, em tempos de pandemia). Se os jornalistas têm perguntas, o cientista está lá para respondê-las. Mas alguns cientistas acham que são uma péssima ideia, especialmente quando a descoberta ainda não foi publicada numa revista com peer review (como foi o caso do BICEP2, cujo paper só foi publicado meses depois).
Cientistas que apresentam suas descobertas à imprensa antes de compartilhar seu trabalho com seus pares são apressados demais, diz Marcelo Gleiser, físico do Dartmouth College. “E isso, para mim, é um pecado capital”. De acordo com ele, esse foi o grande erro do BICEP2. “Fizeram um bom experimento, mas não esperaram, quiseram fazer muito sucesso”.
Mas, Keating observa, os resultados do BICEP2 também não eram segredo, tinham sido postados no arXiv.org — que oferece informações e dados de pesquisas em física – no mesmo dia da coletiva de imprensa. Em seu livro, ele explica que a decisão da equipe: “Em vez de restringir nossos achados à inspeção de um único par de olhos, o que geralmente acontece quando acadêmicos submetem seu trabalho a uma revista especializada – uma pessoa que pode ser um concorrente e vazar nossos resultados –, abrimos os dados para o mundo”. Ele lembra que outras equipes de pesquisa adotam a mesma estratégia e, por isso, acreditavam ter fortes precedentes para a decisão.
Hoje, Keating pensa de outra forma. Em retrospecto, ele diz que a coletiva de imprensa “obviamente” foi um enorme erro. Na verdade, ele hoje vê essas coletivas de imprensa como “um espetáculo de que a ciência não precisa”, acrescentando que elas eram raras antes dos anos 1990. Uma grande descoberta científica teria o mesmo impacto com ou sem essas entrevistas, de acordo com ele. Além disso, se for provado que você estava errado, “você tem de rever seus resultados e, de certa forma, botar a pasta de dente dentro do tubo novamente”.
Se a coletiva de imprensa do BICEP2 atraiu muita atenção, o vídeo da Universidade de Stanford – uma das instituições envolvidas no estudo –, postado no YouTube, atraiu muito mais. No vídeo, o pesquisador Chao-Lin Kuo, que projetou os detectores essenciais para o experimento, caminha em direção à casa de Andrei Linde, físico teórico que é um dos pais da teoria do Universo Inflacionário. Com uma garrafa de champanhe na mão, Kuo conta a Linde que o telescópio encontrou um sinal claro das ondas gravitacionais primordiais. Linde fica em êxtase, abre-se o champanhe, os dois derramam lágrimas. O vídeo teve mais de 3 milhões de visualizações. O vídeo é memorável, diz Gleiser, mas inadequado diante do que ocorreu depois. “É constrangedor e, no final, ruim para a reputação de todos”.
Para Wolchover, o caso do BICEP2 e a descoberta das ondas gravitacionais anunciada pela equipe do LIGO, dois anos depois, mostram um contraste interessante. Em ambos, houve uma coletiva de imprensa, mas no caso do LIGO houve a publicação do estudo em revista especializada com peer review no mesmo dia. Com o BICEP2, houve enorme cobertura da mídia, mas pouco escrutínio científico, já que o estudo não tinha sido publicado. "Em última análise, foi isso que causou o vexame público desse experimento, inclusive para os jornalistas que cobriram o evento”, afirma.
Ainda assim, o peer review não é uma panaceia. Na verdade, o paper da fosfina em Vênus passou por peer review antes de ser apresentado para a imprensa. A chave, diz Wolchover, é o ceticismo, algo que, segundo ela, faltou na cobertura da mídia, nesse caso. Ela teme que “as pessoas fiquem com uma vaga ideia de que descobrimos vida em outro planeta”, conta. “E elas não ver a história da semana seguinte, escondida no pé de uma página de jornal, mesmo que seja The New York Times, informando que os resultados estão sendo questionados”. Poucas semanas depois que a história foi divulgada, ela tuitou: “A descoberta deveria ter sido encarada com muito ceticismo, ter menos destaque ou ser completamente ignorada".
Marcia Bartusiak, jornalista de ciência com décadas de experiência e professora emérita do programa de jornalismo em ciência do Massachusetts Institute of Technology (MIT), já viu muitos casos como esse. Para os cientistas há “o desejo de aparecer um pouco mais do que deveriam”, diz. “Eles vivem na corda bamba. Querem o interesse do público, a continuidade do financiamento de sua pesquisa, mas têm de tomar muito cuidado para não decepcionar o público”.
Jornalistas enfrentam o mesmo tipo de pressão. No começo de sua carreira, Bartusiak cobria o caso dos meteoritos de Marte para a revista Discovery. “Eu escrevi a matéria com os dois lados da história, mas os editores queriam destacar a parte emocionante do caso, sabe? Meteoritos de Marte? E queriam que eu cortasse toda a parte que falava das evidências contrárias porque, diziam, isso esvazia a história, tira toda a emoção”.
Um década mais tarde, os meteoritos de Marte estavam de volta às manchetes, dessa vez com o espantoso anúncio de que microrganismos fossilizados teriam sido detectados numa rocha de 2 quilos chamada Allan Hills 84001, que recebeu este nome por causa da área da Antártica em que foi encontrado. Antes da coletiva de imprensa da Nasa, marcada para 7 de agosto de 1996, em Washington, cientistas foram incentivados a ser “mais firmes, mais enfáticos”, como Seife relatou em sua reportagem após o evento. A pressão para serem confiantes, em vez de cautelosos e reservados, foi explícita, contou. Logo depois, o presidente Clinton apareceu no gramado da Casa Branca, prometendo todo apoio “na busca de mais evidências de vida em Marte”.
Com o tempo, o consenso científico conclui que a rocha provavelmente não continha nenhum microfóssil. Quando perguntei a Seife como foi a cobertura da imprensa comparada às notícias iniciais, ele riu: “A história sumiu rapidamente”.
No caso de Vênus, porém, pouca gente encarou o que aconteceu como problemático. “Eu não vejo essa história como exemplo de algo terrivelmente 'hypado' que depois foi para o brejo”, diz David Grinspoon, astrobiólogo do Planetary Science Institute, de Tucson, Arizona. Para começar, ele diz que a equipe foi razoavelmente cautelosa ao anunciar seus resultados. Se “outras pessoas mostrassem que cometeram um erro, isso talvez virasse a história principal. Não é uma história horrível para a ciência. Ela apenas mostra como a ciência funciona”, afirma. E mesmo se os resultados estiverem errados, diz ele, este poderia ser “um erro útil”, se o episódio levasse mais cientistas a estudar a atmosfera de Vênus.
Justo quando a história da fosfina em Vênus estava começando a sumir, apareceu outra “descoberta espacial fantástica”. No final de outubro, a Nasa anunciou que, usando o radiotelescópio de infravermelho aerotransportado Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (Sofia), astrônomos tinha detectado água no lado da Lua iluminado pelo Sol, na grande cratera de Clavius. Observações anteriores tinham sido ambíguas, mas dessa vez os cientistas tinham certeza. Como costuma acontecer com os press releases da Nasa, esse era cauteloso, lembrando até que o Deserto do Saara contém 100 vezes mais água do que a detectada pelo Sofia. Mesmo assim, a descoberta virou uma grande história na imprensa. Jim Bridenstine, administrador da Nasa, tuitou que, embora não estivesse claro se essa água teria uso prático, “saber mais sobre a água na Lua é fundamental para a exploração Ártemis”, numa referência ao projeto da NASA de levar seres humanos ao satélite em 2024.
Mas, como observa Seife, sabemos que existe água na Lua desde a missão Clementine, de meados da década de 1990. De acordo com ele, a Nasa aproveitou uma descoberta mediana para “rapidamente transformá-la em ‘vamos levar astronautas à Lua, eles vão coletar a água e lançar foguetes a partir da água’, o que não faz o menor sentido”. Na mesma linha, Phil Plait, astrônomo e blogueiro, tuitou que o paper era “bem interessante e cientificamente bacana, mas ligá-lo ao projeto Ártemis era um exagero. Tipo, não. Parem”.
Muitas pessoas com quem conversei descrevem um "loop" que se retroalimenta, com cientistas tentados a exagerar suas descobertas e jornalistas fazendo o mesmo, na corrida por uma história sensacional, sem que haja um modo de romper esse círculo vicioso. “Eu não sei se somos capazes de abolir os hypes”, diz Bartusiak. “Acho que vamos ter de conviver com eles.” Um risco evidente, diz Marcelo Gleiser, é que o público fique farto dessas histórias, especialmente se o jornalismo científico começar a fazer o disse-desdisse tão comum nas matérias de saúde e comportamento, em que hoje café, chocolate e vinho fazem bem ou mal à saúde, dependendo do dia da semana em que são publicadas. O perigo, diz ele, “é perdermos essa coisa tão preciosa que nossos ancestrais levaram tanto tempo para desenvolver, a confiança”.
Outro perigo é que, com todo mundo anunciando suas descobertas no maior volume possível, não se ouça nada coerente acima da barulheira. “É como quando as pessoas começam a falar alto num restaurante, as outras pessoas falam ainda mais alto para se fazer ouvir e em algum momento está todo mundo berrando”, compara Wolchover.
De acordo com ela, e outros, um primeiro passo seria encorajar que a cobertura da imprensa refletisse com mais precisão o significado da descoberta anunciada. Se os resultados são inconclusivos, o público deve ter essa informação.
“Se a confiança do público na ciência é minada, o efeito é devastador e não apenas para os cientistas”, alerta Keating. “Os cientistas sofrem primeiro, mas a sociedade sofre em seguida”. Isso é especialmente grave numa época em que a confiança na ciência e nos cientistas já está abalada. As pessoas vão pensar, “se não podemos confiar na ciência, que significa conhecimento, vamos confiar em quem?”
Dan Falk (@danfalk) é jornalista de ciência em Toronto e autor dos livros “The Science of Shakespeare” e “In Search of Time.” Artigo publicado originalmente em Undark.

