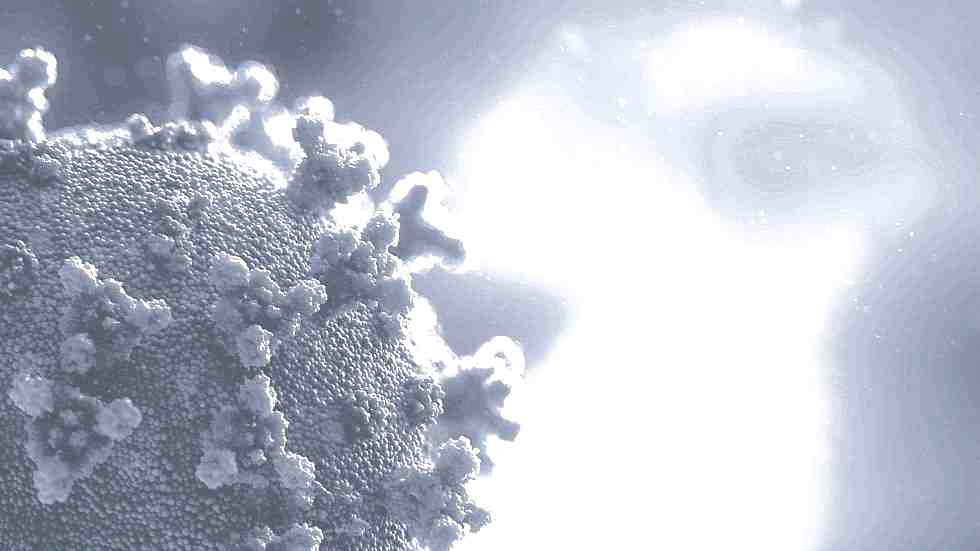
Mesmo entre as pessoas bem-informadas e instruídas, que aceitam a realidade da evolução como processo biológico capaz de produzir novas espécies, é comum encontrar alguns “bugs” conceituais que, se não remetem diretamente ao criacionismo, revelam certas disposições atávicas do pensamento – intuições difíceis de debelar, até pelo modo como a mente humana funciona, produzindo generalizações a partir de experiências particulares.
Há um provincianismo do pensamento do qual, como espécie, provavelmente jamais conseguiremos escapar por completo. Se hoje a maioria de nós tem visão ampla o bastante para não mais dividir o mundo, como fazia Aristóteles (384-322 AEC), entre “gregos” e “bárbaros” (estes últimos, incapazes de cultura e adequados para a escravidão), outros tantos ainda parecem presos – de modo mais ou menos consciente – à concepção de que o Universo é uma espécie de aldeia ampliada.
Essa ideia, da vila ou da família como microcosmo da Natureza, tem consequências tão graves quanto interessantes. Como o sucesso e a sobrevivência, dentro de uma estrutura social humana, dependem da capacidade de cada um de nós em afetar favoravelmente o comportamento das pessoas ao nosso redor – seja conquistando sua boa vontade, comprando seus serviços ou nos impondo pela força –, o mapeamento da aldeia sobre o Universo produz a imagem de um cosmo habitado por entidades que devem ser aduladas, conquistadas ou coagidas para que o indivíduo possa prosperar. Superstição, magia e religião são consequências lógicas desse quadro mental.
Outro efeito da projeção do provincianismo humano sobre o todo é a intuição profunda de que tudo serve a uma finalidade – todas as coisas e fenômenos têm “causas finais”, para voltar a Aristóteles: representam esforços em direção de alguma coisa.
E por que não? Atividades humanas têm finalidades, artefatos humanos são projetados e depois construídos para servir a algum fim, ter um propósito na vida é visto como algo desejável e indicador de sanidade mental. “Despropositado” é sinônimo de “absurdo”, e ações humanas que contrariam os propósitos explícitos de quem as pratica são vistas como sinal de hipocrisia ou de irracionalidade. E se o macrocosmo reflete o micro...
Boa parte do pensamento sobre evolução biológica que existia antes de Charles Darwin (1809-1882) e Alfred Russell Wallace (1823-1913) surgirem com a ideia de seleção natural girava em torno do conceito de finalidade.
Mais do que a herança de características adquiridas, por exemplo, a hipótese de evolução elaborada por Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) distinguia-se da de Darwin por propor que os seres vivos buscavam, por uma espécie de “vontade própria”, ganhos de complexidade e sofisticação, aproximando-se gradualmente de um estado ideal.
Ainda no início do século 19, a escola da “anatomia transcendental” propunha que as homologias – estruturas anatômicas semelhantes – entre o ser humano e outros animais representavam a busca pela natureza de uma forma ideal: se hoje as homologias são entendidas como pistas sobre o passado, sinais de ancestralidade comum, antes de Darwin eram interpretadas como evidência de um plano, talvez de um vislumbre de futuro. Cada estrutura homóloga seria uma tentativa diferente de atingir a meta estética da Natureza.
Muitos anatomistas transcendentais buscavam, da dissecação de corpos humanos e de outros animais, e na comparação entre as estruturas e níveis de desenvolvimento encontrados, a chave para os segredos mais íntimos da vida e as leis últimas da natureza. No imaginário popular e até na mente de vários cientistas da época, a anatomia de 200 anos atrás ocupava um espaço muito semelhante ao que a genética ocupa hoje. Não é por acaso que Victor Frankenstein encontrou o segredo da criação da vida conduzindo pesquisas em sepulcros e necrotérios.
Depois de Darwin, o pensamento finalista foi, ao menos formalmente, substituído pelo de pressão seletiva: não é que o indivíduo ou a espécie (ou a Natureza) busquem ou almejem algo; é o ambiente que, atuando sobre a variação fenotípica natural, conduz a espécie por certos caminhos.
A velha intuição, no entanto, resiste: sem perceber, muitas pessoas – incluindo vários cientistas e profissionais de áreas intimamente ligadas à ciência, como médicos – passam a olhar para espécies como se tivessem “a intenção” de superar pressões seletivas, e fossem até mesmo capazes de fazer planos antecipados, “adivinhando” consequências e pressões futuras, e preparando-se para elas.
Faz parte dessa família de erros a ideia, que parece ter se popularizado durante a pandemia e voltou a ganhar proeminência com o surgimento da variante ômicron, de que agentes patogênicos, como vírus e outros parasitas, tenderiam a tornar-se menos prejudiciais para a saúde do hospedeiro – menos letais e, no limite, inofensivos – com o passar do tempo. É certo que parece ser do interesse do parasita tornar-se menos violento: mantendo o hospedeiro vivo, móvel e saudável por mais tempo, o invasor consegue fazer mais cópias de si mesmo e espalhar-se para cada vez mais membros da população-alvo.
É verdade também que um parasita que mate o hospedeiro antes que ele consiga contagiar outros, ou que destrua os jovens da espécie hospedeira antes que eles tenham a oportunidade de se reproduzir, está colaborando para a própria extinção, mas ele não tem como saber ou prever isso. E a evolução é cega para interesses.
Um vírus ou outro tipo de parasita que mate os hospedeiros adultos – isto é, que provavelmente já deixaram descendentes viáveis – depois de ter completado seu ciclo de reprodução e contágio é tão “bem-sucedido”, em termos evolutivos, quanto um que não faz mal para ninguém e convive pacificamente com o hospedeiro por anos ou décadas.
Não há nenhuma lei da natureza dizendo que um tipo é mais provável que o outro, ou que a evolução “deve” direcionar a espécie parasita para uma modalidade, outra ou uma terceira (ou quarta, ou quinta...). Além disso, pressão seletiva não é a única regra do jogo: há ainda a deriva genética, quando um gene se torna prevalente numa população por acidente – no caso de vírus, podemos imaginar um gene de alta (ou baixa) letalidade presente na versão do vírus que um super-espalhador leva a um cinema lotado, no último dia de um festival internacional que reúne críticos e cinéfilos de todas as partes do mundo. Esse gene tem boa chance de se espalhar por todo o planeta, e por causa de um único evento fortuito.
Assim como a evolução não “tende” a produzir vida inteligente – ao contrário do que muita ficção científica, de qualidade variável, sugere por aí – ela também não “tende” a atenuar a virulência de parasitas. A evolução trabalha com o “bom o bastante”, não com o ótimo, não vê o futuro e nem faz planos de longo prazo.
Olhando para a questão sob outra perspectiva: se nem a espécie humana – que é capaz de especular racionalmente sobre tendências futuras e fazer planos – parece conseguir atuar de forma coordenada e eficaz para restringir o dano que causa ao ambiente de que sua existência depende, que chance teria um vírus?
Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência, autor de "O Livro dos Milagres" (Editora da Unesp), "O Livro da Astrologia" (KDP) e coautor de "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto), ganhador do Prêmio Jabuti, e "Contra a Realidade" (Papirus 7 Mares)
