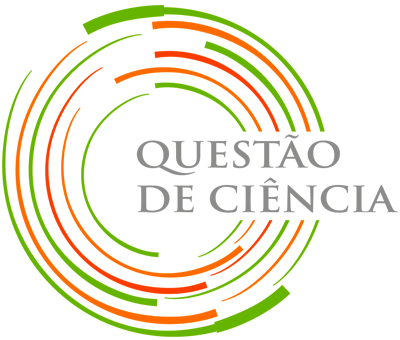Desde o início da minha carreira como docente em 2010, tive contato direto com as turmas de psicologia. Foi – e continua sendo – uma experiência enriquecedora, que me ensinou muito e ampliou radicalmente minha visão sobre comportamento humano e processos terapêuticos. Sempre me chamou a atenção, de maneira positiva, a forma como a psicologia busca integrar diferentes perspectivas – o famoso modelo biopsicossocial, os níveis filogenético-ontogenético-cultural, o impacto dos determinantes sociais de saúde etc. –, enfatizando que o ser humano não pode ser reduzido a um único nível de análise.
Mas, ao longo dos anos, algo me causou estranheza (e confesso que tem me causado cada vez mais): apesar desse discurso que, em teoria, busca integrar todos esses níveis de análise, basta citar ou aprofundar um pouco mais o componente “bio” (ou “filogenético”) para que surja um incômodo desproporcional na comunidade psicológica. Como se o psicólogo, ao reconhecer o componente biológico do ser humano, automaticamente estivesse desumanizando e reduzindo a psicologia a processos moleculares, bioquímicos, genéricos e aleatórios. Como se mencionar o cérebro colocasse em risco a subjetividade e a complexidade humana.
Foi exatamente esse fenômeno que observei, quase como uma experiência antropológica, ao me deparar com uma discussão espontânea em uma rede social dias atrás. Na ocasião, alguém havia afirmado que a psicoterapia poderia, de certa forma, ser vista também como um "tratamento biológico, uma vez que tem como consequência a reconfiguração de conexões sinápticas". A reação foi imediata e carregada de indignação: “Isso é reducionismo neurocientífico! É cientificismo! A psicoterapia vai além do nível molecular, operando na linguagem, na relação terapêutica e nas histórias de vida. Esse discurso ignora a dimensão subjetiva, cultural e relacional do sofrimento, além do impacto de fatores sociais, políticos e econômicos”.
Embora essa crítica seja compreensível, ela levanta um problema recorrente que precisa ser discutido. Afinal, a psicoterapia é também biológica, já que sem ajustes sinápticos não há aprendizado, nem memória entre as sessões, por exemplo. Isso significa que ela se reduz completamente ao biológico? É claro que não. Mas negar essa camada da realidade humana também não é prudente ou desejável. Ao tentar acrescentar essa perspectiva à discussão, fui surpreendido por um argumento curioso (e um tanto inusitado): “Isso entra na mesma lógica que andar de bicicleta, estender a mão pra chamar o ônibus, fazer sexo, soltar pum... é essencialmente biológico”.
Achei curiosa essa tentativa de refutar o que eu havia dito, principalmente porque ela se apoia na falácia do espantalho - quando se distorce um argumento original para torná-lo mais fácil de atacar. O uso do advérbio "essencialmente" na citação original introduz sorrateiramente a pressuposição de que certos níveis de descrição de um fenômeno seriam "meros detalhes", enquanto apenas um deles seria de fato "essencial". Esse deslocamento transforma um debate legítimo sobre a relevância do aspecto biológico da psicoterapia em uma falsa disputa sobre quem seria o verdadeiro “aspecto essencial". Mas essa pressuposição é falsa. Não existe um nível "essencialmente essencial". A determinação de qual nível é “essencial” depende do propósito e do foco da análise que se faz em um determinado momento.
Além disso, a comparação com atividades triviais como "estender a mão para chamar o ônibus" ou "soltar pum" cria uma falsa simetria, equiparando fenômenos radicalmente distintos apenas porque possuem um componente biológico, ignorando que nenhuma dessas atividades envolve um processo sistemático baseado na relação terapêutica, na reestruturação cognitiva/comportamental e na modulação emocional. O fato de o foco do terapeuta não estar diretamente nas conexões sinápticas não significa que elas não sejam modificadas ou mesmo que essa modificação não seja um aspecto biológico importante para o processo terapêutico.
Essa resistência em admitir o impacto biológico da psicoterapia não parece se limitar a um erro conceitual. Na minha visão – de alguém de fora da psicologia –, isso parece refletir uma curiosa disputa identitária dentro da área. O que ficou mais evidente quando surgiram comentários irônicos neste mesmo episódio, tais como: “Essa galera que é psicólogo, mas faz cosplay de médico ama falar que psicoterapia é tratamento biológico. Dizem que eles têm obsessão por uma música do Chitãozinho e Xororó...” – uma clara alusão à famosa canção Evidências.
A crítica implícita aqui é a de que mencionar sinapses seria uma tentativa de aproximar a psicologia da medicina e da neurologia, como se isso fosse uma ameaça à existência da psicologia como campo autônomo. Como se, ao admitir que a psicoterapia afeta o cérebro, estivéssemos afirmando que só médicos e neurocientistas deveriam estudá-la e que, portanto, psicólogos seriam dispensáveis. Esse tipo de pensamento ficou ainda mais claro em outro comentário que veio a seguir: “Se isso fosse realmente verdade, não haveria sentido na existência prática da Psicologia e do saber psicológico. Bastariam intervenções médicas e orgânicas”.
Mas, na prática, isso não se sustenta. O fato de a psicoterapia gerar mudanças cerebrais não significa que deva ser substituída por medicamentos ou eletroconvulsoterapia. Tampouco significa que os psicólogos precisam se tornar neurocientistas. Isso apenas reforça que comportamento e cérebro não são entidades separadas e que questões psicológicas, culturais e sociais também têm efeitos biológicos no organismo.
Na mesma ocasião, outros ainda argumentaram que "a causalidade orgânica é uma posição unilateral. Nenhum psicoterapeuta mexe em sinapse, não é sequer possível afirmar isso".
Esse argumento parte de uma premissa falsa: a de que um fenômeno pode ser considerado biológico apenas se alguém estiver manipulando diretamente uma estrutura biológica (neste caso, uma estrutura “neural”). Mas o fato de um psicoterapeuta não "mexer deliberadamente em sinapses" não significa que mudanças neurobiológicas não ocorram. Aprendizagem, mudança comportamental e regulação emocional são processos mediados por redes neurais. Obviamente fazer psicoterapia não é o mesmo que usar um medicamento, mas dizer que intervenções psicoterápicas não impactam o cérebro seria como dizer que aprender um novo idioma ou desenvolver uma nova habilidade motora não afeta conexões sinápticas – algo que sabemos ser falso.
O problema maior dessa discussão não é apenas um erro conceitual, mas a dicotomia artificial entre biologia e subjetividade. A ideia de que reconhecer um componente biológico implica reduzir a experiência humana a meros processos bioquímicos cria uma falsa oposição. Biológico e psicológico não são domínios rivais, mas dimensões interdependentes de um mesmo sistema. Compreender os mecanismos cerebrais que sustentam materialmente a experiência psicológica não a torna menos complexa - pelo contrário, amplia nossa compreensão sobre sua profundidade.
A maior ironia dessa discussão é que, ao tentar criticar o reducionismo, acaba-se recaindo em um reducionismo ainda maior: a exclusão desse componente biológico como parte legítima dessa complexa equação. A neurociência não é concorrente da psicologia. É uma aliada. A psicoterapia não precisa ser desprovida de bases biológicas para ser legítima, assim como um psicólogo não precisa manipular neurônios deliberadamente para produzir efeitos neurobiológicos.
A verdadeira integração do conhecimento não ocorre eliminando camadas da realidade, mas compreendendo como elas se sobrepõem e interagem. Fugir desse debate nos aprisiona em uma visão fragmentada da mente humana. A psicologia sem a neurobiologia perde sua base concreta e corre o risco de se tornar um discurso solto; a neurobiologia sem os demais componentes da psicologia ignora a complexidade humana e se reduz a um determinismo mecanicista que não dá conta da pluralidade da experiência subjetiva.
O avanço real não está em escolher um lado como em uma disputa ideológica, mas em compreender a interação dinâmica entre ambos. Não é nos extremos do reducionismo biológico ou da negação da biologia que encontraremos respostas mais precisas sobre a mente humana, mas sim no ponto de convergência entre essas áreas – e é ali que deveríamos estar olhando.
André Bacchi é professor adjunto de Farmacologia da Universidade Federal de Rondonópolis. É divulgador científico e autor dos livros "Desafios Toxicológicos: desvendando os casos de óbitos de celebridades" e "50 Casos Clínicos em Farmacologia" (Sanar), "Porque sim não é resposta!" (EdUFABC), "Tarot Cético: Cartomancia Racional" (Clube de Autores) e “Afinal, o que é Ciência?...e o que não é. (Editora Contexto).